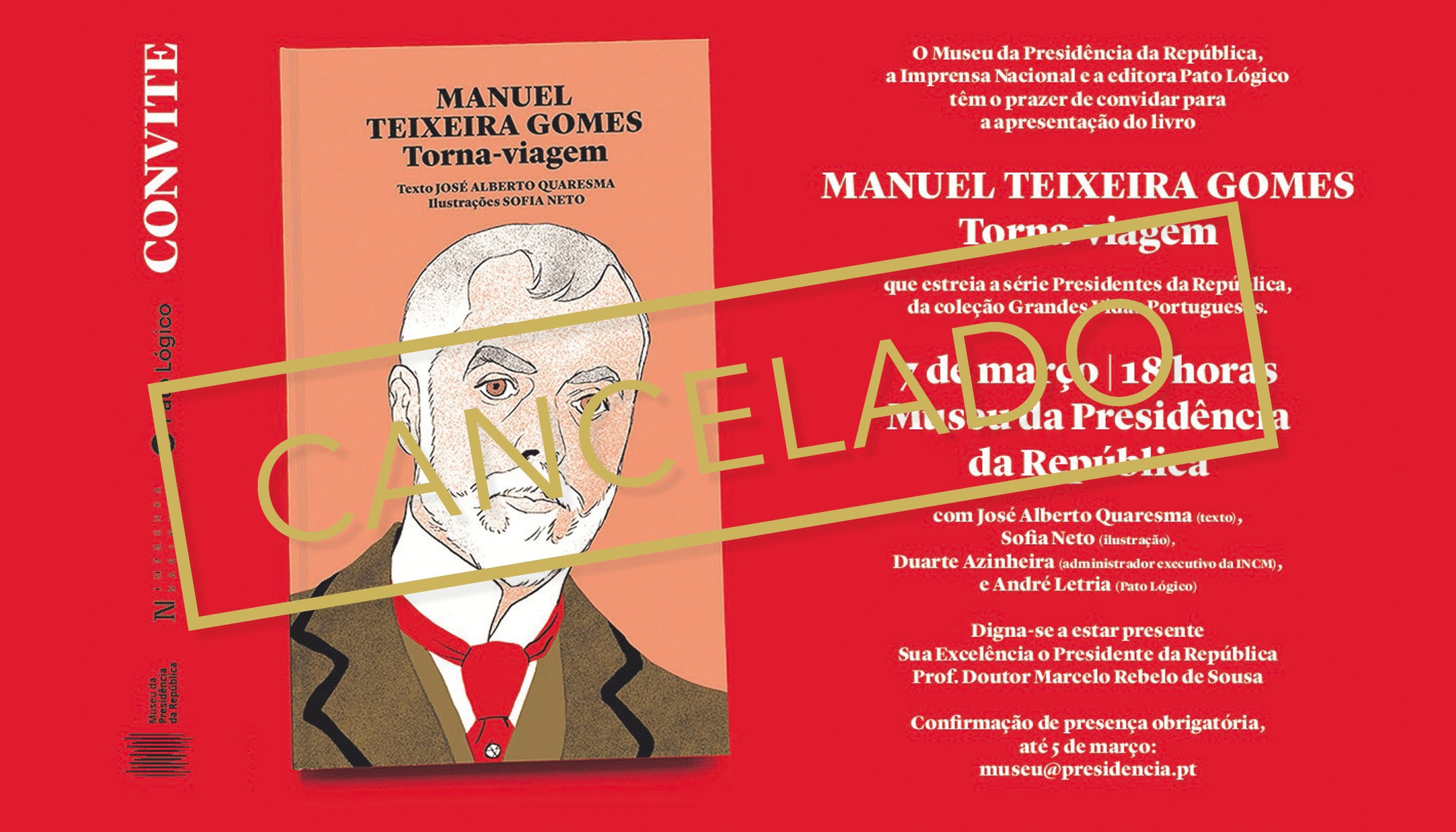Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
Jorge Barreto Xavier em entrevista — «A Arte deve ser outra vez política»
Texto: Tânia Pinto Ribeiro
Fotografias: Rita Assis Santos
«A arte faz parte de um exercício estatutário da nossa condição humana.» E por isso mesmo Jorge Barreto Xavier levou a arte às escolas e os artistas portugueses ao mundo, estando na génese de programas como PAIDEIA, Passaporte Cultural ou INOV‑ART. Na década de 1990 reabilitou parte da Fábrica da Pólvora, no concelho de Oeiras, e criou o Lugar Comum, o primeiro centro integrado de experimentação artística em Portugal. Nasceu em Goa e por lá passou os seus cinco primeiros anos de vida — anos que lhe moldaram as primeiras memórias, experiências e afetividades. Depois, rumou até à Guarda e, mais tarde, à Universidade de Lisboa, onde viria a licenciar-se em Direito — um saber «sempre precioso» e capital para «quem ocupa lugares públicos». Estudou também gestão das artes e ciência política. Foi secretário de Estado da Cultura, diretor-geral das Artes, diretor-geral da Bienal de Jovens Criadores da Europa e do Mediterrâneo, esteve à frente do pelouro da Cultura na Câmara Municipal de Oeiras e foi membro de diversas redes europeias de cultura e educação. Não necessariamente por esta ordem. Gestor cultural e professor universitário, Jorge Barreto Xavier é alguém que pensa a Cultura e reflete sobre as Artes. E diz que o primeiro desafio para se ser gestor cultural em Portugal é «ter uma visão para a cultura», considerando «gravíssimo» pensar-se que qualquer gestor, por ser gestor, possa também ser gestor cultural. Refere como outro dos problemas sérios do País a falta de uma cultura de mérito: «Temos uma cultura muito clientelar e funcionamos muito por grupos.» Diz que nunca trabalhou em função da «partidarite», mas sim em função da «meritocracia», e tem esperança de que uma geração mais nova esteja disposta a trabalhar assim também. Exceto na área da política, onde julga que «as gerações se replicam umas às outras». Jorge Barreto Xavier nunca achou que o objetivo fundamental da cultura fosse o de dar retorno económico e considera «um perigo» apoiar-se ou desenvolver-se atividades na área da cultura apenas quando estas dão lucro. «Isso é um erro imenso!», afirma. «A cultura é um substantivo e não um adjetivo», mas, claro, não se pode descartar que «uma das possibilidades é a correlação da cultura com a economia». E com o turismo também. Recusa-se a definir a cultura portuguesa em três ou em quantas palavras for porque é «impossível verbalizar, num discurso, uma cultura de uma nação no seu todo». E lança, em jeito de pergunta, a comparação: «Porque é que para várias religiões o nome de Deus é impronunciável?» E responde: «Porque o seu nome é maior do que a nossa possibilidade de o pronunciar.» Para Jorge Barreto Xavier, um dos mais importantes instrumentos para a afirmação da cultura portuguesa no mundo é a língua portuguesa, uma promoção que deverá passar por uma grande aposta na «área do digital». Mas atenção!, Portugal não pode assumir uma política para a língua na «óptica de proprietário», porque «a língua portuguesa não é só nossa». Também a arte não pode ser vista apenas por um olhar unilateral, porque «todo o dom, todo o artista e toda a obra têm um papel importantíssimo». E se Jorge Barreto Xavier está intrinsecamente ligado às artes contemporâneas, não esquece que «o grau de emoção estética que dada obra nos pode causar não depende da sua época». Isto porque «não existe progresso em arte». Existe, sim, «arte mais e menos conseguida, em todos os tempos da existência humana». Na verdade, nada do homem pode ser «considerado superior ou inferior» pela sua definição formal. «A excelência das coisas está definida na sua concretização e no pensamento que lhe é inerente.» Jorge Barreto Xavier, que este ano verá publicado o seu livro Alexandria pela editora pública, não sabe se a crítica de arte é o pior inimigo da arte — como declarou Kandinsky —, mas sabe que «por vezes os críticos de arte e também os comissários e programadores artísticos» o são. Diz que os prémios Nobel não representam necessariamente o estado da arte mas sim uma «declaração simbólica de destaque de certas formas de expressão». E de elevação também — sempre com uma «componente política muito elevada». E já que estamos em tempo de Óscares da Academia… Será que Lang, Bergman, Fassbinder, Truffaut, Oliveira, Kurosawa, Xie Jin, precisaram da estatueta dourada para fazerem história na sétima arte? Jorge Barreto Xavier responde-nos.
PRELO (P) — Estudou direito mas é à cultura que se tem dedicado…
Jorge Barreto Xavier (JBX) — Sim, estudei direito, mas estudei também gestão das artes e ciência política.
P — De que maneira é que o direito lhe é útil nas suas funções de gestor cultural?
JBX — Foi sempre precioso. Nunca quis praticar a profissão de jurista, fiz o curso de Direito deliberadamente para ter uma maior perceção da sociedade e da operação em sociedade. O Direito dá uma formação em finanças públicas, em história económica, em filosofia do direito, em relações internacionais, na óptica das instituições públicas nacionais e internacionais, o funcionamento do Estado. O Direito é um curso muito propedêutico para quem quer trabalhar em sociedade. Foi mais pelo lado dessa formação académica propedêutica que quis fazer o curso de Direito. E em todas as funções que ocupei teve para mim um papel determinante na possibilidade de tomar decisão de uma forma mais rápida e também consistente. Nos lugares públicos a perceção do direito é fundamental.
P — Quais são os principais desafios de se ser gestor cultural em Portugal?
JBX — O primeiro desafio é ter uma visão para a cultura. Acho gravíssimo pensar-se que qualquer gestor, por ser gestor, também possa ser gestor cultural. Qualquer coisa do género: alguém que foi gestor da TAP ou de um hospital depois passa a ser o diretor-geral do Património, indo aplicar a receita da gestão da TAP ou do hospital X na Direção-Geral do Património Cultural, a DGPC. As coisas não são transponíveis dessa forma. A dinâmica da gestão da cultura não é uma dinâmica exclusivamente económica. Pode e deve ter uma lógica que tem em consideração o facto de todos os bens serem escassos e de a produção de utilidade ser elemento central da gestão — e aqui falamos de conceitos económicos —, mas não pode ser confinado a isso. Logo, ter uma visão cultural é essencial para se ser gestor cultural. Depois, tem de ter uma formação técnica nas áreas que vai gerir. Finalmente, tem de ter um grau de motivação. É um erro em qualquer área ter pessoas a fazer a gestão se não tiverem motivação para o fazer.
P — Foi membro de diversas redes europeias de cultura e educação. Acha que ao nível das políticas culturais estamos em pé de igualdade com outros países europeus?
JBX — Estou em crer que essa pergunta tem muitas possibilidades de resposta. O que significa, no fundo, estar em pé de igualdade? O grau de sofisticação das políticas? Os montantes financeiros disponíveis? O resultado da aplicação das políticas?
P — Faça-nos um apanhado geral…
JBX — Somos um país com uma história cultural de séculos! E a história cultural não é só uma história da cultura através da decisão da administração ou dos governos. Quero com isto dizer que, por vezes, há um reducionismo ao fazer-se uma análise da história cultural só através da história da cultura decisória da administração ou dos governos. Qualquer análise comparativa com outros países europeus deve tomar em conta a componente da administração e das políticas públicas, mas deve também tomar em conta a atividade cultural em geral.
JBX — A evolução das políticas públicas em Portugal dos séculos XIX, XX e XXI acompanhou, em geral, as políticas culturais europeias, apesar de ter aspetos específicos que dizem respeito à nossa história.
P — Quer referir algum momento em particular?
JBX — Os eventos do fim da Monarquia e da I República, do Estado Novo e do pós-25 de Abril condicionaram estruturalmente o nosso contexto em relação com coisas que aconteceram noutros países europeus. Por exemplo, o facto de não termos sofrido a situação da II Guerra Mundial enquanto país beligerante — Portugal foi um país neutral durante a II Guerra Mundial… Tivemos impactos diferentes, na perceção da cultura, daqueles que atingiram os países beligerantes.
 |
| O pintor Duncan Grant (à esquerda) com o economista John Maynard Keynes (à direita), em 1913. Keynes foi nomeado 1.º presidente do Arts Council of Great Britain, em 1946, pouco antes de falecer. |
P — Como por exemplo?
JBX — Olhe, por exemplo, o caso do Reino Unido. O Reino Unido acaba por criar um conselho de artes depois da II Guerra Mundial, e já nos anos 1950 a França cria o seu ministério da cultura. Estas ações são tomadas na perceção, que também deu origem à criação da UNESCO, de que a cultura era uma reação essencial do pós-guerra para a construção da paz. No caso português, essa perceção não existiu. Porque nós não estávamos numa situação de guerra.
P — Tivemos depois… a guerra colonial.
JBX — Sim, mas os impactos do pós-guerra em Portugal são obviamente diferentes dos impactos dos países beligerantes. E, por isso, havia um dispositivo cultural associado à chamada «cultura do espírito», que vinha já desde os anos 1930, em que o dispositivo cultural do Estado fazia parte de uma política, se quiser, de manipulação do espírito: a associação à propaganda; à ideologia… na qual, naturalmente, o recomendável e, para mim, o ideal, no pós-25 de Abril, é que isso não aconteça.
 |
| Em França, o Ministério da Cultura foi criado em 1959, pelo presidente Charles de Gaulle, que nomeou o escritor André Malraux (na fotografia) ministro de Estado e da Cultura. |
P — E acha que acontece?
JBX — Creio que, em geral, isso não acontece. Há uma grande liberdade de criação e expressão em Portugal desde 1974. Também há, por vezes, condicionamentos das organizações culturais tanto pelos limites financeiros dos apoios públicos como também — não podemos ignorá-las — porque continuam a existir em Portugal redes clientelares, mais ou menos manifestas. E também existem redes de gosto que já não são por uma questão de ideologia política marcada, mas por uma questão de preferências que, por vezes, não dizem respeito ao serviço público, onde as decisões não são necessariamente aquelas que deveriam ser mais equilibradas. Isto em termos gerais.
P — Quer dar exemplos?
JBX — Não vou dar exemplos porque é muito difícil descortinar no concreto o que estou a dizer. As políticas culturais na área da cultura foram-se sofisticando e alargando depois do 25 de Abril de 1974. Temos hoje um dispositivo sofisticado, de facto, a nível nacional e com parâmetros de trabalho a nível nacional, regional e local. Tanto as regiões autónomas da Madeira e dos Açores como os 308 municípios do País, como a administração central do Governo e da República têm dispositivos de política cultural. Vivemos hoje, como vivemos desde o fim do século XIX e ao longo de todo o século XX, com limitações sérias porque as nossas aspirações coletivas na área da cultura são maiores do que as nossas condições financeiras para as cumprir.
P — Nasceu em Goa. Essa origem tem alguma influência na sua personalidade enquanto gestor cultural?
JBX — Enquanto gestor cultural, creio que não. Agora que tem influência na minha personalidade tem.
P — De que maneira?
JBX — Nasci e vivi, até aos 5 anos, em Goa. Tenho memórias do contexto em que nasci e desses anos da primeira infância, que obviamente são anos marcantes para qualquer pessoa. São anos que moldam as nossas primeiras memórias, experiências, afetividades, a nossa perceção do mundo. Portanto, certamente consciente e inconscientemente há aspetos daquilo que sou que tem a ver com esses primeiros anos. Agora, não há nada no meu trabalho cultural que tenha uma orientação específica pelo facto de ter nascido em Goa. Não tenho nenhuma preferência pelo trabalho de artistas goeses ou nenhuma intenção mais prioritária por projetos culturais em Goa.
P — Mas tem interesse por trabalhos de artistas goeses. Conhece-os?
JBX — Conheço. Aliás, tenho família e casa em Goa. Tenho uma ligação pessoal com Goa.
P — Que artistas goeses é que salienta?
JBX — Não considero, nem nunca considerei, as artes a nível regional. A atividade artística nunca é, na minha perspetiva, uma atividade que possa ser delimitada pela fronteira territorial. Há artistas bons e maus em todo o mundo.
P — Mas quando se está em cargos públicos tem-se responsabilidades específicas…
JBX — Claro! Quando temos responsabilidades públicas, como tive em determinados momentos, temos responsabilidades mais específicas, nomeadamente na promoção da arte portuguesa, porque somos portugueses. Agora não podemos fazer uma análise das artes por serem portuguesas, espanholas, italianas ou goesas…
 |
| Mapa da Cidade de Goa c. 1600, por Jan Huygen van Linschoten (1563-1611).
Amesterdão: Ed. Cornelis Claesz, 1596 (imagem cedida por Jorge Barreto Xavier).
|
P — A presença portuguesa em Goa é bastante significativa…
JBX — Sem dúvida! Tem-se perdido ao longo dos anos, mas é uma presença significativa. Por exemplo, na arquitetura e na forma como se fala o concani, a língua oficial de Goa. Também existe religião católica em Goa, porque os Portugueses passaram por lá.
P — A religião foi durante muito tempo um grande veículo de cultura.
JBX — A religião não é por natureza um veículo de cultura, é um veículo de religião. Mas obviamente a religião é um fenómeno cultural e uma das manifestações da religião é a arquitetura religiosa, a arte sacra… Naturalmente, qualquer religião tem uma componente cultural forte e manifestações culturais. Portugal, ao veicular a religião católica em Goa, deixou também uma marca cultural por essa via. Ao nível da arquitetura civil, ou da gastronomia, ou da língua, nomeadamente deixou também uma série de marcas.
P — Criou o programa de estágios INOV-ART. Desses estagiários há já algum nome que sobressaia no mundo artístico?
JBX — Muita gente!
P — Quer destacar alguns nomes?
JBX — Não, porque seria injusto. Mas quero dizer-lhe que o programa INOV-ART funcionou de 2009 a 2011 e infelizmente não continuou. Quando o programa começou, o ministro era o José António Pinto Ribeiro e eu era o diretor-geral das Artes. O programa visava um período de dez anos e foi um projeto que revelou um grupo de jovens portugueses com um grau de qualificação como nunca em Portugal existiu antes: uma geração profundamente qualificada, pessoas com um nível de formação técnica elevadíssima, gente com um grau de inteligência e motivação muito grande, uma geração extraordinária. Dessa geração foi possível destacar algumas centenas de pessoas para estágios internacionais por cidades de mais de 30 países: desde o Japão a Moçambique, da Argentina à China, da Austrália ao Canadá… Foi, de facto, um projeto global em termos de possibilidade de presença. Vários dos estagiários do INOV-ART ficaram a trabalhar nesses países e em lugares de destaque, seja nas artes visuais, na arquitetura, na música… Foi um investimento público com grande retorno. Tenho pena que não tenha sido continuado.
P — Então, porque é que quando esteve no Governo não deu continuidade ao programa?
JBX — Estive no Governo num período particularmente difícil da vida portuguesa. Tinha-se pedido a intervenção da troika. O governo anterior àquele a que pertenci assumiu um conjunto de compromissos de redução da despesa pública que foram depois aplicados pelo nosso governo. Esses compromissos estavam assumidos, não foram coisas novas.
P — Como foi gerir a então Secretaria de Estado da Cultura, durante esse período de intervenção externa?
JBX — Tinha uma margem de manobra muito pequena, mas fez-se muita coisa. Quero, porém, recordar que em 2015 o orçamento para a Cultura foi superior ao orçamento que houve em 2016, já depois da saída da troika e com o atual governo. O que também cria preocupação para o modo de continuar a desenvolver projetos na área da cultura.
P — Sente que os Portugueses estão desvinculados da vida política portuguesa?
JBX — Isso está associado a outro problema sério do País. E esse problema sério é a falta de uma cultura de mérito. Temos uma cultura muito clientelar e funcionamos muito por grupos. Se o meu amigo me ajuda nisto… Se o meu partido me ajuda naquilo… Se a minha associação, seja a Maçonaria ou a Opus Dei, me ajuda aqui ou ali… Isto parece ser mais valioso do que saber se a pessoa é competente ou incompetente. E como se está, muitas vezes, mais à espera da ajuda do grupo clientelar do que trabalhar para fazer bem… Tem de haver um exercício de escrutínio, escrutínio que não vale só para alguns, deve valer para todos! Há um exercício geral de desculpabilização na sociedade portuguesa.
P — Não acha que está aí uma geração mais nova disposta a fazer diferente?
JBX — Espero que sim! Mas na área da política julgo que as gerações se replicam umas às outras.
P — Porquê?
JBX — Porque a máquina dos partidos tem lógicas de legitimação que não são necessariamente as do mérito.
P — Da Islândia chega-nos um exemplo alternativo e que parece estar a funcionar…
JBX — Mas a Islândia tem trezentos e tal mil habitantes, e onde a prática de uma democracia direta, mais do que uma democracia representativa, é tecnicamente possível. Em países com milhões de habitantes, mesmo pequenos, como é o caso de Portugal, a democracia direta não é possível. É preciso que seja representativa. Isto significa que há vários patamares de poder, e, quando assim o é, as coisas não passam necessariamente pelo mérito mas pelos sindicatos de votos, pelos sindicatos de poder. Ou seja, as redes de influência valem mais pela oferta de oportunidades do que pelos seus méritos. E essa lógica está muito instalada no sistema partidário, independentemente dos partidos.
P — Quando foi secretário de Estado da Cultura que critério utilizou na escolha do pessoal nomeado para o gabinete?
JBX — Escolhi-os pelo valor do seu mérito e posso falar disto com à vontade. Porque isto é escrutinável. Tal como os diretores-gerais que nomeei. Tanto é assim que muitos deles continuam. Não trabalho em função da «partidarite», mas sim em função da meritocracia. Nos lugares públicos, o nosso dever primeiro é o serviço público.
P — E, logo, o bem público…
JBX — Sim, o bem de todos. E só com muito atrevimento e descaramento se pode achar que qualquer lugar público pode ser utilizado para outra coisa que não seja para isso.
P — A seu ver, a cultura pode dar retorno económico?
JBX — Pode. Nunca achei, nem acho que o objetivo fundamental da cultura seja dar retorno económico. Aliás, acho que é um perigo muito grande dizer-se que só se pode apoiar ou desenvolver coisas na área da cultura quando elas dão lucro. Isso é um erro imenso! Disse, e continuo a dizê-lo, que a cultura vale por si própria, mas uma das componentes da cultura é a economia, como é a educação, a política, a religião ou como é a ciência… Não podemos esquecer que a cultura é um substantivo, não é um adjetivo. E, portanto, uma das possibilidades é a correlação da cultura com a economia. Transformar a cultura num mero exercício de mercantilização é um erro imenso.
P — Como analisa o caso português?
JBX — No caso português, a geração das chamadas indústrias criativas, da relação da cultura com o turismo são muito importantes.
P — E são relações que se estão a estreitar bastante de há uns anos a esta parte. Vê vantagens?
JBX — Sim, estão a desenvolver-se bastante e têm vantagens. Não nos podemos esquecer de que quando fazemos um bom trabalho, por exemplo, de conservação do património — pelo património —, haverá um resultado indireto de aproveitamento do património para o turismo. Mas nós não estamos a conservar o património por causa do turismo. Estamos a conservar o património por causa do património. E isso tem um efeito na economia.
P — Como define, em três palavras, a cultura portuguesa?
JBX — Isso não é possível! Felizmente que há coisas mais complexas do que aquelas que se podem definir em três palavras! [risos]
P — Como define a cultura portuguesa?
JBX — Não defino a cultura portuguesa. Julgo que uma das coisas impossíveis de verbalizar, num discurso, é uma cultura de uma nação no seu todo. Por exemplo, porque é que para várias religiões o nome de Deus é impronunciável? Ou porque é que não é possível fazer-se o desenho da figura de Deus? Porque se considera que a complexidade e a totalidade a que corresponde o conceito da figura de Deus seria um atrevimento desenhá-lo ou dizer o seu nome. O Seu nome é maior do que a nossa possibilidade de o pronunciar.
P — Se pedir o desenho de Deus a uma criança, a criança vai fazê-lo!
JBX — O que quero dizer é que há certos dispositivos que pela sua natureza são impronunciáveis. Não tenho o atrevimento de definir a cultura portuguesa! [risos]
P — Qual pensa ser a melhor estratégia para a promoção da cultura da língua portuguesa?
JBX — Saiu agora um atlas da língua portuguesa, não é?
P — Exatamente, chancela INCM.
JBX — A língua portuguesa é um dos mais importantes instrumentos para a afirmação da cultura portuguesa no mundo, sendo que a língua portuguesa não é só nossa. Pertence a um conjunto de Estados de vários continentes. Não é possível Portugal assumir uma política para a língua na óptica de proprietário, porque não é proprietário da língua. Dito isto, a língua é um veículo e uma matriz fundamental para a presença da cultura portuguesa no mundo no século XXI.
P — E as estratégias para a promover?
JBX — Defendo que essa promoção implica um grande trabalho na área do digital. Isto é, a presença da língua portuguesa nos motores de busca e no modo como se estrutura na Internet. Isto porque, obviamente, os conceitos em língua inglesa ou em mandarim sobre palavras como «bem» e «mal», «história» e «cultura», «saudade» ou outros são conceitos que não são meras traduções do mesmo conceito. São conceitos que dependem da língua e da estratégia de poder associada a essa língua. Na óptica da normalização através do inglês, a reivindicação de um dispositivo plural por via da língua portuguesa é essencial.
P — O Jorge Barreto Xavier está muito ligado à arte contemporânea. Qual é a receita para se apreciar a arte contemporânea?
JBX — A arte contemporânea tem códigos de adesão que são eventualmente mais sofisticados do que os códigos que levaram à presença da Arte, nomeadamente no Ocidente, até ao fim do século XIX. As dinâmicas académicas e academistas eram dinâmicas que criavam um ato relacional entre o público da arte e o objeto artístico baseados na ideia de beleza.
P — E, é sabido, a arte não é só beleza…
JBX — Não, a arte não é só beleza. O conceito de beleza era o conceito dominante da ordem estética, mas a ordem estética altera-se significativamente a partir do fim do século XIX… e mais ainda a partir da década de 1920.
P — Mais uma vez depois de uma grande guerra…
JBX — Nesses anos, passa a existir uma lógica em que o artista é ele próprio quem define o que é arte. «A arte é o que eu quero que seja.» Ora, a partir do momento em que o artista se assume competente para, para lá de uma linguagem mais universal, definir o objeto, isso vai criar um problema de descodificação. Portanto, a arte contemporânea está inscrita na necessidade da perceção dos códigos inerentes ao objeto, onde há sempre uma narrativa e uma metanarrativa associada a esse objeto. Isto torna mais difícil a apreensão e coloca-nos um problema que é, ele próprio, um problema contemporâneo.
P — Que é?…
JBX — Todos os objetos da sociedade contemporânea (as imagens de televisão, a maneira como nos vestimos, os comportamentos, os gostos…), apesar de serem, hoje em dia, muito imediatos e parecerem evidentes, têm atrás da narrativa uma metanarrativa. O mesmo espírito crítico que é necessário para trabalhar a apreensão da arte contemporânea é essencial para trabalhar a apreensão do mundo em geral. Por isso, a arte contemporânea é, ela própria, um desafio e uma proposta profundamente correlativa ao mundo em que vivemos. Pena é que quem procura apreender um objeto de arte contemporânea com maior competência não perceba que essa mesma competência tem de ser posta ao serviço da apreensão do mundo no seu todo. Quando, por vezes, se acha que um objeto de arte contemporânea é de difícil compreensão, e que a leitura de uma notícia, ou a decisão em quem se vota, ou a apreciação da maneira de como nos vestimos é mais fácil, não é. São tão aliens essas decisões como a compreensão de certos artistas que consideramos indecifráveis.
P — Gilles Deleuze dizia: «O que me interessa são as relações entre as artes, a ciência e a filosofia. Não há nenhum privilégio de uma destas disciplinas em relação a outra. Cada uma delas é criadora. O verdadeiro objeto da ciência é criar funções, o verdadeiro objeto da arte é criar agregados sensíveis e o objeto da filosofia, criar conceitos. A partir daí […] podemos formular a questão dos ecos e das ressonâncias entre elas.» A seu ver, como é que estes «ecos» e estas «ressonâncias» se exprimem na contemporaneidade?
JBX — Concordando plenamente com a afirmação de Deleuze. É impossível responder à sua pergunta, porque os «ecos» e «ressonâncias» entre as artes, a ciência e a filosofia são múltiplos, a diferentes níveis, com diversos elementos que se cruzam à partida, com várias conexões de processo e vastas manifestações de resultados. Uns são implícitos, outros são explícitos. Uns são determinantes, outros são meramente correlacionáveis… E por aí fora…
 |
|
Gilles Deleuze, que nasceu em Paris em 18 de janeiro de 1925, é considerado um dos maiores filósofos do século xx.
|
P — Quer dar-nos pistas de artistas contemporâneos no domínio das artes visuais, por exemplo?
JBX — Nas artes visuais, acho que artistas como por exemplo o Vhils… São artistas que valem a pena ser refletidos, porque conseguem sintetizar o sentido da vida urbana e do território com o exercício da participação e de uma proposta estética. Hoje, a Arte deve ser outra vez política.
P — A arte não foi sempre engagée?
JBX — Houve anos, décadas, em que a arte era muito a arte do artista. Qualquer coisa do género «Eu apresento o meu mundo». Hoje a arte deve ser mais crítica, ou seja, deve ser analítica, interpretativa e propositiva em relação ao mundo em que vivemos. Esse vínculo na relação com o mundo é muito importante. Este tipo de arte (mais política) tem muito interesse para o momento que vivemos. Não estou a dizer que as outras não o tenham. Todo o dom, todo o artista e toda a obra têm um papel importantíssimo. Não se pode olhar para a arte de uma forma unilateral. Quando falo num sistema de preferências, é só nesta óptica. Há objetos artísticos que, sendo formalistas ou até obedecendo a critérios clássicos, merecem a maior das atenções.
P — É possível encontrar uma definição universal para uma experiência tão subjetiva e também tão sensível que é uma obra de arte?
JBX — Creio que não. Poderá encontrar-se uma definição do processo — aproximação ao objeto, apropriação; articulação entre emissor e recetor, etc. —, mas a experiência do objeto é tão plural como cada pessoa que com ele se relaciona. Naturalmente, quando somos enquadrados por sistemas de educação, sistemas de «gosto», existem reações padronizadas, mas mesmo nessas podem ser encontradas variações.
 |
|
Alexandre Farto, aliás Vhils, sensação da street art, no seu ateliê de Hong Kong (fotografia: Leo Kwok).
|
P — Pode pensar-se numa pintura renascentista da mesma maneira que se pensa numa pintura rupestre, por exemplo? Porquê?
JBX — O grau de emoção estética que dada obra nos pode causar não depende da sua época. Não existe progresso em arte — existe arte mais e menos conseguida, em todos os tempos da existência humana.
P — Kandinsky declarou que a crítica de arte é o pior inimigo da arte. Concorda? A seu ver, as obras de arte necessitam de explicações complementares para serem compreendidas? Ou as obras de arte são autossuficientes?
JBX — Não sei se a crítica de arte é o pior inimigo da arte, mas por vezes os críticos de arte e também os comissários e programadores artísticos são-no. Kandinsky, um dos maiores artistas e pensadores sobre arte da sua geração, não precisava de quem «afeiçoasse» o seu trabalho. A mediação de críticos, curadores e programadores foi, ao longo do século xx, limitando o trabalho artístico. Hoje, há críticos, comissários e programadores mais importantes no sistema artístico do que os artistas. Se comparássemos o sistema artístico atual à produção de sabões, diríamos que os artistas fazem o sabão, os programadores embalam-no e os críticos distribuem-no, cabendo aos primeiros 10%, aos segundos 60% e aos terceiros 30%. Esta caricatura serve para dizer que considero haver uma sobreapreciação do papel dos programadores, curadores e críticos (sem negar a relevância da sua presença) e uma depreciação do papel dos artistas, no âmbito do sistema artístico.
 |
|
Amarelo-Vermelho-Azul, óleo sobre tela, de 1925, do russo Wassily Kandinsky. Centre Georges Pompidou, Paris.
|
P — Está na génese do primeiro centro de experimentação artística em Portugal: o Lugar Comum, na Fábrica da Pólvora, em Barcarena.
JBX — Foi um trabalho magnífico! E quando falo em «magnífico» falo do trabalho, da experiência que foi para mim, e não do resultado. Longe de mim estar a adjetivar como magnífico o resultado do meu trabalho. Se o trabalho é bom ou mau, deve ser escrutinado pelos outros. A experiência para mim foi magnífica. Primeiro tivemos de tirar da ruína alguns edifícios e pô-los de pé. Depois, tive de desenhar a programação e a atividade. Foi, de facto, uma experiência muito interessante.
P — E já lá vão 20 anos…
JBX — Já! O tempo passa depressa! Este projeto, ao contrário de outros projetos que fiz, visou criar um espaço laboratorial sem a necessidade de apresentar um resultado final. O que significou a possibilidade de se estar em processos de criação de técnicas e de pensamentos que poderiam resultar em espetáculos, exposições, objetos… ou não. Procurava-se o aprofundamento da experimentação artística. O Lugar Comum infelizmente acabou. Nós não controlamos os passos das organizações e das coisas quando não estamos lá. Gostava que tivesse continuado, mas isso não aconteceu.
P — Em 1992 criou também o Programa PAIDEIA, através do qual se levou a animação artística às escolas secundárias do País. A seu ver, a arte deve ser vista como um complemento à formação escolar ou deve ser o cerne dessa mesma formação?
JBX — Creio que, no Ocidente, há uma divisão artificial, ao nível do que são as orgânicas dos governos, entre educação e cultura. Na minha perspetiva, a educação não vale por si própria. A educação é sempre uma educação em ordem a um objetivo. Não educamos por educar. Educamos para formar um certo tipo de pessoas. O objetivo da educação é sempre o de gerar um perfil educativo que tem, na lógica educativa, uma óptica somativa. No final de cada ano, avaliam-se as competências adquiridas; no fim de um período educativo, avalia-se um resultado final. O ensino básico, secundário, a licenciatura, correspondem a mecanismos de aferição de competências. Essas competências, obviamente, dizem respeito a objetivos. Uns são objetivos técnicos — ser-se capaz de exercer uma profissão específica; outros são objetivos de formação geral — ser-se capaz de se ter uma visão de si, dos outros e do mundo ao nível daquilo que consideramos, nomeadamente num país democrático, ser a capacidade individual e coletiva de exercer um espírito livre e crítico. A educação é um ato cultural. A educação não existe autonomamente da ideia de cultura. Por isso, a ligação entre a educação e a cultura é incidível. Falamos sempre da mesma coisa. Pensar a educação sem a cultura é um exercício impossível.
P — Enunciando o princípio em si, na prática, no dia a dia das escolas, isso passa-se assim?
JBX — Na prática há imenso a fazer. Não foi inocentemente que nomeei o projeto como PAIDEIA — Artes na Escola.
P — Paideia: o termo que designa a noção de educação na sociedade grega clássica…
JBX — Exatamente! Paideia é o conceito de um homem integral e integra exatamente a ideia de educação e a ideia de cultura na perspetiva da formação de um homem livre e do cidadão. E, nessa perspetiva, as artes têm um papel essencial na formação humana. Não é apenas mais um atributo para as crianças. A ideia das artes enquanto mero procedimento para a expressividade é um erro. As artes, obviamente, que contribuem para desenvolver as expressões dos indivíduos e das sociedades, mas as artes são muito mais do que um mero ato de expressão. As artes são um ato constitutivo da nossa natureza, um ato de excelência de manifestação de humanidade e são um elemento distintivo do homem. O homem não se distingue por ser capaz de construir casas, porque os pássaros também fazem os seus ninhos e as raposas as suas tocas. O homem também não se distingue pela distribuição de funções, porque, numa colmeia ou num formigueiro, as abelhas e as formigas também são capazes de distribuir as suas funções. O homem distingue-se por ter criação artística, ou pensamento religioso, ou organização política. Isto são elementos distintivos do homem. A arte faz parte de um exercício estatutário da nossa condição humana. Logo, a arte não pode ser colocada como um mero instrumento de entretenimento numa óptica de mercado. Pode estar presente no mercado, mas a arte é muito mais que o mercado. E, assim sendo, na formação humana e na escola pública a presença das artes é fundamental. Quando eu e um grupo de pessoas fizemos o PAIDEIA, entre 1992 e 1997, atingimos cerca de 200 mil estudantes em 180 escolas secundárias do País. Este foi só um sinal de defesa da presença das artes numa realidade mais consistente, que é a realidade do sistema educativo. Depois, fi‑lo também, mais tarde, através de um parecer com a Emília Nadal para o Conselho Nacional de Educação, em 1998, e que se chama «Educação estética e interiorização dos saberes».
P — E voltou a insistir nessa tecla?
JBX — Sim, voltei a insistir nessa tecla, em 2003 e 2004, quando fui coordenador da Comissão Interministerial Educação e Cultura. Como diretor-geral das Artes, propus o Passaporte Cultural, que foi um protocolo que se fez entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, e quando estive no Governo, como secretário de Estado da Cultura, criei um protocolo com o Ministério da Educação chamado «Estratégia Nacional Educação Cultura», que espero concretize exatamente estes objetivos de que estamos a falar.
P — Que acha da nomenclatura «artes superiores»/«artes inferiores»?
JBX — Isso não existe! Acho que é uma nomenclatura disparatada. Como também é difícil definir o que é cultura erudita e cultura popular. Nada do homem pode ser considerado superior ou inferior pela sua definição formal. A excelência das coisas está definida na sua concretização e no pensamento que lhe é inerente. A excelência das coisas não está definida formalmente numa hierarquia estatutária de superioridade ou de inferioridade. Ou seja, podemos dizer que há homens melhores do que outros na sua bondade, que há artistas melhores do que outros na sua capacidade de concretização, que há técnicas melhores do que outras para desenvolver uma cirurgia. Existem, de facto, e há que não ter medo de o dizer e de o fazer, hierarquias de valores e hierarquias entre práticas. Porém, não podemos associar aos valores e às práticas fantasmas sociológicos que influenciam a maneira de pensar e de agir criando falsas hierarquias.
P — Agora a literatura. Se tivesse oportunidade de eleger um prémio Nobel da literatura, quem é que elegeria?
JBX — Entre os vivos ou os mortos?
P — Escolha o Jorge!
JBX — Gostaria que o Fernando Pessoa tivesse ganho o Prémio Nobel da Literatura. Entre os vivos, quer um escritor português ou um escritor internacional?
 |
| Em 1964, por encomenda da Fundação Calouste Gulbenkian, Almada Negreiros realiza uma réplica do Retrato de Fernando Pessoa, executado em 1954 para o restaurante Irmãos Unidos. |
P — Um escritor ou escritora!
JBX — Entre os portugueses, há ainda um trabalho a fazer. Tenho algumas esperanças. Julgo que há um autor português que daqui a dez anos pode vir a competir para esse efeito, mas não vou dizer quem é, porque julgo que há ainda um caminho a percorrer. E, depois, obviamente, coloca-se a questão eterna do António Lobo Antunes. Num cenário internacional, a China já teve há relativamente pouco tempo um prémio Nobel, mas gostava de ver mais um prémio Nobel da Literatura na Ásia. Tanto o Subcontinente indiano como o Japão e a Coreia deviam ter um prémio Nobel.
P — E o feliz contemplado ou a feliz contemplada seria…
JBX — Isso é sempre complicado. Neste momento, e num contexto internacional, diria que o Philip Roth era o nome mais óbvio.
P — E acha que ele ainda o vai receber?
JBX — Acho que não… Acho que Roth não o vai ter…
P — E o que dizer em relação ao cantautor Dylan?
JBX — Detesto a expressão cantautor! O Bob Dylan é um dos grandes músicos do século xx. É também um dos grandes intérpretes das mudanças de valores e das dinâmicas sociais que os anos 1960 trouxeram ao mundo. É um poeta e um músico de excelência, mas tenho algumas dúvidas de que por causa disso deva ser associado ao Prémio Nobel. Julgo que assim o é porque até o próprio Dylan se sentiu perplexo e não esteve na entrega do Prémio Nobel. O prémio não acrescenta nada ao Bob Dylan. O Bob Dylan tem uma condição estatutária que se coloca para lá de um prémio Nobel. Vou dar um exemplo: não seria impossível que o Prémio Nobel da Medicina fosse entregue à medicina chinesa ou indiana. No entanto, o grau de formalização dessas medicinas não está de acordo com aquilo que é a atribuição habitual de um prémio Nobel em domínios científicos associados à medicina. Temos aqui um problema de atribuição e de formalização.
 |
|
O norte-americano Philip Roth seria, para Jorge Barreto Xavier, um vencedor «óbvio» do Nobel da Literatura
(fotografia: Bob Peterson/The Life Images Collection/Getty Images).
|
P — Em que consiste essa problemática mais concretamente?
JBX — Quando se diz que é um ato político da atribuição do prémio, consigo perceber. Isto porque a cultura e a música popular americanas correspondem a um movimento cultural de grande importância a nível internacional. São dos veículos mais importantes da história da música do século xx. Mas então também deveria perceber que o Prémio Nobel pudesse ser atribuído por exemplo ao Leonard Cohen, e eventualmente a esse nível até com mais propriedade.
P — Aí entraríamos numa discussão ainda mais complicada…
JBX — Entraríamos numa discussão mais complicada para tentar perceber, por exemplo, porque é que o Jorge Luis Borges ou o Graham Greene não o tiveram. Isto já entra num campo que tem a ver com mecanismos de aferição canónicos.
P — Ou o Jorge Amado, só para referir um em português…
JBX — Sim. Os prémios Nobel não representam necessariamente o reconhecimento do estado da arte.
 |
|
Alfred Nobel instituiu os prémios em 1895.
O Nobel da Literatura foi concedido pela primeira vez ao francês Sully Prudhomme, em 1901.
|
P — Afinal, o que representa o Prémio Nobel?
JBX — Representa uma declaração simbólica de destaque de certas formas de expressão e de certas formas de elevação mas com uma componente política muito elevada. Quando se atribui o Prémio Nobel da Paz, no processo da pacificação da Colômbia, ao Presidente da Colômbia e não se atribui às FARC, não se percebe muito bem… Ou, numa situação equivalente, entre a Palestina e Israel, com o Yasser Arafat e o Yithzak Rabin… Ou, por exemplo, quando se atribui o Prémio Nobel da Paz ao Obama em início de mandato é um prémio prospetivo, ainda não havia obra feita. Ou seja, o Prémio Nobel tem uma componente política no sentido da instrumentalização do prémio a favor de certos valores. Em termos gerais, julgo que é uma componente generosa visto que os valores que o prémio procura veicular são valores de um humanismo ocidental. Portanto, na valorização desse humanismo, o prémio vai por um certo caminho. Agora estes valores não podem ser considerados por si sós, e por essa razão digamos que o valor distintivo daquilo que é efetivamente melhor ou pior. Obviamente que temos de ser mais sofisticados e complexos do que isso!
P— Se os prémios Nobel «não representam necessariamente o reconhecimento do estado da arte», será que os Óscares da Academia representam o melhor da sétima arte?
JBX— Creio que o sentido da resposta anterior pode ser extrapolado, guardando as diferenças que cada área e dispositivo representam. Os Óscares correspondem a um mecanismo entre outros para promover o reconhecimento da arte cinematográfica. Talvez o mais complexo e mediático. É difícil de conferir que parte das escolhas é ditada por razões essencialmente artísticas e que parte é ditada por razões essencialmente comerciais. Neste ano, um filme como Silêncio, de Martin Scorsese, foi relegado para terceiro plano, o que não pode deixar de nos espantar. De qualquer forma, Lang, Bergman, Fassbinder, Truffaut, Oliveira, Kurosawa, Xie Jin, entre outros, não precisam de Óscares (independentemente de ter havido esse reconhecimento ou não) para estar na história do cinema ou das artes em geral.
P — Fernando Pessoa escreveu: «A ciência descreve as coisas como são; a arte, como são sentidas, como se sente que são. O essencial na arte é exprimir; o que se exprime não tem importância.» Que acha desta afirmação?
 |
|
Para Jorge Barreto Xavier o filme Silêncio, de Martin Scorsese,
foi relegado para terceiro plano pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). |
JBX — Acho que Fernando Pessoa tinha mais jeito para umas coisas do que para outras. Sendo um dos nossos maiores poetas, não é, necessariamente, um dos melhores analistas dos múltiplos assuntos que abordou. Porque a ciência não descreve as coisas como são, mas como os cientistas a dado momento acham que são. Porque se o essencial na arte fosse exprimir e o que se exprime não tivesse importância, a Pietà de Miguel Ângelo poderia ser menos interessante que o galo de Barcelos, desde que o artesão que fez o galo se exprimisse com maior ênfase que Miguel Ângelo.
P — Neste ano, vai estrear-se como autor da INCM. Quer desvendar um pouco o seu livro, Alexandria?
JBX — Alexandria cuida do poder das palavras, numa época em que os poderes legítimos se encontram em dificuldades e em que há uma competição pelo espaço do poder. Através de um conjunto de pequenas histórias que contêm meta-histórias, duas personagens conversam sobre as mais diversas coisas, percorrendo o mundo e construindo argumentos sobre a importância das palavras, por vezes através do exercício da negação.
P — Na sua opinião, o que distingue uma editora pública de uma editora comercial?
JBX — Obviamente o serviço público. Uma editora pública, tendo de ter lógicas de equilíbrio de gestão empresarial, tem, na minha perspetiva, de ter na sua natureza, na sua matriz, uma orientação do que é serviço público, de como articula a sua estratégia de natureza de empresa com o seu estatuto de pertença ao Estado. O Estado tem várias manifestações, o setor empresarial do Estado é uma das manifestações daquilo que é uma lógica de serviço público. Uma empresa privada na área da edição, como é normal na lógica de uma empresa privada, a nível económico, tem como objetivo principal o lucro, e este é o seu objetivo principal em termos económicos. Não se abrem empresas para dar prejuízo. Ao nível da orientação para o negócio, uma empresa privada vai acima de tudo perceber quais são as áreas de negócio que lhe permitem obter o objetivo económico do lucro. O que significa que o catálogo editorial tem de estar vinculado a esses objetivos em primeiro lugar. Há uma priorização dos conteúdos editoriais em função de uma natureza jurídica e institucional, de uma empresa pública ou privada, que, na minha perspetiva, são diferentes por estas razões.
P — O que pensa da evolução da editora INCM nos últimos anos?
JBX — É uma editora que tem demonstrado, por um lado, a capacidade de defender a cultura portuguesa na sua documentação — e é muito importante que se documente historicamente a cultura portuguesa, tanto nos seus autores como na investigação e na componente mais linguística. Por outro lado, a editora INCM tem tido a capacidade de criar um sedimento que é a construção de um património futuro. Cada geração tem na sua órbita a possibilidade de gerar património para o futuro. Julgo que na área específica da edição essa preocupação tem estado presente no trabalho editorial da INCM.
 |
|
A Pietà de Miguel Ângelo data de 1499 e encontra-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano.
|
P — A editora do Estado presta um bom serviço público?
JBX — Acho que sim!
P — A seu ver, qual é a importância de o Estado deter uma editora própria?
JBX — Isso levava-nos muito longe. Há certas componentes da edição que, eventualmente, o Estado pode deter — o Diário da República certamente é uma delas; outras, que não sendo uma obrigação, podem fazer parte de uma leitura das obrigações do Estado, e outras, já de uma maneira mais difusa, podem fazer parte da perceção daquilo que é um serviço complementar, ao não ser possível ser desenvolvido a um nível meramente comercial, e no qual uma empresa pública de edição pode ter um papel fundamental. Falávamos, há pouco, precisamente das questões da cultura, mas também da sociedade… Há parâmetros de presença e de ação que não são necessariamente aferíveis ao nível do comércio, mas que são forçosamente aferíveis ao nível de exigência de humanidade. Aí haverá certamente coisas a pensar e a fazer…
P — Quer indicar alguns títulos do catálogo da INCM de que mais gostou?
JBX — Começo por lhe indicar não um título mas um objeto que é a Enciclopédia Enaudi. É um grande trabalho editorial e pelo qual tenho muito respeito e julgo que foi um empreendimento que valeu muito a pena ser feito em língua portuguesa. Indico também esta edição muito recente que é o Novo Atlas da Língua Portuguesa. Parece que é um elemento muito útil de referência. Gostaria ainda de indicar obras que são mais documentais, como, por exemplo, revelar o lado artístico do D. Carlos. Dou este exemplo porque isto permite conhecer uma determinada época do País, a mentalidade dessa época e a articulação do modo como se olha para o poder e para a arte — estes documentos, que eventualmente não podem ser feitos por outro tipo de organizações ou casas editoriais, visto serem produtos relativamente caros, cujo mercado não é propriamente alargado, são essenciais para compreendermos a nossa História, e por isso acho muito útil que eles aconteçam.
P — Que livro é que anda a ler?
JBX — Nunca estou a ler um só livro. Leio vários livros ao mesmo tempo! De várias áreas. [risos]
P — E quer dizer quais são?
JBX — Estou a ler um livro do Hirschman — é um clássico da sociologia política sobre ação pública e ação privada. Estou também a ler um livro sobre a ordem mundial do Henry Kissinger. E na mesinha de cabeceira tenho um livro do Gonçalo M. Tavares, que é feito a partir da tese de doutoramento dele, mas transposta para um objeto fotográfico e de texto muito bonito que anda à volta da anatomia e da física.
P — Será que é ele que lhe dá esperanças para o Nobel daqui a dez anos?
JBX — … [risos] Não vale a pena insistir! Já lhe disse que não vou avançar mais sobre esse assunto! [risos]
Lisboa, janeiro de 2017
Publicações Relacionadas
-
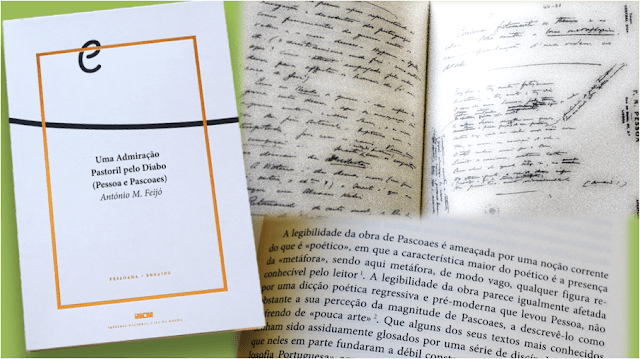
-

Novidade | Deixar um Verso a Meio | Francisco José Viegas
23 Setembro 2019
-

«Bocage, a Imagem e o Verbo», por Daniel Pires
24 Setembro 2015
-
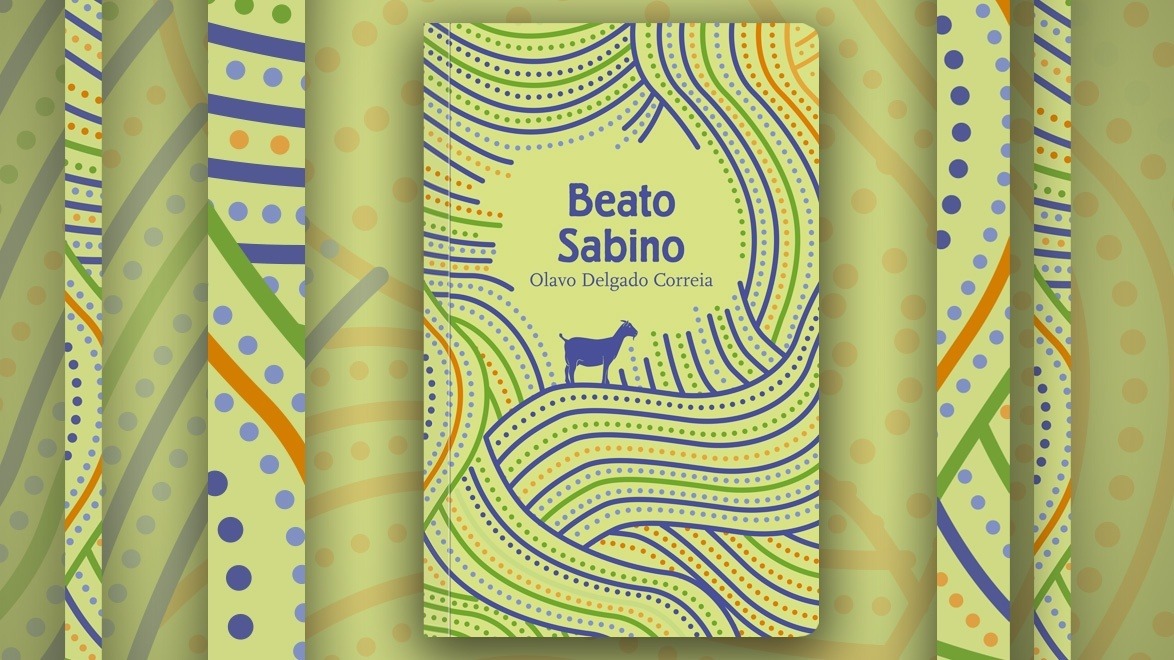
Novidade | Beato Sabino | Olavo Delgado Correia
20 Setembro 2019
-

Eugénio Lisboa
15 Julho 2021