Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
Luís Filipe Castro Mendes em entrevista — «As nossas comunidades merecem ser mais conhecidas»
Nasceu em 1950, quando a Europa era ainda um lugar distante e «os Pirenéus continuavam, como no tempo de Pascal, a separar as verdades e os homens». Do pai veio a herdar o gosto pela «especulação intelectual» e da mãe «o amor à poesia». Da infância guarda a paixão pelos atlas, os poemas que a mãe lhe lia, de Guerra Junqueiro a José Régio e, mais tarde, os de Sophia. Guarda também a «memória de mudança», tantos foram os sítios por onde passou: Alentejo, Trás-os-Montes, Açores…
Sempre bom aluno, só começou a «moderar as expetativas familiares» quando entrou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da qual chegou a ser expulso para «tristeza» de seu tio — homem «conservador, mas muito influenciado pelo pensamento católico da época e pelo ideal franciscano» —, então lá professor. Mas é da Faculdade de Direito que recorda também grandes mestres. Com Miguel Galvão Teles, «uma inteligência em permanente ebulição», aprendeu o Direito Constitucional; com Diogo Freitas do Amaral, «sereno e arrumado», o Direito Administrativo; com António Sousa Franco, «inteligência viva e estimulante», as Finanças Públicas. Quando passou para o Direito Privado, confirmou que aquele curso não era para si, mas não se arrependeu de o ter feito. Desses tempos, que foram também tempos de lutas académicas e da leitura dos grandes romances de Thomas Mann, Stendhal e Dostoievski, guardou amigos para a vida e um grande amor: Margarida Barahona, sua esposa.
Com o 25 de Abril, e concluída a licenciatura, trabalhou com Ernesto Melo Antunes, «um homem fundamental para o rumo democrático da nossa Revolução e um grande amigo» e, depois, com Ramalho Eanes, que o inspira «um respeito profundo, pela extrema seriedade que põe em todas as coisas em que toca ou participa». Abria-se finalmente o caminho da diplomacia ao então jovem jurista e sonhador com viagens pelo mundo fora.
Foi esse mundo que Luís Filipe Castro Mendes, poeta e diplomata (por esta ordem), palmilhou ao longo dos mais de 40 anos em que esteve ao serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Passou por Luanda e Madrid, e foi Cônsul-Geral no Rio de Janeiro e depois Embaixador em Budapeste, Nova Deli, junto da UNESCO e junto do Conselho da Europa, em Estrasburgo. E neste rodopio de lugares há sempre um a que volta sempre: Lisboa.
E foi a Lisboa que regressou, em 2016, quando aceitou o cargo de Ministro da Cultura. Orgulha-se especialmente de ter sido iniciado durante o seu mandato o processo de criação do Museu Nacional da Resistência e Liberdade, em Peniche, que abriu portas, em 2019, com uma exposição que resgatou os versos de um outro poeta: «Por teu livre pensamento», de David Mourão-Ferreira.
E, ao longo do percurso, Luís Filipe Castro Mendes escreveu sempre. «Ser diplomata é a minha profissão, ser poeta e escritor, a minha aposta». Foi precisamente na Imprensa Nacional que se estreou, em 1983, com o livro Recados, um livro que hoje considera, como primeiro crítico da sua obra, «imaturo».
Atualmente, como «embaixador na disponibilidade», exerce missões de consultadoria sobre assuntos culturais respeitantes às comunidades portuguesas no estrangeiro. Neste âmbito, preside ao conselho editorial da nova coleção da Imprensa Nacional, «Comunidades Portuguesas», uma coleção que resulta de uma parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que se destina a publicar, além dos títulos vencedores do Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro, textos relativos às migrações portuguesas, quer obras originais de autores da diáspora, quer ensaios, estudos e testemunhos sobre as nossas comunidades espalhadas mundo fora.
E foi exatamente por aqui que começámos.
Preside ao conselho editorial da coleção «Comunidades Portuguesas» que é o resultado de uma parceria entre a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal (MNE). Como surgiu este convite?
Como embaixador na disponibilidade em serviço, tinha já acordado com o Ministro Augusto Santos Silva exercer missões de consultadoria sobre assuntos culturais respeitantes às comunidades portuguesas no estrangeiro. Com o convite da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr.ª Berta Nunes, para trabalhar em ligação direta com o seu gabinete, pude focar esta atividade em três projetos que a Secretária de Estado decidiu levar a termo, a saber, a rede museológica virtual entre os centros de memória e núcleos museológicos relativos às comunidades portuguesas no estrangeiro, a rede dos gabinetes de leitura no Brasil e, finalmente, a coleção de livros «Comunidades Portuguesas», estabelecida por protocolo entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Foi a convite da Secretária de Estado, Dr.ª Berta Nunes, e do Diretor da Imprensa Nacional, Dr. Duarte Azinheira, que vim ocupar a função de coordenador editorial desta coleção.
Quer explicar em que consiste esta coleção?
A coleção «Comunidades Portuguesas» destina-se a publicar textos relativos às migrações portuguesas, quer obras originais de autores da diáspora (termo que não recuso…), quer ensaios, estudos e testemunhos sobre as nossas comunidades e as nossas memórias de migrantes. Entre as suas atribuições está também promover a edição das obras galardoadas com o Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro, um prémio literário dirigido aos autores das comunidades portuguesas no estrangeiro, instituído também por protocolo entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Quais os critérios por que se rege este conselho editorial? Como decidem que obras se devem publicar na coleção?
Tenho a felicidade de coordenar um grupo de conselheiros editoriais de alta qualidade e competência, o Professor Ivo Castro, pela Imprensa Nacional, o Professor Onésimo Teotónio de Almeida, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e a Professora Margarida Calafate Ribeiro, pelo Instituto Camões. Os nossos critérios são ao mesmo tempo muito latos e muito rigorosos. Muito latos porque, dentro do critério fundamental de ser relevante para as comunidades portuguesas no estrangeiro, nenhum género estará excluído à partida; muito rigorosos porque o projeto editorial prevê um número relativamente limitado de publicações, como não poderia deixar de ser, o que nos leva a uma exigência muito estrita no tocante àquilo que merece ser publicado.
Além dos vencedores do Prémio IN/Ferreira de Castro, o que podemos esperar nos próximos tempos na coleção «Comunidades Portuguesas»?
Apresentaremos ainda este ano a última obra galardoada com o Prémio Ferreira de Castro, o romance A Parte pelo Todo, da escritora portuguesa estabelecida na Alemanha Maria Isabel Pinheiro Torres Auer, uma recolha de romances populares portugueses retrabalhados pela nossa emigração, o Romanceiro Português do Canadá, organizado por Manuel Costa Fontes, uma grande antologia de textos literários sobre a emigração portuguesa organizada por A. M. Pires Cabral, as memórias de migrantes de Laurinda Andrade (A Porta Aberta) e de Francisco Cota Fagundes (No Fio da Vida), ambos dos Estados Unidos, e uma recolha de poemas do poeta Eduardo Bettencourt Pinto, açoriano residente nos Estados Unidos. Para o ano que vem, podemos desde já anunciar, no âmbito das Temporadas Cruzadas Culturais entre Portugal e a França, a publicação simultânea nos dois países de trabalhos respeitantes à nossa comunidade lá residente e às relações entre as duas nações.

Fazer uma coleção em torno das comunidades portuguesas não tem precedentes. Pode dizer-se que este é um reconhecimento plural aos milhões de portugueses a viver fora de Portugal, eles que são uma das nossas mais fortes marcas no mundo?
Durante a minha carreira diplomática tive oportunidade de conviver com e trabalhar para os nossos compatriotas ou lusodescendentes que vivem e trabalham em diferentes países e sociedades. A minha admiração por eles veio desse contacto e muito do reconhecimento das suas diferenças. Há nas nossas comunidades um inteligente sentido de adaptação ao meio e de entendimento dos outros, que não anula as suas identidades, mas as torna cosmopolitas e à escuta do mundo que as rodeia. Mas não esqueçamos que a origem delas está na miséria que tiveram que enfrentar no nosso país.

Parece-me que esta coleção também é importante do ponto de vista do trabalho da memória. Há muitas coisas a recuperar deste ponto de vista?
Há um trabalho importante a fazer na recolha das memórias das migrações e estas edições são mais um pequeno passo nesse trabalho. Vamos publicar dois livros de memórias, de Cota Fagundes e Laurinda Andrade, um homem e uma mulher, que relatam os seus percursos de vida de migrantes. Mas obras de ficção como Emigrantes de Ferreira de Castro, inspirador do nosso prémio literário, não serão menos importantes para esse trabalho de memória.
A emigração portuguesa permanece uma constante da nossa identidade e constitui também, pela sua dimensão, diversidade e dispersão geográfica, um inestimável acervo cultural, político e económico. Acha que Portugal tem vindo a reconhecer devidamente o valor dos seus emigrantes?
As nossas comunidades merecem ser mais conhecidas, na sua diversidade e na sua extraordinária evolução, mas também há um trabalho a fazer para tornar a realidade atual do nosso país mais bem percebida e entendida pelas comunidades. Os países de acolhimento deveriam também reconhecer o contributo dessas comunidades portuguesas para o seu progresso económico e coesão social. Há muito a fazer e em muitos sentidos.
A seu ver que papel assume a língua portuguesa nesta questão?
A política de defesa e difusão da língua portuguesa é essencial e tem sido prioridade deste governo e deste Ministério dos Negócios Estrangeiros. O ensino do português no estrangeiro é preocupação permanente da SECP. Mas não esqueçamos que há infelizmente muitos lusodescendentes que não dominam, ou dominam mal, o português. Isto não constitui nem pode constituir uma culpa e não deve ser motivo para afastar esses lusodescendentes da cultura e da sociedade portuguesa. Por isso não hesitaremos em trabalhar nas línguas dos principais países de acolhimento para aproximar de Portugal e das suas realidades os filhos e netos dos nossos migrantes.
Em outubro de 2020, historiadores, linguistas, políticos e jornalistas juntaram-se, em Lisboa, para discutir o termo «diáspora», numa iniciativa do departamento de Língua, Literatura e Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD), esta que quer banir o uso do termo «diáspora» quando associado às comunidades portuguesas. A seu ver porque tem a palavra «diáspora» uma conotação negativa junto das comunidades?
Não vejo razão para se rejeitar o termo «diáspora» para referir a nossa emigração. Eduardo Lourenço considerava que o termo envolvia uma carga mítica e simbólica que só ao judaísmo pertencia. José Tolentino Mendonça fez com muita inteligência a refutação dessa ideia. «Diáspora» designa o movimento centrífugo de uma comunidade nacional que se espalha e dispersa pelo mundo, criando novos polos e novas realidades. É um termo normalmente usado nos Estados Unidos para designar este fenómeno. Não compreendo as objeções da associação que refere.
Preside também ao conselho de consultores para estabelecer uma futura rede de espaços museológicos das comunidades portuguesas. Em que consiste exatamente este projeto?
Eu não presido, coordeno, por indicação da Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Vou citar-me, se me permite:
«Com a plataforma digital interativa que se pretende estabelecer entre os diversos núcleos museológicos e centros de memória relativos às comunidades portuguesas no estrangeiro procura-se contribuir para a continuação de uma memória comum entre as diferentes comunidades de origem portuguesa no mundo e constituir uma rede digital ativa de partilha e intercâmbio entre esses centros e núcleos. (…) O que se propõe com esta rede é estabelecer um circuito digital, com vocação para crescer e se densificar, que, uma vez constituído, ficará à responsabilidade dos diferentes parceiros implicados, que assegurarão a manutenção, gestão e expansão da rede. A SECP assegurará aqui um papel orientador e estimulador (…)»
Acredita que esta iniciativa vai levar mais visitantes aos espaços físicos dos museus que integrarão a rede?
O modelo estabelecido prevê a possibilidade de, em qualquer dos pontos da rede, se aceder aos acervos e arquivos de todos os outros. Por isso, é evidente que cada núcleo museológico se verá enriquecido com essa potencialidade e certamente irá por isso atrair muito mais público interessado.

Nasceu em 1950, em Idanha-a-Nova, onde seu Pai cumpria serviço como juiz. Mantém relações com esta terra? Ou foi uma estada passageira?
Meu pai era magistrado e exercia, à data do meu nascimento, funções de delegado do Procurador da República na comarca de Idanha-a-Nova. Saí com três anos dessa terra, onde não tenho família. Recuperei há poucos anos o contacto com Idanha-a-Nova, por via de amigos comuns. Mas nada recordo dos meus primeiros três anos nesses lugares, como é normal.
Que memórias guarda da sua infância?
Memória de viver por muitos lugares de Portugal, com especial acento nos Açores e no Alentejo. Memória de constantemente ter de mudar de escola, de amigos, de professores, de horizontes. Memória de ter uma pronúncia alentejana e a ver troçada pelos meninos de Trás-os-Montes. Memória de mudança.
Foi um bom aluno?
Fui sempre muito bom aluno. Só comecei a moderar as expetativas familiares quando fui para a Faculdade de Direito…
Que influências herdou de seu Pai? E de sua Mãe?
De meu pai o gosto pela especulação intelectual, de minha mãe o amor à poesia.
1950 foi o ano em que foi proferida a histórica «Declaração Schuman» pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Robert Schuman, onde expunha a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa. Pode dizer-se que esta declaração esteve na génese da atual União Europeia. O Luís Filipe foi representante junto do Conselho da Europa, em Estrasburgo. Acredita em coincidências?
Quando nasci, sei que meu pai receava pelo meu futuro, com medo da guerra atómica. A Europa era muito longe de nós, os Pirenéus continuavam, como no tempo de Pascal, a separar as verdades e os homens. Em 1950 dividiam um mundo em reconstrução depois de uma guerra devastadora de um ilhéu ibérico de duas ditaduras, próprias dos anos 30 daquele século, conservadas em formol.
Considera que com a saída do Reino Unido da União Europeia, com o crescimento de movimentos de extrema-direita, que retomam os discursos nacionalistas, de controle de fronteiras e de protecionismo económico, com a crise dos refugiados e os danos da pandemia, o sonho de Schuman e Jean Monnet está em perigo?
A missão de uma União Europeia deixou de ser impedir a guerra entre as potências do nosso continente, passou a ser tornar a nossa Europa numa potência mundial, que possa ser respeitada no mundo. Os sonhos mudam, à medida das realidades.
Ainda muito jovem, com 15 ou 16 anos, começou a colaborar no jornal Diário de Lisboa Juvenil e no suplemento literário do República. Como é que isto aconteceu?
Escrevo poemas desde criança. Em 1966 decidi enviar alguns ao suplemento juvenil do Diário de Lisboa, onde Mário Castrim e Alice Vieira recebiam, criticavam e, se considerassem caso disso, publicavam os nossos versos, contos, ensaios e desenhos de juventude. Partilhei ali páginas com Luís Miguel Cintra, Jorge Silva Melo, Nuno Júdice, Hélia Correia e outros nomes menos previsíveis, como Alberto Costa e Jaime Gama ou José Pacheco Pereira e José Mariano Gago. Incitado pelos meus novos amigos, vim então a Lisboa (nesse ano morava em Chaves) conhecer alguns desses meus companheiros de geração. Eu era um pequeno provinciano, algo irritante e muito lido. Continuei a escrever, mas com cada vez menos segurança…
O seu nome está também ligado às lutas académicas. Como é que isto era encarado no seio da sua família?
Meus pais situavam-se na área da oposição de esquerda, muito enraizada nas memórias do MUD Juvenil, em que emergiam nas conversas as recordações de Mário Soares, Maria Barroso, Salgado Zenha… Meu tio era conservador, mas muito influenciado pelo pensamento católico da época e pelo ideal franciscano. Para meus pais não foi uma surpresa a minha participação nas lutas académicas (cheguei a ser expulso da universidade…), para meu tio, professor na Faculdade de Direito, foi, é claro, uma tristeza.

Chegou também a fazer parte do Movimento da Esquerda Socialista [MES] mas acabou por nunca se filiar. Porquê?
Depois da Revolução, comecei a trabalhar com Melo Antunes e, embora tenha participado nas primeiras reuniões fundadoras do MES, nunca a ele aderi, por essa razão, por ser difícil compatibilizar essa militância com a minha presença (ainda que de muito jovem adjunto) junto de Melo Antunes. Acabei por estar situado pessoal e politicamente entre uma ala do MES que se formou à volta de Jorge Sampaio e o próprio Melo Antunes – uma ligação política que durou até à adesão do grupo de Jorge Sampaio ao PS, mas uma ligação de amizade que nunca se desfez, até à morte de Melo Antunes.
Que leituras/autores o influenciaram nesta altura? [Códigos à parte]?
Nessa altura? Toda a poesia que eu ia descobrindo. Os grandes romances, Thomas Mann, Stendhal, Dostoievski. E o marxismo: crescíamos aditivamente, somando Althusser a Althusser (Althusser era então o supremo mestre marxista), na expressão cáustica de Jaime Gama.
Em 1974 licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Guardou companheiros para a vida desses tempos de faculdade? Se sim, quem?
Sim, sim. O Alberto Costa, o Carlos Gaspar, o João Arsénio Nunes, o Miguel Lobo Antunes, o José Manuel Sobral, o Carlos Fino, companheiros das lutas académicas… Mas atravessando a alameda, eu ia frequentar o bar da Faculdade de Letras, onde pontificava Eduardo Prado Coelho, militavam Fernando Guerreiro, Paulo Varela Gomes e Isabel Vale e onde conheci quem hoje é minha mulher, Margarida Barahona.
Desses tempos de FDL que mestre recorda com maior admiração e porquê?
Com Miguel Galvão Teles, uma inteligência em permanente ebulição, o Direito Constitucional; com Diogo Freitas do Amaral, sereno e arrumado, o Direito Administrativo; com António Sousa Franco, inteligência viva e estimulante, as Finanças Públicas. Quando passei para o Direito Privado, confirmei que o meu curso não era aquele. Mas não estou arrependido de o ter feito…
Uma das obras que o inspiraram numa vertente importante da sua vida, a poesia, foi a de Sophia de Mello Breyner Andresen. O que aprecia na poesia de Sophia?
Sim, a leitura do Livro Sexto, de Sophia, nos meus 13 anos, foi importante na formação do meu gosto em poesia. Eu crescera dentro da grande poesia rimada e metrificada que minha Mãe me lia, de Guerra Junqueiro a José Régio; a descoberta de Álvaro de Campos abrira-me depois um novo mundo. Agora, com Sophia, aprendia a essencial economia das palavras e o extremo rigor verbal do poema.
Conheceu Sophia pessoalmente? Se sim, como foi o primeiro encontro?
Encontrei apenas uma vez Sophia pessoalmente: eu era um jovem secretário na embaixada em Paris e disse-lhe, tartamudeando, como a poesia dela tinha sido importante para mim. Ela olhou-me com uns olhos muito grandes e um olhar vazio e não me disse nada. Como se fosse a própria Poesia que nela eu encontrava! O grande olhar vazio da Poesia persegue-me desde então.

Que outros poetas o marcaram?
Pessoa e Rilke, no fundamental. E Jorge de Sena. Depois, todos os que li.
Tem um livro ou um poema a que volta sempre? Qual?
Alguns. «A morte, o espaço, a eternidade» de Jorge de Sena. «Tabacaria» de Álvaro de Campos. Os Maias de Eça de Queirós. Palmeiras Bravas de William Faulkner. Tonio Kroger de Thomas Mann. De l’amour de Stendhal. E muitos mais…
Onde estava no «dia inicial inteiro e limpo / Onde emergimos da noite e do silêncio / E livres habitamos a substância do tempo»? Como viveu esse dia e os seguintes?
Sabia que havia um movimento militar em marcha, mas não estava no segredo. Quando soube, saí à rua, mas não fui logo ao Carmo, andei pelas ruas de Lisboa e quando cheguei ao jornal República, de que era colaborador, já Marcelo Caetano tinha saído do Quartel do Carmo. Fiquei então pelo República e ainda ouvi os tiros junto à sede da PIDE.
Como já o referiu, foi assessor de Melo Antunes no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos governos provisórios liderados por Vasco Gonçalves e Pinheiro de Azevedo. Ernesto Melo Antunes foi um dos principais estrategas da Revolução de Abril, sendo um dos redatores principais de O Movimento, as Forças Armadas e a Nação e coautor do Programa do MFA. Que memórias guarda deste homem?
Melo Antunes foi um homem fundamental para o rumo democrático da nossa Revolução e um grande amigo, uma figura quase paternal, com quem aprendi muito. Era um socialista democrático autêntico e foi decisivo na contenção das tendências extremistas e antidemocráticas do processo revolucionário que permitiu consolidar a democracia em Portugal.
Trabalhou, mais tarde, com Ramalho Eanes, um outro militar. Notou diferenças, ao longo do seu percurso, entre trabalhar com militares e civis? Se sim, quais?
O general Ramalho Eanes inspira-me um respeito profundo, pela extrema seriedade que põe em todas as coisas em que toca ou participa. Costumo dizer que não me faz nenhuma impressão ver militares fardados a tomar decisões, porque me habituei a ver nas fardas o sinal das liberdades conquistadas no 25 de Abril.
A partir de 1975 inicia a sua carreira diplomática. Como é que surgiu a diplomacia na sua vida? Sempre quis ser diplomata?
Aos 10 anos tinha um almanaque que descrevia os regimes políticos, chefes de Estado e chefes de Governo de todos os países do mundo. Antes, tinha já a paixão pelos atlas, sobre os quais, aliás, continuo ainda hoje a sonhar com as mais improváveis viagens. Meu pai e meu avô nunca puderam concorrer à carreira diplomática, por falta de boa informação política por parte da polícia. Havia, assim, um certo sonho de diplomacia na família, embora o meu tio professor de Direito olhasse a carreira diplomática com o desprezo de um Churchill (que dizia «um diplomata é alguém que pensa duas vezes para depois não dizer nada»). De qualquer modo, antes da Revolução essa carreira estava-me vedada, uma vez que nunca conseguiria ter o necessário parecer positivo da PIDE. Com o 25 de Abril abria-se este caminho a um jurista como eu, que só gostava do Direito Público, e a um sonhador com viagens pelo mundo fora, como eu era. Não resisti. E não me arrependo.

O seu primeiro posto foi em Angola, Luanda salvo erro. Imagino que por lá se viviam tempos conturbados… Que país encontrou?
Decidi começar com um posto difícil e pedi Angola. Com alguma relutância do ministro Medeiros Ferreira (que me propôs o Luxemburgo), lá consegui ser nomeado. O ambiente era de desconfiança da parte do governo do MPLA com a política de Lisboa, de guerra civil com a UNITA por todo o território de Angola e de tensão extrema entre fações rivais do partido no poder, que levaram ao sangrento golpe de Estado de 27 de maio de 1977 em Luanda, estava eu no posto há pouco mais de um mês… Não era nada fácil, mas senti naquela terra e com aquela gente o que dizia o poeta Maiakovski: «a terra com que sofreste, nunca a poderás esquecer». E eu não sofri um milésimo do que sofreu o povo angolano…
A imagem estereotipada que vem à mente de muitas pessoas, talvez mitificada pelo cinema e pelos romances, quando se pensa num diplomata, e muito principalmente num cônsul ou num embaixador, é o de alguém que participa em reuniões importantíssimas e secretas junto de organizações nacionais e supranacionais e marca presença em soirées juntamente com a nata da sociedade, champagne, roupas impecáveis, música e danças. Como é ser embaixador na vida real?
Também pode ser levar escondidos no carro uns portugueses, para os livrar da prisão, atravessar duas linhas de soldados perfilados uns contra os outros com as armas aperradas, que nos dizem «podem passar, já não é nada convosco», passar por um controle com um soldado completamente bêbedo de espingarda virada para nós… Podem ser muito diferentes as experiências! Mas isso foi Angola… Ser embaixador é representar o nosso Estado e seguir as instruções políticas do poder legitimamente eleito. É proteger pessoas e interesses do nosso país, representar e influenciar no sentido desses nossos interesses, informar quem governa da situação e das oportunidades no país que nos foi dado como missão. E, através da diplomacia pública, cultural e económica, dar a conhecer adequadamente o nosso país.
Qual a principal qualidade de um diplomata?
Ter um espírito aberto e saber entender os outros: as outras culturas, as outras posições, os outros valores…
Diplomacia e política externa podem ser confundidas? O que as distingue?
Política externa é a definição da estratégia e do rumo das nossas relações externas, que cabe ao poder político, diplomacia é a arte e a ciência de executar essa estratégia e seguir esse rumo nos casos concretos.
Enquanto diplomata procurou ter um contacto sempre próximo, no terreno, com as comunidades portuguesas?
Sempre. Faz parte das obrigações de um diplomata e para mim foi sempre um motivo de interesse e de prazer. Fiz bons amigos nas comunidades portuguesas, sobretudo no Brasil, como é natural, porque foi ali que fui cônsul.
Entre outros, esteve em Madrid, foi Cônsul-Geral no Rio de Janeiro e depois Embaixador em Budapeste, Nova Deli, junto da UNESCO e junto do Conselho da Europa, em Estrasburgo. Qual destas experiências foi para si a mais marcante e porquê?
Sem dúvida o Rio de Janeiro, como experiência afetiva e humana e desenvolvimento de uma feliz atividade cultural e social, e Nova Deli, como desafio intelectual e experiência política e também de deslumbramento com a diversidade do mundo.
Consegue eleger um lugar preferido? Qual e por que motivo?
Paris é a minha segunda cidade, por razões quer culturais, quer familiares. O Rio de Janeiro é uma cidade que amo tanto mais quanto ela não é minha. E à Índia voltaria sempre e muitas vezes.
Esteve ao serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros durante mais de 40 anos. Como foi conciliar a sua vida profissional de «viajante» com a sua vida familiar?
Tive muita sorte. Minha mulher sacrificou a sua carreira profissional na Faculdade de Letras de Lisboa a este percurso esgotante e exaltante de cônjuge de diplomata. Os meus filhos sofreram com algumas mudanças, mas essencialmente ganharam em experiência e conhecimento do mundo. Um deles é hoje diplomata…

Houve alguma mudança que lhe tivesse custado mais?
Foi certamente a saída do Rio de Janeiro. Nós vivíamos lá como em casa: convivíamos com o meio cultural como se fosse o nosso, tínhamos muitos e bons amigos, alguns dos quais ficaram para a vida, e meus filhos estavam perfeitamente entrosados na vida carioca. No entanto, eu sei que aquela não é a minha cidade, que aquele não é o meu país. Só há amor onde há distância.
Como disse, um dos seus filhos seguiu a carreira diplomática. Como lida agora com a distância?
Tenho orgulho em todos os meus três filhos e na minha enteada: todos souberam fazer‑se e construir os seus destinos. Mas o percurso do filho diplomata naturalmente envolve‑me, não mais, mas de uma outra maneira, mais próxima e cúmplice. É natural…
Ao longo destes mais de 40 anos ao serviço do MNE houve algum encontro que o tenha marcado mais? Se sim, com quem e em que circunstâncias?
Falaria aqui de João de Sá Coutinho, conde de Aurora («o conde vermelho»), o meu primeiro embaixador em Luanda e logo depois meu embaixador em Madrid. Era um verdadeiro aristocrata, no sentido do termo que me explicou o falecido Fernando Mascarenhas, marquês de Fronteira e meu amigo: alguém que punha à mesma radical distância a vulgaridade e a soberba. Com ele aprendi muito que não saberia bem definir: chamar-lhe-ia arte de viver ou dom da relação. Qualquer coisa que é indispensável a um diplomata.
Oscar Wilde escreveu que «qualquer pessoa que conheça a história da Humanidade aprendeu que a desobediência é a virtude original do homem. O progresso é uma consequência da desobediência e da rebelião.». A desobediência pode ser, de facto, uma virtude?
Nós, diplomatas, podemos por vezes estar em desacordo com as ordens que recebemos. Mas a questão da desobediência só se pôde pôr face a ordens ilegítimas ou a ordens violadoras de leis ou direitos fundamentais. O simples desacordo não legitima a desobediência.
Um diplomata é ensinado a obedecer?
O diplomata é um funcionário e não se pode esquecer disso.
«Se há que desobedecer, prefiro que seja a uma ordem dos homens do que a uma ordem de Deus». Aristides de Sousa Mendes foi um cônsul desobediente. E pagou caro por isso. Acha que a história lhe está a fazer justiça?
Antígona responde o mesmo, por outras palavras, a Creonte, quando este quer negar a sepultura aos irmãos dela. Aristides de Sousa Mendes viu-se confrontado com uma ordem que tinha como consequência enviar inocentes para a morte. A sua desobediência é exemplar, porque, contra todas as vagas de «banalidade do mal» que nos podem absorver em momentos de grande crise, ele pôs a moral e a justiça por cima das ordens, das hierarquias e das suas conveniências pessoais. Aqui não se pode responder como funcionário: mas são situações limite, em que estão em causa valores fundamentais. Não uma mera discordância política com o poder legitimamente eleito.

Que conselhos deixa aos mais jovens que queiram seguir a carreira diplomática?
Que estudem a História e estejam abertos às diferentes culturas do mundo.
Consegue indicar-me quatro ou cinco nomes históricos da diplomacia portuguesa ao longo dos tempos?
Luís da Cunha, Alexandre de Gusmão, Manuel Teixeira Gomes, Armindo Monteiro, Calvet de Magalhães, Armando Martins Janeira.
Sabendo que o Ministério da Cultura de Portugal é um ministério difícil, com orçamentos muito reduzidos, aceitou mudar-se para Lisboa, onde não vivia há décadas, para assumir a pasta de Ministro da Cultura. O que o fez aceitar este cargo?
Fui convidado pelo Primeiro-ministro, António Costa, para exercer o cargo de ministro da Cultura, em circunstâncias que são conhecidas. Aceitei a missão, porque sou socialista, porque apoiei António Costa e a sua linha política dentro do PS, porque sou um defensor da «geringonça» e, mais geralmente, da necessidade de o socialismo democrático contribuir para uma solução radical da grave crise que atravessam as sociedades contemporâneas, crescentemente dominadas por um capitalismo financeiro especulativo, que afeta e asfixia, quer os direitos dos trabalhadores e as garantias do «Estado Social», quer a própria viabilidade das empresas produtivas, face à crescente atração dos capitais para a especulação financeira. Ora a Cultura é essencial a qualquer projeto político que se queira defensor dos valores mais essenciais do que é humano e resista à mercantilização da sociedade e à desertificação do mundo.
Para si qual foi a principal medida que tomou enquanto esteve à frente do Ministério da Cultura?
Muito ficou por fazer e será mais tarde altura de fazer a História. Do que consegui fazer, no âmbito do trabalho essencialmente coletivo do governo a que pertenci, realço aqui o lançamento da Fundação do Côa, através da qual foi possível salvaguardar, desenvolver e abrir ao público o grande monumento, património da Humanidade que temos nas gravuras rupestres do Vale do Côa. Também pudemos dar início a um processo de renovação da organização dos museus e monumentos de Portugal, no sentido de uma maior autonomia da sua gestão, trabalho que tem sido continuado pelo atual governo. Permitam-me salientar, no primeiro projeto, o papel fundamental do falecido e saudoso Bruno Navarro e no segundo a colaboração essencial e entusiasta do Professor Fernando António Baptista Pereira. Orgulho-me muito especialmente de ter sido iniciado durante o meu mandato o processo de criação do Museu Nacional da Resistência e Liberdade, em Peniche, e neste ponto não poderia deixar de realçar o papel e o trabalho do meu antigo chefe de gabinete, Dr. Jorge Leonardo.
Voltando às letras. É poeta com obra premiada. Publicou recentemente, em 2018, Poemas reunidos, pela Assírio & Alvim, onde reuniu poemas publicados entre 1985 e 2016. Continua a negar o seu primeiro livro, Recados, publicado precisamente pela Imprensa Nacional, em 1983. Porquê? Não se revê nele? Arrepende-se de o ter publicado?
É um livro que eu considero, como primeiro crítico da sua obra que um poeta deve ser, imaturo. No entanto, embaraça-me encontrar leitores que reclamam da falta desse livro, que lhes teria deixado boa recordação. Terei eu o direito de subtrair aos leitores um livro que fiz, ainda que não goste dele?

Há muitos e escritores que também foram diplomatas. Estou a lembrar-me de Eça de Queirós, Pablo Neruda, Octavio Paz, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, tantos… Para si, a haver, qual é a ligação entre a escrita e a diplomacia?
O meu colega escritor e diplomata italiano Maurizio Serra escreveu a propósito dos escritores diplomatas um divertido ensaio intitulado Um estranho animal de duas cabeças. O escritor-diplomata. Eu, por mim, não me considero bicéfalo. Ser diplomata é a minha profissão, ser poeta e escritor a minha aposta. Um influi no outro? Certamente. A experiência impregna as nossas palavras e as nossas criações e a experiência diplomática não poderia deixar de o fazer. E depois, como dizia Saint John Perse, poeta e diplomata, o poeta (o escritor) e o diplomata têm de ter a mesma cautela e a mesma ponderação no uso da palavra justa e adequada, no extremo rigor da expressão escrita.
Com uma estética pós-modernista, a intertextualidade, a musicalidade e o diálogo dos versos marcam a sua obra. A sua escrita é também a escrita dos sítios por onde passou?
Sim, todos os lugares por que passei afloram na minha escrita.
Se Portugal voltar a receber um novo Nobel da Literatura que nome gostaria de ver escolhido?
Um poeta.
Voltando à data do seu nascimento: 1950. Esta foi a década da explosão de um género de música que iria revolucionar a cultura mundial: o rock n’ roll surgia aí em toda a sua glória, com nomes como Chuck Berry e Elvis Presley. É apreciador deste género musical?
Não é muito a minha música. É pergunta para os meus filhos.
Que música gosta de ouvir?
Música clássica (ou erudita, como se diz agora), instrumental ou vocal, canção americana dos anos 40 e 50, canção francesa dos anos 50 e 60, fado.
Qual é a cidade/ou lugar a que volta sempre?
Lisboa.
Coloque pela ordem com que mais se reconhece. Luís Filipe Castro Mendes é: poeta, diplomata, conselheiro.
Poeta e diplomata.
Texto: Tânia Pinto Ribeiro
Fotografias: gentilmente cedidas por Luís Filipe Castro Mendes
Publicações Relacionadas
-

-
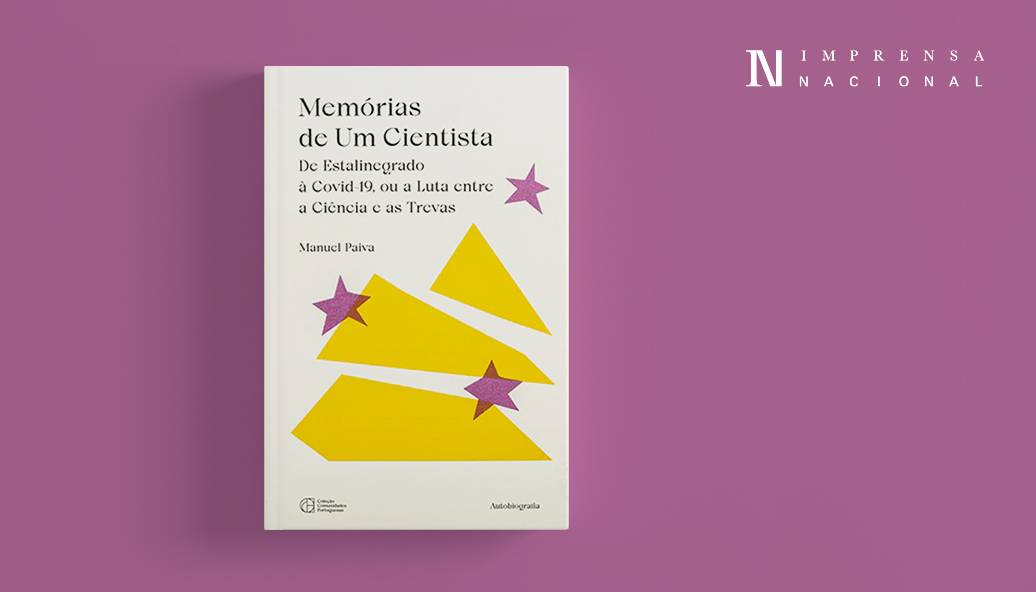
Novidade Editorial | Memórias de Um Cientista, de Manuel Paiva
14 Fevereiro 2023
-

Imprensa Nacional ao serviço de todos os portugueses
09 Junho 2022
-
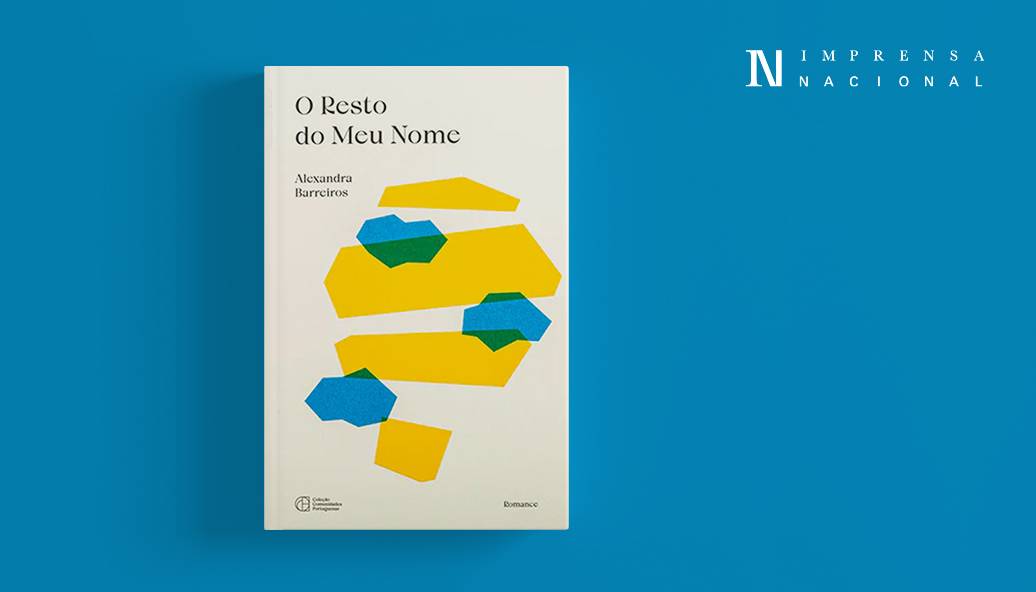
Novidade editorial | O Resto do meu Nome, de Alexandra Barreiros
14 Fevereiro 2023
-

Mónica Vieira-Auer
08 Novembro 2021
Publicações Relacionadas
-
Mónica Vieira-Auer
Há 2 dias







