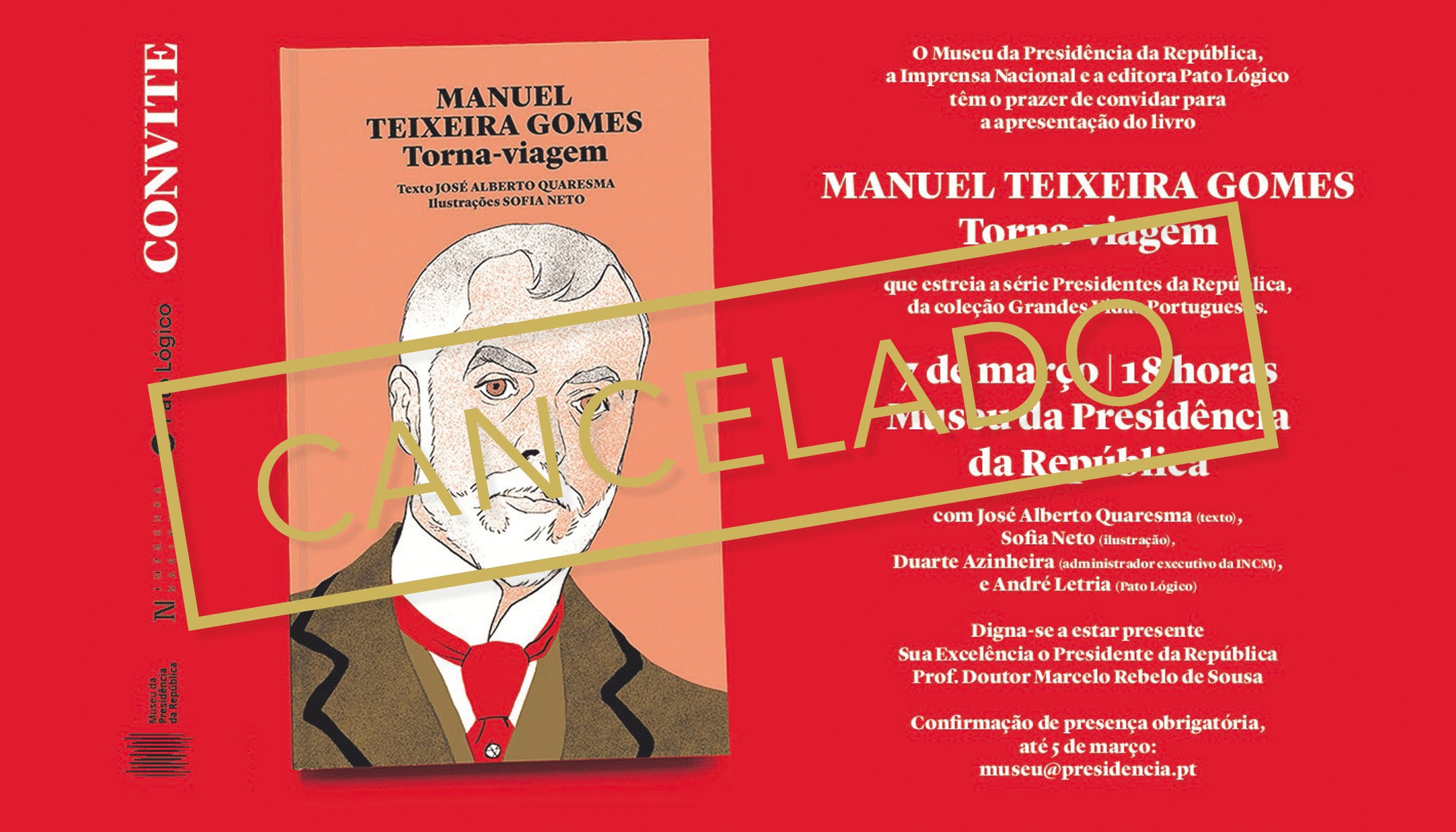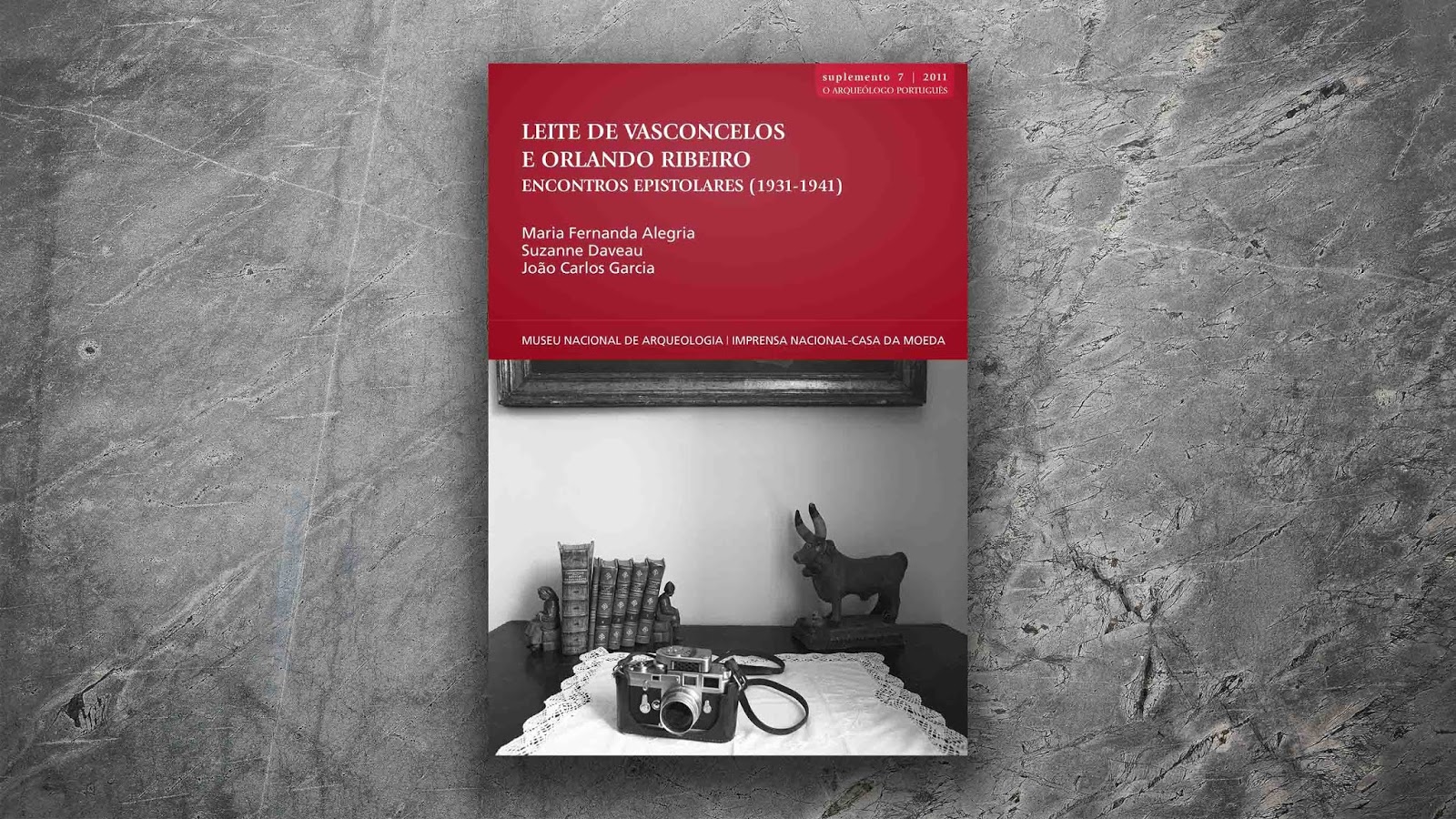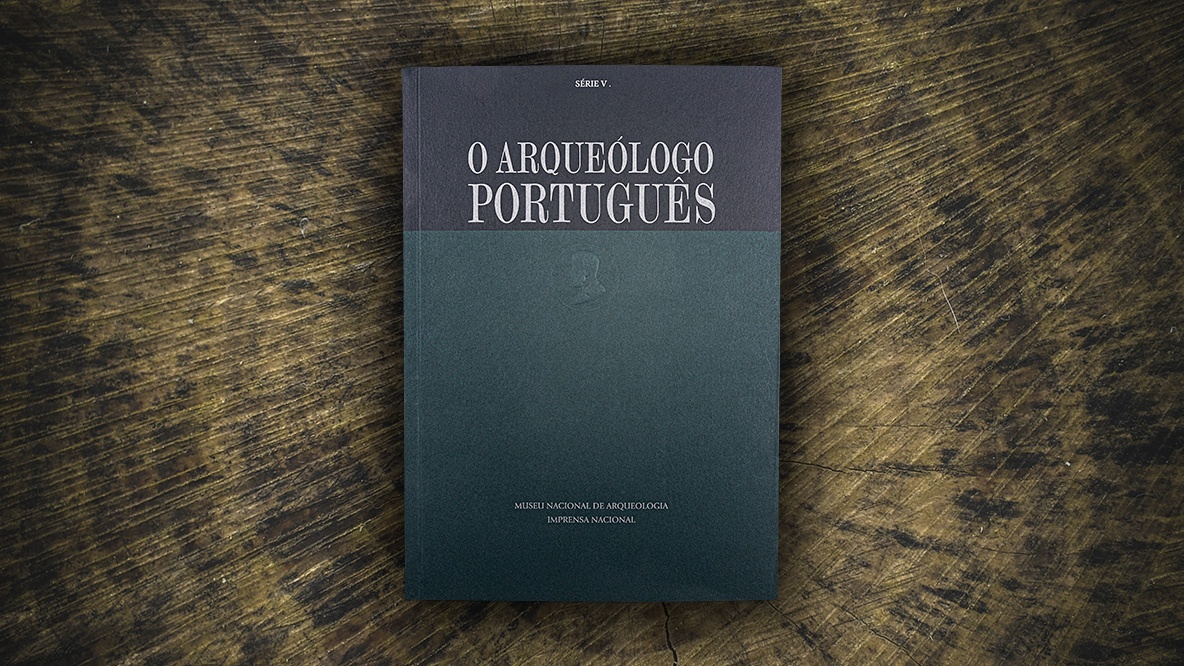Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
António Carvalho em entrevista — «O Património cultural não tem preço»
Arqueologia, a palavra fascina. E Hollywood sabe-o bem. Indiana Jones ou Lara Croft mitificam e povoam o imaginário sobre o tema. Prova disso: em junho de 2015 mais de dez mil leitores da revista Empire escolheram as melhores personagens de sempre da história do cinema. E foi o famoso arqueólogo, celebrizado por Harrison Ford, que ganhou o primeiríssimo lugar no pódio, afastando o brilhante agente secreto 007 para um honroso 2.º lugar. Mas os chicotes, as perseguições e as pistolas estão muito longe de corresponder à vida real de um arqueólogo, onde o mistério e a aventura têm contornos bem diferentes.
O verdadeiro arqueólogo — hoje, já rendido às novas tecnologias — persegue a aventura do estudo e do conhecimento e substitui as armas por pás, picaretas e, claro, também pelas máquinas digitais.
Recordemos, por exemplo, a figura de Howard Carter, que descobre o túmulo de Tutankhamon, um homem de fato, estudioso, concentrado; ou a de Estácio da Veiga, engenheiro que um dia sonhou erguer um museu no Algarve e, hoje, é uma figura incontornável da arqueologia portuguesa.
Quem nos dá este alerta é António Carvalho, diretor, desde 2012, do Museu Nacional de Arqueologia (MNA). É este o museu com mais bens classificados como tesouros nacionais, alguns de valor incalculável. Terá surgido por motivos patrióticos, logo a seguir ao Ultimato Inglês e hoje, seguindo os desígnios do seu fundador, Leite de Vasconcelos, continua a ser «o museu mais local de todos os museus nacionais», possuindo objetos arqueológicos que representam quase todos os concelhos do País, e que têm constituído ao longo dos anos objeto de estudo de gerações e gerações de arqueólogos.
Não é de estranhar, portanto, que em plena praça do Império, em Lisboa, se erga um dos museus mais visitados do país. Espaço de exposições permanentes e temporárias, entre elas a das cobiçadas múmias do Egito. Local de encontros intergeracionais, cuja biblioteca conta com um acervo de mais trinta mil obras, muitas delas exemplares únicos, que fazem também dele Arqueologia, a palavra fascina. E Hollywood sabe-o bem. Indiana Jones ou Lara Croft mitificam e povoam o imaginário sobre o tema. Prova disso: em junho de 2015 mais de dez mil leitores da revista Empire escolheram as melhores personagens de sempre da história do cinema. E foi o famoso arqueólogo, celebrizado por Harrison Ford, que ganhou o primeiríssimo lugar no pódio, afastando o brilhante agente secreto 007 para um honroso 2.º lugar. Mas os chicotes, as perseguições e as pistolas estão muito longe de corresponder à vida real de um arqueólogo, onde o mistério e a aventura têm contornos bem diferentes.
O verdadeiro arqueólogo — hoje, já rendido às novas tecnologias — persegue a aventura do estudo e do conhecimento e substitui as armas por pás, picaretas e, claro, também pelas máquinas digitais. Recordemos, por exemplo, a figura de Howard Carter, que descobre o túmulo de Tutankhamon, um homem de fato, estudioso, concentrado; ou a de Estácio da Veiga, engenheiro que um dia sonhou erguer um museu no Algarve e, hoje, é uma figura incontornável da arqueologia portuguesa.
Quem nos dá este alerta é António Carvalho, diretor, desde 2012, do Museu Nacional de Arqueologia (MNA). É este o museu com mais bens classificados como tesouros nacionais, alguns de valor incalculável. Terá surgido por motivos patrióticos, logo a seguir ao Ultimato Inglês e hoje, seguindo os desígnios do seu fundador, Leite de Vasconcelos, continua a ser «o museu mais local de todos os museus nacionais», possuindo objetos arqueológicos que representam quase todos os concelhos do País, e que têm constituído ao longo dos anos objeto de estudo de gerações e gerações de arqueólogos.
Não é de estranhar, portanto, que em plena praça do Império, em Lisboa, se erga um dos museus mais visitados do país. Espaço de exposições permanentes e temporárias, entre elas a das cobiçadas múmias do Egito. Local de encontros intergeracionais, cuja biblioteca conta com um acervo de mais trinta mil obras, muitas delas exemplares únicos, que fazem também dele um dos museus mais fascinantes.
Segue-se a primeira cruzada da Imprensa Nacional neste templo de portas abertas ao público e à investigação, guiada por António Carvalho, seu diretor e fiel guardião. E começamos por uma ligação histórica que une o MNA à INCM: a publicação do Arqueólogo Português, um arquivo vivo da arqueologia portuguesa, mas que não se esgota aí.
IN — O Museu Nacional de Arqueologia (MNA) e a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) celebraram, em 2011, um protocolo de cooperação pelo qual a INCM volta a ser a editora do MNA, como no tempo de José Leite de Vasconcelos. Que vantagem vê nesta parceria?
AC — Em primeiro lugar, uma vantagem histórica. O MNA é um museu feito por Leite de Vasconcelos, proposto por Leite de Vasconcelos, em 1893, como Museu Nacional. O MNA é construído com o projeto de museu nacional.
Há uma ideia que o Dr. Luís Raposo, meu antecessor no cargo, desenvolveu muito, que é a ideia do museu-resposta ao Ultimato Inglês. Um museu que se vem afirmar por exaltação da identidade nacional. O Ultimato Inglês dá-se em 1890, e o museu é de 1893. Portanto, o museu que está a maturar na cabeça de Leite de Vasconcelos surge como resposta ao Ultimato Inglês. E Bernardino Machado, ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria do rei, concretiza-o. E assim o museu aparece como projeto de museu nacional, para tratar o presente etnográfico e o passado arqueológico.
Ora, sendo José Leite de Vasconcelos uma figura marcante da cultura portuguesa nessa época e ao longo da primeira metade do século XX, e sendo autor da INCM, é normal que tivesse pensado que era a INCM a editora ideal, o local próprio — eu insisto neste conceito — para que as publicações, nomeadamente o órgão oficial do Museu, O Arqueólogo Português, ficasse ali «amarrado». E a editora do Estado ser a editora do museu nacional — o museu que surge como museu nacional: o Museu Etnográfico Português, depois Museu Etnológico e depois Museu Nacional de Arqueologia — é, realmente, extremamente relevante. Esta questão tem de ser vista numa dupla dimensão, face ao Leite e à sua obra. O Leite é autor de muitas outras obras, publicadas antes e depois de o Museu Nacional de Arqueologia existir, ligadas à INCM.
Estamos a pensar provavelmente só em arqueologia, nesta conversa. Mas não devemos.
|
|
IN — Etnografia, certamente?
AC — Sim, etnografia portuguesa. Há muitas obras que são publicadas na Imprensa Nacional, a partir de 1895, data em que Leite de Vasconcelos publica o primeiro volume de As Religiões da Lusitânia. Por um lado, é um autor da INCM. Por outro lado, O Arqueólogo Português, como publicação de referência, é uma das mais antigas publicações de arqueologia da Europa.
IN — Trata-se de uma publicação centenária.
AC — É uma publicação centenária. Uma publicação de referência ligada à INCM, e que vai servir de base à constituição da biblioteca especializada que o Leite acredita que o museu tem que ter para, com O Arqueólogo, se estabelecer um sistema de permutas internacionais. São coisas que para nós, hoje, são de uma normalidade quase banal, mas que são muito avançadas para a época — o Leite idealiza um modelo em que, por um lado, a editora do Estado imprime a obra magna da arqueologia; e, por outro lado, isto permite-lhe constituir a biblioteca a partir das permutas internacionais que faz com O Arqueólogo Português.
Hoje a INCM edita um Arqueólogo (o suplemento, que é uma coisa recente; mas na altura é O Arqueólogo, 1.ª série), presente em muitas bibliotecas onde está referida a INCM, graças ao sistema de permutas que o Leite de Vasconcelos cria. Portanto, a ligação à Imprensa Nacional é: o museu que ele idealiza como museu nacional ligado à editora do Estado; editora do Estado de que ele vai passar a ser autor a partir de 1895 com As Religiões da Lusitânia.
Três das obras principais de Leite de Vasconcelos estão na Imprensa Nacional: As Religiões da Lusitânia, 3 volumes, que vocês inclusive já (re)editaram nos anos 1980, se não me falha a memória; A Etnografia Portuguesa, e O Arqueólogo Português.
E depois todas as outras. Coisas normais, como Cartas [de Leite de Vasconcelos] a Francisco Martins Sarmento, seu mentor. Mas também na medalhística: Sete Medalhas da Guerra Peninsular, Medalha da Sociedade Económica de Ponte de Lima; na numismática: Inventário das Moedas Portuguesas da Biblioteca Nacional ou Elenco das Lições Numismáticas dadas pela Biblioteca Nacional. Ou uma obra muito interessante dele: De Campolide a Melrose, relação de uma viagem de estudo (filologia, etnografia, arqueologia); ou Pelo Sul de Portugal — Baixo Alentejo e Algarve; ou De Terra em Terra, excursões arqueológico-etnográficas, através de Portugal do norte, centro e sul, de 1927.
Portanto, são vastos os temas. Não é um autor que publique só sobre arqueologia. Leite de Vasconcelos é um filólogo, é um etnógrafo, é um arqueólogo, é um numismata, é um epigrafista, um historiador, é um homem que se dedica a imensas áreas… E até à data da sua morte, em 1941, a Imprensa Nacional é a sua casa editora.
Quando o Dr. Luís Raposo renovou a ligação à INCM, foi reconstituída uma ligação natural. E eu tenho acarinhado essa ligação natural. Neste momento até há um protocolo, um segundo «protocolo-chapéu» — gosto muito desta expressão — que é o protocolo da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), de 2013, que enquadra a relação da DGPC com a INCM; nomeadamente para catálogos de exposições — daí O Tempo Resgatado ao Mar, etc. — mas que não anulou o protocolo de 2011. A relação da INCM com o MNA tem um valor histórico. Não autónomo do ponto de vista orgânico, uma vez que a DGPC é a entidade que tutela o MNA; mas o da DGPC não anulou o do MNA; antes acrescentou. Por isso é que eu falo em «protocolo-chapéu».
IN — O que representa hoje esta revista para a arqueologia?
AC — Temos que analisar O Arqueólogo Português sob dois pontos de vista. Perspetiva n.º 1: é uma publicação que surge em 1895, e funciona como arquivo de memória da arqueologia portuguesa, como repositório. Há bases de dados, setoriais ou nacionais — feitas posteriormente, já na época contemporânea — em que O Arqueólogo Português é citado milhares de vezes. Era a grande revista onde publicava o Museu Nacional, dirigida por esse homem até 1929; depois dirigida pelo Prof. Manuel Heleno; mais tarde por D. Fernando de Almeida; e depois continuada por todos os outros diretores: o Dr. Francisco Alves, já no pós-25 de Abril; o Dr. Luís Raposo, e agora continua comigo.
Claro está que, quando olhamos para o século XIX ou para o início do século XX, a revista funciona como arquivo histórico da arqueologia, como repositório. Quando olhamos agora para épocas mais recentes, em que há mais revistas, vemos que O Arqueólogo Português disputa o espaço com outras revistas. Todavia, os autores ainda gostam de ali publicar. O Arqueólogo Português está neste momento, sob minha orientação e com uma equipa do próprio Museu, a implementar um sistema de peer review para que possa ser um espaço disputado, incluindo, obviamente, a questão da discussão interpares para que tenha mais reconhecimento, mais credibilização.
IN — O primeiro Suplemento nestas condições tem por título Leite de Vasconcelos e Orlando Ribeiro. Encontros Epistolares, sendo autores Maria Fernanda Alegria, Suzanne Daveau e João Carlos Garcia. O que revela esta atividade epistolar?
AC — O Dr. Leite de Vasconcelos congregava à sua volta um conjunto de nomes de reputadas figuras que nos habituámos a reconhecer, e que começaram o seu percurso como seus alunos, como seus colaboradores. Uma dessas figuras é o geógrafo Orlando Ribeiro, que poderia ter sido diretor do MNA, se a escolha não tem recaído sobre o Prof. Manuel Heleno, em 1930. De qualquer maneira, o que é importante registar aqui é que temos que ancorar a importância destes encontros epistolares entre [19]31 e [19]41 — 1930-1931 coincidiu com a saída do museu e 1941 com a sua morte — com o universo de um homem em que o ato da correspondência ocupa um lugar absolutamente decisivo na sua vida. E está aqui o livro, aliás, com a chancela da Imprensa Nacional.
Aqui no museu conservamos um pouco mais de 27 mil de cartas recebidas. É o chamado «epistolário de Leite de Vasconcelos». A isto temos que somar a correspondência que ele próprio escreveu e expediu; porque estas cartas tiveram resposta ou são elas próprias respostas a outras cartas. É desta correspondência ativa e passiva que nós temos a dimensão de uma pessoa e da sua obra; é da soma destes dois lados. Ora, este volume muito importante da correspondência com Orlando Ribeiro — o geógrafo de referência, pai da geografia humana em Portugal, um homem absolutamente único, com uma obra também ela de referência — é um testemunho dessa grande produção epistolar… Podia citar outras, por exemplo, a troca epistolar com Francisco Martins Sarmento, da Sociedade Martins Sarmento. Esta é uma das dimensões de Leite de Vasconcelos: ter alimentado uma troca de correspondência muito significativa.
IN — Isto referente a uma década.
AC — Neste caso, só se publica durante uma década. Mas o epistolário de Leite de Vasconcelos é vastíssimo. Aqui no museu temos mais de 27 mil cartas, recebidas. Fora as expedidas. Temos que pensar que uma carta não é um ato isolado; é sempre resposta a outra que é mandada, ou é ela própria geradora de respostas.
IN — Leite de Vasconcelos é para si o impulsionador da arqueologia em Portugal?
AC — Não. Não é o arqueólogo profissional português. O arqueólogo profissional, assumidamente arqueólogo, é o Estácio da Veiga.
O Leite de Vasconcelos é — vou usar uma expressão do Prof. Pais de Brito, de que gosto imenso — o «delimitador dos limites das ciências»; onde é que elas começam e acabam. E preenche-as. A filologia, o que é? O barranquenho, a arqueologia, a epigrafia, a numismática, os estemas, o cante alentejano… ? Ele tem um texto precoce sobre o cante alentejano; sobre a desmontagem do ponto de vista da rima. É um delimitador, um definidor.
O Leite de Vasconcelos é o enciclopedista. Também é arqueólogo. Mas é o construtor de museus, o construtor de uma obra nacional, é uma figura da cultura portuguesa.
O Estácio da Veiga não é, nesse sentido, uma figura da cultura portuguesa.
IN — Contextualize-nos o Estácio da Veiga.
AC — O Estácio da Veiga é um engenheiro, que em vida rivaliza com o Leite de Vasconcelos, na perspetiva que ambos têm para a arqueologia. Estácio da Veiga queria fazer um museu regional do Algarve, que publicasse as antiguidades monumentais do Algarve, as antiguidades monumentais de Mafra, e de Mértola — sítios onde está a trabalhar e aproveita para trabalhar nesses temas. De qualquer maneira, é uma pessoa que visa conhecer uma região, o Algarve e fazer um museu regional do Algarve.
Já, o Leite de Vasconcelos quer fazer um museu nacional que conte a história do homem português. O Leite não recolhe informação só pela arqueologia, precisa também da etnografia — por isso é que, à data em que funda este museu, o chama de Museu Etnográfico Português. O Leite de Vasconcelos tem essa dimensão global.
IN — Em mais de um século de existência, este museu constituiu-se na instituição de referência da arqueologia portuguesa. Que desafios traz esta responsabilidade para o diretor?
AC — Há um colega nosso que por graça diz sempre «a casa-mãe da arqueologia portuguesa». E isto, que é uma graça, tem uma dimensão real. O MNA é um museu que conserva um espólio arqueológico relativo a praticamente todos os concelhos de Portugal, produto das excursões científicas que o fundador fazia, e depois dos trabalhos subsequentes de muita gente que se relacionava com ele e enviava para cá o espólio. Ou, em épocas posteriores, também uma consequência dos trabalhos arqueológicos que os diretores e outros funcionários do museu dirigiam, um pouco por todo lado.
Depois, a realidade mudou a partir dos anos 70. O MNA já não é o espaço que incorpora o espólio recolhido, já não incorpora o espólio que é recolhido um pouco por todo lado; e nem podia ser assim. Hoje incorpora-se muito pouca coisa no museu, porque o espaço não é elástico. O espólio hoje é incorporado em museus municipais. Como então. Só que a posição do MNA hoje em dia é de um grande ascendente sobre esse espólio.
Todavia, é importante perceber-se as coleções que se incorporam no museu: quer as coleções de Leite de Vasconcelos quer outras posteriores são de tal maneira coleções de referência, que são objeto de estudo de muitas gerações de arqueólogos. Temos sempre novos olhares sobre velhas coleções. E isto é muito interessante: há sempre gerações de gentes, de arqueólogos, de estudiosos que se renovam no museu, olhando muitas vezes para as mesmas coleções. Por outro lado, nunca tudo o que existe no MNA foi estudado. Do ponto de vista da representatividade, o MNA tem objetos arqueológicos de todos os concelhos, ou quase todos os concelhos. Como costumo dizer muitas vezes, a brincar com este tema que é sério: o MNA é o museu mais local de todos os museus nacionais, porque é um museu que vive a partir dessa soma dos localismos todos. Por outro lado, quando eu falo desta comunidade que se renova, estou a falar do museu que provavelmente tem mais bolseiros da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) a trabalhar em permanência. Sim, temos cerca de 60 bolseiros da FCT. É muita massa humana forte, digamos assim. O músculo científico do museu.
IN — Há facilidade em conseguir essas bolsas?
AC — Temos muitas bolsas. A FCT dá bolsas, e o Museu tem uma longa tradição de ser parceiro desses projetos de doutoramento, de mestrado ou de projetos de investigação financiados. Hoje mesmo chegou mais um projeto para o museu fazer: ser parceiro do Museu do Ar.
O museu é o espaço onde essas coleções se conservam, não é o espaço onde se expõem. Tem reservas muito importantes. O museu tem uma política de portas abertas. Há investigação, como essa tal «casa-mãe da arqueologia portuguesa». Aqui neste museu vemos as gerações de arqueólogos renovarem-se. Por isso mesmo cito esta frase: «Novos olhares sobre velhas coleções».
IN — Fale-nos um pouco da biblioteca aqui do MNA, com um acervo que conta já com cerca de vinte e duas mil obras.
AC — Exatamente. A biblioteca do MNA é criada por decreto em 1901. Muita atenção a este detalhe: não é uma biblioteca que se constitui dentro do museu por vontade do diretor; o diretor constitui, e o Estado português ratifica essa constituição. Quer o museu quer a biblioteca são instituições criadas por decreto em 1901, sempre estiveram no espírito do fundador. Leite de Vasconcelos acreditava que uma biblioteca de referência era fundamental para apoiar o desenvolvimento do museu e acumular conhecimento. Hoje, temos cerca de 30 mil monografias, 1800 títulos de publicações periódicas, e ainda manuscritos, livros antigos, literatura de cordel, arquivos pessoais e, à cabeça, o legado de Leite de Vasconcelos. Mas também ilustração, fotografia, etc.
IN — Há algum livro que queira realçar pelo seu valor histórico?
AC — Poderia realçar muitos! Podia, inclusive, realçar documentos que fazem parte de listas de «património a salvar em caso de guerra». É assim, por exemplo, que o segundo diretor deste museu se refere em 1953 a um conjunto de bens, no quadro de um levantamento que fez. Poderia realçar O Cancioneiro Fernandes Tomás, a Sátira de Feliz e Infeliz Vida [1468], de D. Pedro de Portugal, outro manuscrito do século XV, Livro de Horas e Iluminuras, de meados do século XV, uma Cartilha de El-rei D. João III… Podia citar bastantes.
IN — E são exemplares únicos os que estão aqui?
AC — São exemplares únicos.
IN — E do museu o que é que destaca? Uma peça, por exemplo.
AC — O MNA é o museu nacional com mais bens classificados como Tesouros Nacionais, bens de interesse nacional, mais de 950 itens, que abarcam muitos períodos e também permitem apresentar diferentes tipologias de materiais. Poderia destacar, por exemplo, a seleção que fizemos para a exposição Lusitânia Romana: Origem de Dois Povos, que esteve patente ao público em Mérida até 30 de setembro. Depois virá para o MNA, e depois vamos preparar a sua apresentação em Madrid, no Museo Arqueológico Nacional. Apresentamos nessa exposição um conjunto de tesouros nacionais que abarcam vários tipos de peças; neste caso da época romana, mas temos tesouros nacionais de outras épocas. Temos peças bem diferentes. Por exemplo, os Guerreiros Galaicos, peças de ourivesaria, determinadas peças metálicas, por exemplo, a peça Lameira Larga, que é uma peça muito bonita. Enfim, são mais de 950 bens!
|
|
IN — É possível quantificar o valor destes tesouros?
AC — O património cultural não tem preço. É intangível, do ponto de vista desse valor. Agora, quando fazemos uma exposição internacional, definimos um valor por peça, que é o valor que temos de comunicar à seguradora para efeitos de fazer deslocar esse bem. Esse seguro que fazemos é o chamado seguro de Estado que é complementado, no nosso caso, pelo seguro de outro mecenas, outro parceiro especial que nós temos, na área dos museus nacionais e que, por acaso, tem o mesmo nome da exposição que falámos há pouco (a palavra «Lusitânia» é uma palavra muito usada na nossa cultura).
Como é que nós chegamos ao valor da peça? Em função de múltiplos critérios: raridade, estado de conservação, enfim, muitos critérios.
IN — Qual a diferença entre uma relíquia e uma antiguidade?
AC — Depende do contexto em que a frase é dita. O termo «antiguidade» tem uma dimensão histórica. Antiguidade — está convencionado em termos históricos — é uma época. Dá-nos um conceito histórico, uma cronologia, um ambiente cultural, uma época. Se eu disser a «Antiguidade Clássica» estou a falar de Grécia e Roma.
O valor que me ocorre para a palavra «relíquia», em primeiro lugar, não é o de uma riqueza; é um valor religioso. São os vestígios muitas vezes antropológicos de um determinado mártir ou de um determinado santo. São vestígios aos quais a Cristandade dá valor como relíquias. Uma antiguidade com valor é uma «relíquia». Dizemos isso de um automóvel antigo, ou de uma peça de mobiliária com a qual temos uma boa relação, uma relação de afeto. Mas teve de haver também um juízo sobre o valor da peça.
IN — Mas fazem-se os mercados de antiguidades…
AC — Isso é outra coisa! É outro valor semântico da palavra. «Mercado de antiguidades» inclui a palavra «mercado» que já dá a dimensão económica daquilo de que estamos a tratar. E aí «antiguidades» já não diz respeito à antiguidade clássica, porque está no plural mas a coisas com algum tempo. Mercado de antiguidades é um mercado de coisas antigas (velharias), neste caso, com valor (relíquias).
IN — Em arqueologia diz-se «achados» ou «descobertas arqueológicas»?
AC — É muito bem colocada a questão. Se estiver a escavar, diz-se «exumados». Se já tiver usado a palavra exumado várias vezes e precisar de uma palavra diferente, digo «identificado» ou «recolhido». Sendo que, para o «recolhido», posso não estar a escavar. Não uso muito «achado», embora já tenha havido uma época que usava. E «descobertas» implica que não esperávamos que aquilo estivesse ali e de repente apareceu.
IN — A descoberta implica uma procura?
AC — A descoberta implica uma surpresa e o achado também. A expressão «achado», ou «achados arqueológicos», usamo-la mas mais na oralidade. Na escrita usamos «identificar», «exumar», «recolher».
IN — Qual a última identificação, exumação, descoberta arqueológica a vir para o museu?
AC — Primeiro, temos que perceber um conceito, que é o de «aquisição». Como é que as peças entram nos museus? As peças entram por «aquisição», por «doação», entram eventualmente por «depósito» de um arqueólogo. Mas a todas estas palavras está associada uma outra que vamos usar aqui neste caso, para a sua pergunta: «incorporação». Falamos em incorporação de bens no museu. A última grande incorporação, já comigo à frente do museu, não foi a incorporação de uma peça excecional; foi o resultado de um processo de materiais da pré-história que estava cá para ser resolvido. Vamos usar para esse caso, em vez da palavra incorporação, «apresentação». A peça que temos lá em baixo, proveniente do Alqueva, O Touro — aquele touro do [sítio arqueológico] Cinco Reis 8 — é uma apresentação. Não é uma incorporação do MNA, é um depósito para apresentação. Há muitas formas de as peças chegarem cá: pode ser um depósito para uma exposição temporária, pode ser cedência temporária, pode ser uma incorporação.

IN — E na parte de ourivesaria, chegou alguma coisa ao museu?
AC — Recentemente daquele calibre, não. Infelizmente!
IN — Há quanto tempo é que não recebe nada para a Sala do Tesouro?
AC — A última incorporação para a Sala do Tesouro, é anterior à minha chegada. No entanto estivemos no outro dia a tratar de um processo de incorporação de uma peça que já cá estava. A palavra «incorporação» implica simultaneamente «entrar» e «legalizar». No outro dia legalizámos uma peça que já cá estava há muito tempo, uma peça da zona de Vila Franca de Xira, em ouro, que já tinha entrado no museu, mas ainda não estava incorporada no espólio do museu. Não estava exposta, sequer. Faltava ser incorporada no espólio, para pertencer ao Estado português, o que só aconteceu há muito pouco tempo.
IN — Como funciona esse processo nos termos da lei?
AC — Dentro dos termos da lei, há um processo que se instrui até chegar a despacho da tutela.
IN — O museu incorpora algumas coisas preferencialmente?
AC — Incorpora. Tenho neste momento em cima da mesa um assunto para tratar, que é a eventual aquisição para incorporação de um vaso grego de uma coleção particular.
No sentido da pergunta — «como é que nós nos relacionamos com a atividade arqueológica?» —, o MNA, desde a década de 1970 para cá, já não incorpora tudo aquilo que recebe, tudo aquilo que se escava. Muita coisa vai para outros museus. Felizmente, o país evoluiu e há muitos museus. E, além disso, incorporamos as peças com valor museológico, com valor científico de grande importância. O Menino do Lapedo, por exemplo, está cá. Porquê? Porque aquele resto antropológico, daquela importância científica e patrimonial, tem que estar no MNA. Não está exposto, mas está cá.
IN — O MNA é um dos museus mais visitados do País.
AC — Pelas estatísticas de 2014, é o 4.º O 1.º é o Museu Nacional de Arte Antiga, depois o Museu Nacional do Coches, o 3.º o Museu Nacional do Azulejo e o 4.º o Museu Nacional de Arqueologia. É um dos museus da esfera pública mais visitados do País.
|
|
IN — Que razões é que aponta para este sucesso?
AC — Bem, há uma razão absolutamente fundamental e evidente, que é: o MNA está na Praça do Império. Está no perímetro desta «sala de receções» de Lisboa.
IN — Falou-se em mudar o museu para outro sítio. Isso está fora de questão? Vai permanecer aqui?
AC — Há muitos anos. Hoje não é questão que se coloque, não. Certamente vai permanecer aqui, tanto quanto se pode prever o futuro. Não é tema que se discuta. Falou-se na Cordoaria, como nos anos 1950 se falava do sítio onde está hoje a Torre do Tombo. Sabia que houve um projeto para o museu, para o sítio onde está hoje a Torre do Tombo? Está publicado numa edição da INCM; um livro chamado Manuel Heleno. Fotobiografia.
No passado discutiram-se várias localizações. Neste momento não se discute a mudança do museu daqui [do Mosteiro dos Jerónimos] para fora.
Primeiro dado — o perímetro onde está situado.
Segundo dado, extremamente importante — como é que se explica a uma criança da escola, à comunidade educativa, um conjunto de realidades assim como no Museu de Arqueologia? Uma coleção que atrai muito as crianças da escola e a comunidade educativa, professores e alunos, é a Coleção Egípcia, com as múmias. Atrai imenso!
Depois, o museu tem realmente umas peças de inegável qualidade estética, artística, arqueológica, cultural. Muitas das quais se podem ver na Sala do Tesouro ou nas Religiões da Lusitânia.
Depois — deixe-me um bocadinho «vender o peixe» da nossa relação com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, que também é justo —, a nossa exposição O Tempo Resgatado ao Mar atraiu muita gente. Nós não vamos ao fundo do mar. É um local inacessível. E daí a importância da exposição: o espólio que vem do fundo do mar, que o mar conserva para nós, que resgatamos ao mar (mas de que o mar é o ambiente de conservação) atraiu muito público. O museu este ano teve uma subida muito grande, muito graças à exposição O Tempo Resgatado ao Mar, porque permite às pessoas verem um conjunto de bens culturais e de reconstituição de espaços que vêm do fundo do mar. E o fundo do mar é um ambiente misterioso…
Mais do que dizer que é o 4.º museu, é importante o crescimento do museu em termos de público, porque ultrapassou a fasquia dos 100 mil visitantes por ano.
Aquela espada [que está exposta] veio do fundo do mar. Não tem tratamento possível, porque é só concreção calcária. E portanto, já que a íamos expor, deixámo-la dentro de água para ter esse elemento água na exposição. Ciclicamente temos que mudar a água, porque fica toda verde; tem lá tudo para haver vida: tem luz, tem água… Enfim, também tem umas substanciazinhas que vocês não veem, para que não cresçam «florestas» dentro de água [risos]. Mas tem um valor cenográfico, que é o facto de ser água, e a sugestão do ambiente de onde provém a maior parte daqueles objetos.
Portanto, a nossa exposição O Tempo Resgatado ao Mar é uma exposição que celebrava os 30 anos de arqueologia subaquática. Mas é uma exposição que nos remete para uma outra questão política, que é muito importante: a defesa do património quando nos confrontamos com a extensão da plataforma continental. No momento em que Portugal discute, como desígnio nacional, a extensão da plataforma continental, o que é que temos que fazer com o património cultural português que essa extensão de plataforma continental nos dá? Muitas vezes não temos a possibilidade de tomar decisões, ou de ter um plano de ação para essa realidade. Mas temos a preocupação e a obrigação de colocar as questões. E esta exposição colocou claramente o património arqueológico subaquático em Portugal no centro do debate. Tem havido conferências, programas na rádio, várias ações. E houve uma comunidade — eu noto isso como diretor e utilizador do museu — que se renovou aqui. A exposição congregou essa comunidade. Arqueólogos náuticos e subaquáticos que não vinham ao museu há muitos anos, e que se reuniram em torno da exposição.
IN — Na sua História do Museu Etnográfico Português (1893-1914), Leite de Vasconcelos afirmou, em 1915: «achamo-nos assim indissoluvelmente ligados ao passado. Estudando este, prestamos pois culto aos venerandos velhos que nos legarão a herança que usufruímos» (p. 76). Num mundo com a informação tão acelerada e acessível, com análises instantâneas e soluções prontas a aplicar, que papel desempenha esta ciência, a arqueologia, de soluções aparentemente tão minuciosas e datadas?
AC — Há um nível absolutamente imediato, que é o nível da descoberta. E, se quiser, faça o teste. Agarre em alguém que está a conversar sobre qualquer matéria, e diga: «Houve uma descoberta arqueológica, na China, no Egito, na Mesopotâmia, em Portugal, em Espanha, etc.». E o seu interlocutor para para ouvir. Porque a arqueologia está indelevelmente associada à dimensão de descoberta. De «grande descoberta». Isso é o primeiro nível, que não está aí na frase de Leite de Vasconcelos. É o nível do século XX. É um nível que a National Geographic e os grandes programas de televisão acabaram por cavalgar: as grandes descobertas.
E, portanto, a história da humanidade é pontuada, principalmente no século XX, por momentos de grande descoberta — foi a descoberta da cidade mítica de Troia, foram as descobertas do túmulo de Tutankhamon, é a descoberta dos guerreiros em terracota na China… É incrível, a dimensão da descoberta! E uma coisa que é interessante é que, apesar de nós sabermos muito sobre o planeta onde vivemos, de ele estar muito escrutinado, muito prospetado, muito esquadrinhado, nós somos surpreendidos por descobertas grandes. Onde é que isto se vê? Por exemplo na China, naquelas descobertas. São descobertas que ocupam vastas áreas; o exército em terracota ocupa uma área muito significativa. E lá estava, todo enterrado.
IN — E aquela descoberta recente em Stonehenge…
AC — Exatamente! E para nós não havia dúvida: era um sítio arqueológico; um monumento da humanidade; uma maravilha da humanidade.
No Egito: grandes descobertas, permanentemente.
Ora, são sítios muito escrutinados onde ainda há grandes descobertas. Mesmo no território português, continua a haver.
IN — Quais?
AC — Por exemplo, o Alqueva. O Alqueva trouxe mais de 1800 sítios arqueológicos novos. Há realidades novas que foram descobertas com a escavação, com os trabalhos de minimização do impacto ambiental na reconstrução da barragem. Mas agora, uma outra coisa em que tem que se pensar: e a rede de rega? Os canais de rega para puxar aquela água para dentro do Alentejo e de Espanha? Isso tem dado descobertas incríveis! Ora, há uma nova arqueologia com a Barragem do Alqueva, em numerosos sítios…
IN — Já as barragens do Lindoso e de Foz Côa tinham dado origem a descobertas.
AC — E, recentemente, uma que não se construiu mas que deu origem a descobertas, por causa da prospeção intensiva: o Riba-Tua, o Sabor… são realidades novas.
Portanto, voltando ao tema: arqueologia é, em primeiro lugar, descoberta. Se falarmos a alguém em arqueologia, a pessoa pensa numa grande descoberta.
Depois, há aquilo que o Leite de Vasconcelos refere, que é o cruzamento de duas coisas: ele assume que é uma ciência — estamos a falar do conhecimento científico do final do século XIX, do positivismo. Leite de Vasconcelos tem a noção de que tem que inventariar porque se pode perder. Tem a noção de inventário; de que precisa da arqueologia para compreender a etnografia; mas também precisa da etnografia para compreender a arqueologia.
O que é a etnografia portuguesa? Há um primeiro grande levantamento — a Etnografia Portuguesa, uma edição da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, cujos três primeiros volumes foram publicados em vida do Leite — que é como disse uma vez numa conferência sabiamente o Dr. Pedro Roseta, o Portugal monvmenta ethnographica; o grande corpus do conhecimento etnográfico; o grande corpus de usos e costumes. O Leite de Vasconcelos, introduz a ideia de herança, de legado. A arqueologia busca o legado. Só que neste sentido duplo: o presente etnográfico e o passado arqueológico. E porque é que era preciso a etnografia? Era preciso, para compreender os usos e costumes dos povos. Um homem com a dimensão de Leite de Vasconcelos aplicava um código de leitura etnográfica ao reportório arqueológico que surgia. Portanto, ele olharia para um túmulo, e descrevia-o numa perspetiva também etnográfica, à época.
IN — Objetos de arte e objetos arqueológicos são a mesma coisa?
AC — Um objeto arqueológico, no sentido em que é recolhido em determinadas circunstâncias e tem uma determinada antiguidade, é um objeto da cultura material, da cultura artística de um determinado tempo e de uma determinada civilização. Por exemplo, quando eu falo da Dama de Elche, falo de uma obra de arte da cultura ibérica. Para a época e para os Iberos, é uma grande peça, é uma obra de arte. Como é para nós, hoje, uma peça de elevada qualidade. Portanto, não é sempre a mesma coisa; todavia há peças arqueológicas com valor de obras de arte.
por Tânia Pinto Ribeiro