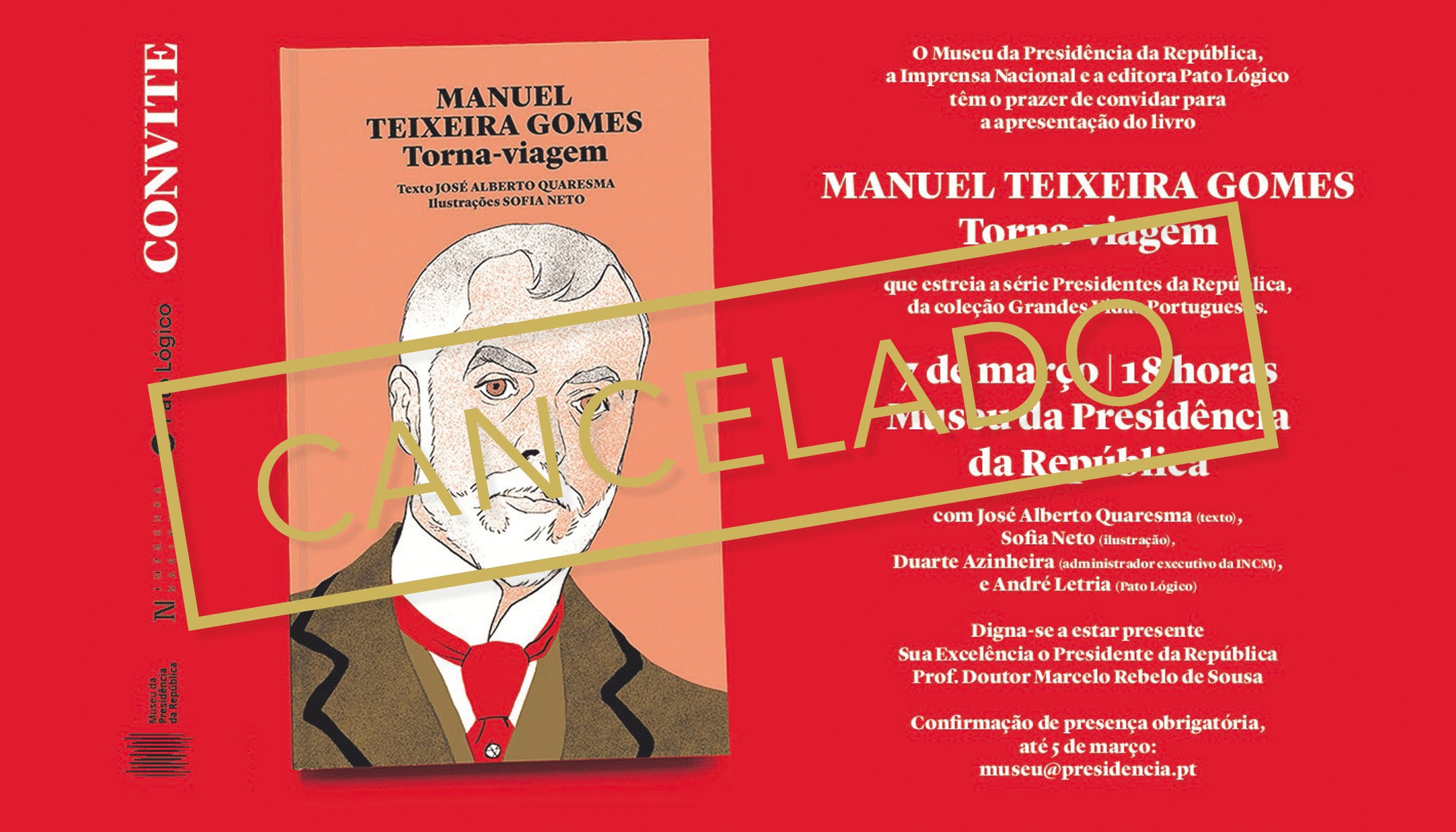No Dia Mundial da Água, instituído pela Organização das Nações Unidas, em 1993, e celebrado desde aí a 22 de março, transcrevemos um excerto da introdução que Barbara Spaggiari, profunda conhecedora da poesia de Camilo Pessanha, fez à obra que imortalizou este autor: Clepsidra, publicada pela primeira vez em 1920.
O elemento «água» é um tema recorrente na miríade temática da poética de Camilo Pessanha, muitas vezes representa metaforicamente a passagem inevitável do tempo, a começar logo pelo título com que Pessanha nomeou o seu livro: Clepsidra, título simbólico, que se refere a um relógio antigo, de origem egípcia, que media o tempo pelo escoamento de água num recipiente graduado.
O elemento «água» na poesia de Pessanha surge também como sinal de profundidade, simbolizando a distância abissal entre o sujeito poético e o seu passado — lugar temporal preferido de Pessanha, como podemos constatar nos versos do seu soneto «Singra o navio. Sob a água clara [Vénus II]»:
« Singra o navio. Sob a água clara/ Vê-se o fundo do mar, de areia fina… /— Impecável figura peregrina, / A distância sem fim que nos separa!» (pág. 67).
Está publicado na coleção «Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa», coordenada por Carlos Reis e com a chancela da Imprensa Nacional.
(…)
Pessanha testemunha nas suas poesias a fidelidade absoluta a
um núcleo restrito de temas, que é a projeção, no plano poético,
de um nó existencial nunca resolvido. Nem a razão, nem Deus
conseguem dar um sentido qualquer à existência, a partir do momento
em que a razão lhe nega a evasão pela abstração onírica, e
a falta de fé lhe retira qualquer suporte metafísico. A fuga para o
passado é um modo de continuar a iludir-se. Até a memória,
consequentemente, cessa de dar conforto, uma vez que a racionalidade
do adulto tem destruído todas as ilusões, num desespero
irrevogável pondo a nu a incomensurabilidade entre o desejo e o
objeto real.
No olhar do poeta, ora aceso, ora cansado, ora absorto, a realidade
refrata-se como num espelho partido; assim dissociada e
fragmentada, oferece as suas frações cortantes para construir correlações
e analogias, símbolos e metáforas, em que as coordenadas
espaciais se anulam, as referências histórico-biográficas se tornam
fugazes, contornos, tons e cores adquirem uma fluidez que se
transmite ao ritmo do verso.
A perceção lúcida de um movimento incessante, tão vão
quanto inútil, faz com que as imagens, reflexo do real, sejam também
elas imparáveis e fugidias, formas transitórias e evanescentes
que debalde se tentam fixar. As categorias percetivas fundem-se
e subvertem-se na sinestesia, associadas apenas pela natureza efémera
do seu ser. Iludida a noção de lugar e de espaço, o mundo
externo é colhido no seu devir fragmentário.
Através a fugacidade das sensações, Pessanha percebe a duração
do tempo, a que faz alusão o símbolo recorrente da água, que
escorre inexorável, sem nunca parar — nos rios, nos mares e, evidentemente,
na clepsidra (relógio de água). O nosso íntimo desejo
seria ficar como que suspensos entre o presente e o futuro, mas o
presente não existe, é já passado ou já futuro, amargo concentrado
de nostalgias e temores, de saudades e de ilusões. As imagens
sobrepõem-se, os sons confundem-se, os planos da perceção intersecionam-
se num tecido analógico cuja trama pode ser desvendada
em qualquer momento por uma centelha de lúcida ironia.
No registo mais propriamente decadente, evidencia-se o tema
da morte, interpretado ora como decomposição e putrescência,
ora como purificação e assepsia. Exemplar da primeira vertente,
o soneto «Vénus» subverte o tópico do nascimento da deusa, que
tradicionalmente sai, despida e esbelta, da espuma do mar. Recusando
a iconografia clássica e renascentista, a Vénus de Pessanha,
é, antes de mais, uma representação simbólica da morte (não da
vida que nasce, não do amor que gera). Mais similar à Ofélia dos
quadros pré-rafaelitas, do que à Vénus de Botticelli, a figura feminina
— que só o título identifica com a deusa — é um cadáver
que flutua à flor da água. Surge, como primeira imagem, o cabelo
verde, já apodrecido, que o remoinho da água enreda e desenreda.
Do corpo exala-se o cheiro a carne, um odor fétido que embebe o
ar, até nos inebriar. O olhar demora no ventre da mulher, pútrido…
azul e aglutinoso 28. A densa onda do mar, no seu vaivém, absorve
as escórias da putrefação com um murmúrio de gozo, num sorvo,
como se bebesse (prosopopeia). Surgem logo outras ondas que se
agitam, lutam e bramem como animais selvagens, para se disputar
a lia do corpo desfeito, abandonado a seus assaltos. Essa figura de
mulher, de pé, flutua, levemente curva… os pés atrás, como voando:
da Vénus evocada no título resta apenas um esboço na água túrbida
da marinha, só um perfil a boiar, à tona da água, enquanto as
vagas arrastam na areia os vestígios da deusa.
A areia, justamente, permite ligar o tema da putrefação ao
outro tema, oposto e complementar, da morte como instrumento
de purificação. Durante uma das viagens por mar, do parapeito
do navio, Pessanha olha para as distâncias infinitas do deserto
africano, soltando uma série de invocações aos elementos da paisagem:
as nesgas agudas do areal, as gaivotas que voam em redor
do navio, as águas verde-esmeralda do Canal (de Suez), as águas
que filtram na areia, o sol sem mancha, rútilo e triunfante. Insistente
e lamentoso, o poeta pede aos elementos da natureza, que
nesse ambiente extremo adquirem uma força e um vigor inusitados,
que lhe outorguem o aniquilamento físico do ser, a começar
pelo cérebro mole, inconsequente e doentio, fonte de sofrimentos
irregulares. Na luz alucinada e deslumbrante do deserto, sob o
sol que queima e enxuga, a fria e exangue liquescência do corpo
irá volatilizar-se, sem embaciar de veneno o brilho e a viva transparência
do ar. Em paralelo, os recortes vivos das praias abrirão
as suas veias, derramando o sangue que será espalhado e absorvido
na areia branca como em um lençol. E, finalmente, as cristalizações
salinas irão ressecar o plasma vivaz, de maneira que não
se desenvolvam as ptomaínas, com o seu olor obsessivo e adocicado.
Uma vez absorvida e eliminada qualquer liquescência, resta
o crânio a rolar insepulto no areal: uma caixa vazia, purificada
pelo sol e pelo sal, abandonada ao vento quente do deserto.
(…)
Barbara Spaggiari, 30 de junho de 2011