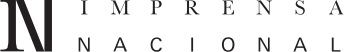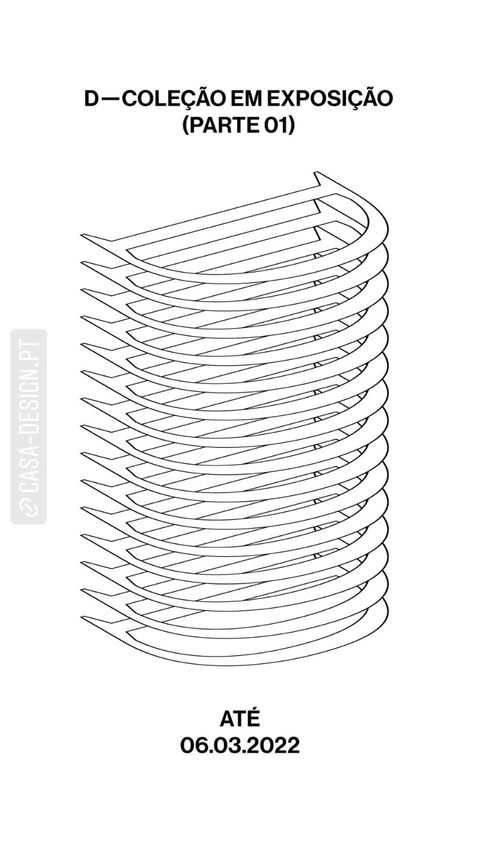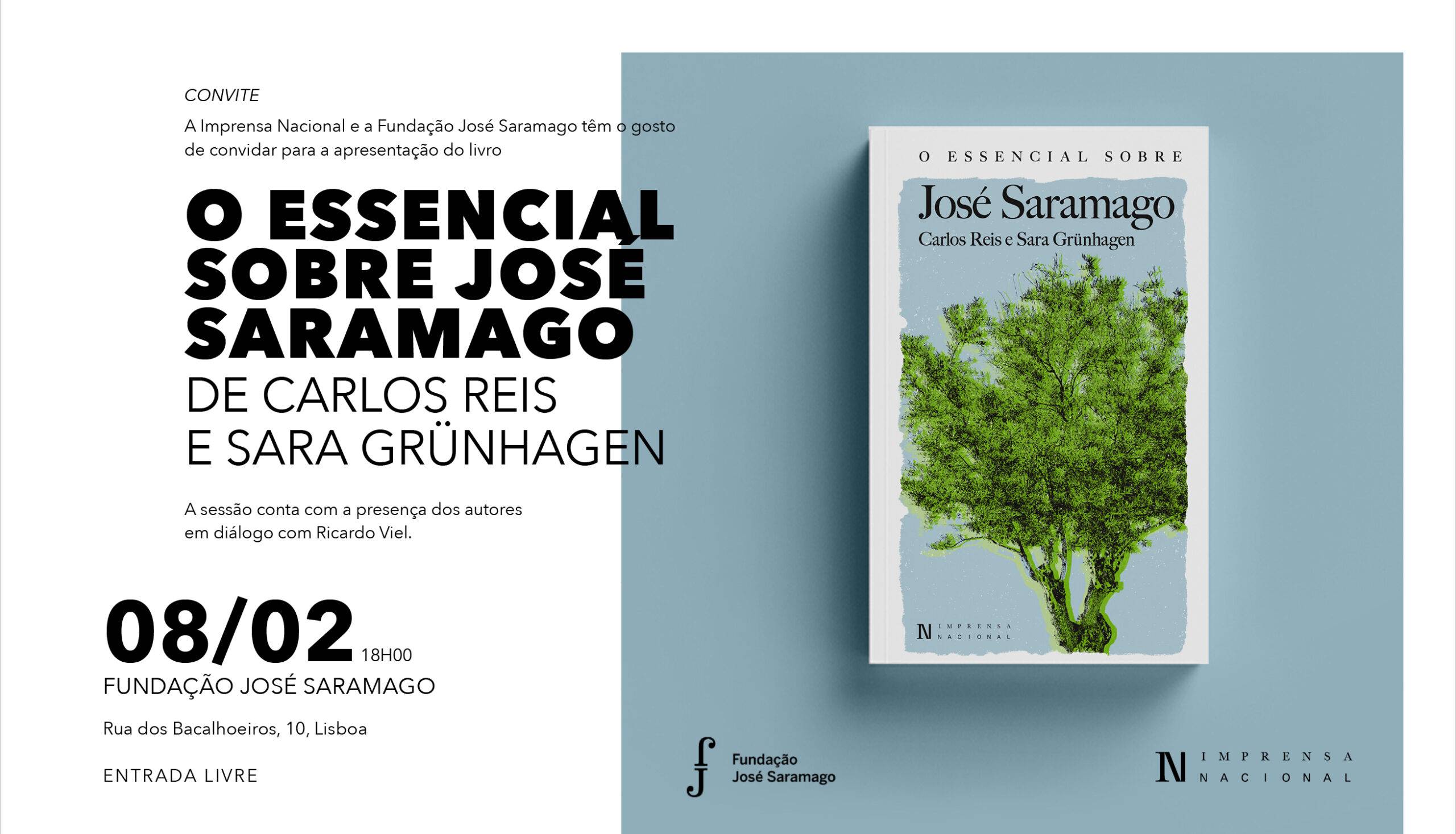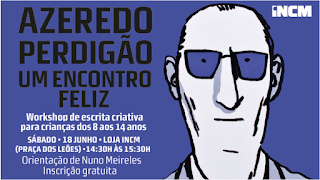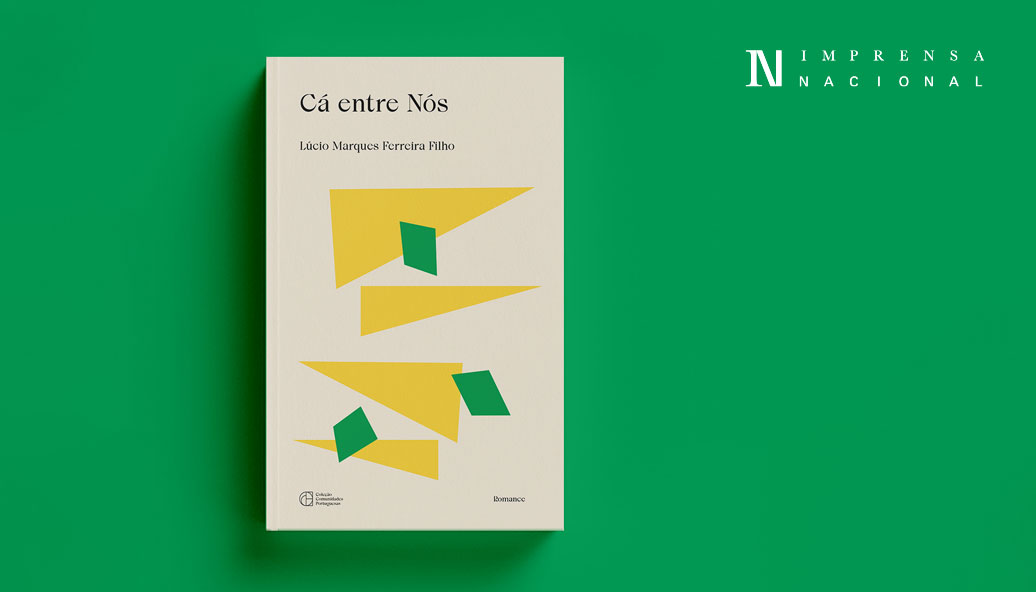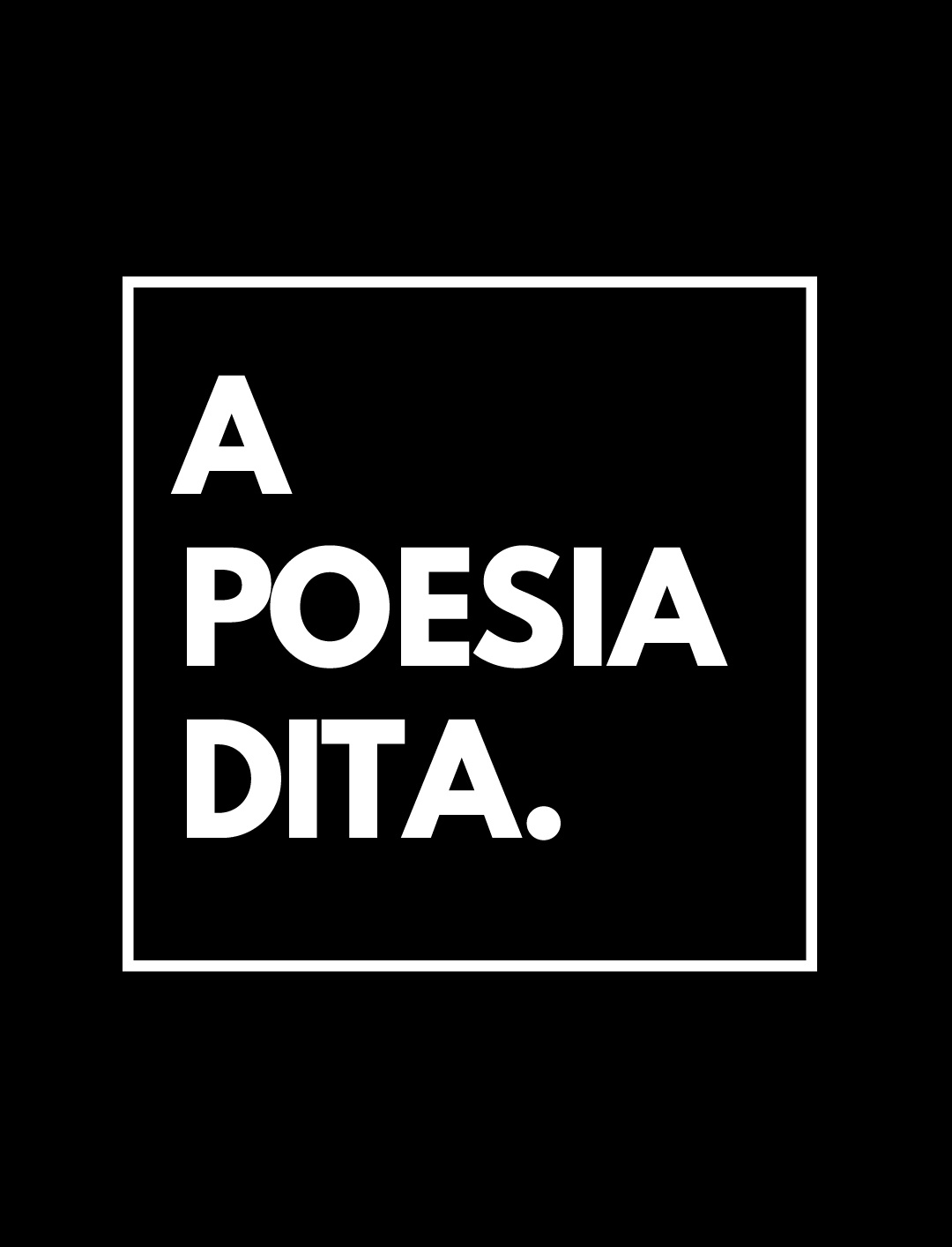Lourenço Cazarré publicou na coleção Comunidades Portuguesas o livro Breve Memória de Simeão Boa Morte e Outros Contos Poéticos, Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro 2023.
Michael Gouveia publicou, na mesma, coleção o livro O Herdeiro.
Encontram-se aqui estes dois autores, na recensão que Lourenço Cazarré faz do livro de Michael Gouveia, em que a Imprensa Nacional e língua portuguesa unem dois autores distantes, um a viver no Brasil, e outro no Canadá.
Solidão em dois idiomas
Por Lourenço Cazarré
Romance de um jovem canadiano de origem portuguesa, Michael Gouveia, publicado pela Imprensa Nacional, na sua coleção Comunidades Portuguesas, O Herdeiro é um livro surpreendente.
Tanto porque se trata de uma primeira obra, muito bem escrita por alguém com menos de 30 anos, como porque examina um tema certamente pouco abordado nas literaturas dos países europeus que, no século 19 ou mesmo 20, exportaram milhões de seus concidadãos para a América. Refiro-me à imigração, esta irmã do êxodo bíblico, hoje mais numerosa do que nunca.
Trata-se de um romance de formação. Acompanhamos nele um menino, desde sua mais tenra idade até o final do curso universitário. É um garoto solitário, arredio, calado e reflexivo. É alguém cujo nome — João — é impronunciável em todas as outras línguas que não a de Camões. Jo-a-o ou Xô-ao? A ampará-lo, sempre, em todas as ocasiões, a mãe e sua frase recorrente: «Estou sempre aqui para ti».
Além do penoso crescimento do miúdo, temos um quadro detalhado do que é ser imigrante. Um filho de imigrante, no caso. Acompanhamos então o trajeto de alguém que se sente português pela língua que fala e escuta em casa, embora não seja a mesma linguagem da escola e das ruas. Porém, é com essa linguagem, cheia de doçura e carinho, com que se comunica com seus pais, imigrantes dos Açores, aquelas ilhas perdidas no meio do oceano furioso.
Ilhas que, entre outros destinos, sangraram sua gente também para o Sul do Brasil, tendo chegado em 1748 à nascente Vila de Nossa Senhora do Desterro (hoje Florianópolis) e, em 1772, à Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais (hoje Porto Alegre).
Como todos os imigrantes que desembarcam em uma terra nova, cujo linguajar e costumes não dominam, os pais de João são cuidadosos em tudo que fazem e dizem. Vivem com tanta cautela como se atravessassem um terreno minado. «Os meus pais nervosos… como só podem estar os imigrantes, preocupados em fazer tudo corretamente.»
E trabalham muito, sem reclamar, em empregos precários e mal remunerados, porque têm em mente que estão a desfrutar de um padrão de vida que não alcançariam na terra natal.
Aliás, lembro agora um tosco ditado — corrente na minha terra, o extremo Sul do Brasil — que expressa bem esse comportamento sobressaltado e precavido dos que passam a viver em outra nação: «Boi em terra alheia vira vaca».
Desde pequeno, o tímido João Silva opta pelo silêncio, faz-se «bilíngue mudo.» Mas decide que vencerá na luta pela vida através do estudo. É um menino que gosta muito de futebol, tanto que o livro que escreverá depois, pode-se dizer, exagerando, começa pela desilusão da Eurocopa de 2004 e se conclui com a vitória de Portugal no mesmo torneio em 2016.
«O futebol fazia eco na minha busca de absoluto e de eterna glória. Tudo ali era grandioso, tudo ali era dramático.» Mas, como todos os pequenos que não têm uma convivência amistosa com a redonda, João é mandado ao lugar dos pernas-de-pau. «Qualquer que fosse a equipa em que me colocavam, depressa me punham como guarda-redes, lugar ingrato que ninguém queria ocupar», escreve João.
Discordo. Esse posto, na minha opinião, é o mais nobre de todos no futebol, porque o goleiro é sempre o mais elegante (especialmente no passado, quando todos eles se vestiam só de preto).
Pense, João Silva, na belíssima imagem que é a de um homem esgrouviado, debaixo das traves, afastado dos outros todos, como se fosse o habitante de um mundo diverso, mas consciente de que virão atacá-lo, e não se importando com isso. Não, nada pode ser mais poético do que alguém na sua goleira, solitário, à espera, olhos fuzilando, o corpo como que retesado, os músculos querendo explodir, movendo-se sem cessar sobre o maldito semicírculo de lama negra como animal aprisionado em jaula invisível.
No mundo inteiro, nos pobres campos dos países mais pobres, não há grama na área palmilhada pelos arqueiros. Por isso, diz-se: a seara dos goleiros só produz barro.
Li o livro de Michael em três dias em Lisboa. Um tanto sentado em um banco do Jardim da Estrela, outro em uma pracinha ao lado do Palácio de São Bento, muitas vezes apoiando-o sobre toalhas de restaurantes.
Em que pensava eu ao lê-lo?
Na minha mãe, Odette, brasileira de Pelotas, levada pela Velha com a Foice quando mal completara 30 anos, filha de um casal emigrado de Cinfães. Foi uma entre os seis filhos vivos. Três não vingaram, partiram para além das nuvens ainda na infância. Seus pais eram uma florista e um homem de dois misteres, padeiro e hortelão, que trabalhavam 16 horas por dia.
Minha mãe e meus tios não tiverem o embate com uma língua esquisita — como o francês com que se defronta o João Silva do romance — porque cresceram falando o português brasílico, que, com pequenas alterações de sotaque e sintaxe, era quase idêntico ao idioma de seus pais.
Viviam esses seis irmãos em uma cidade onde a temperatura média anual é de 18,6 graus, enquanto o João Silva cresce na gélida Quebec, cuja temperatura média é de 5,4 graus. Três décimos inferior à de Moscou.
Mas há uma diferença brutal entre o que vivem os emigrados no final do século 20, como os pais de João, e os do início, como meus avós, que chegaram ao Brasil ainda na primeira década. O João Silva canadense arranja um emprego aos 16 anos para aliviar a despesa dos pais. Minha avó portuguesa, Henriqueta Simões, começou a trabalhar em 1909, aos dez anos, em uma fábrica de tecidos.
Diz o narrador de O Herdeiro: «O meu país não é um país, é uma ilha solitária. Uma ilha reservada ao turismo da saudade. Uma ilha para os órfãos do mar. E eu… quem eu sou? Sou o filho dos meus pais, prolongo o gesto de imigrar. Não sou português, não sou quebequense, sou ao mesmo tempo ambos e nenhum».
Pensando bem, todos nós estamos condenados à solidão, imigrantes ou não. Refiro-me àquela solidão que é nossa, intransferível e inegociável, que às vezes nos chega na vigília, que às vezes nos encurrala quando não estamos falando como papagaios. Pensando bem, talvez o imigrante carregue duas condenações à soledade, aquela que é a de estar vivendo em um país desconhecido e aquela outra, ainda mais funda, pessoal, a que me referi.