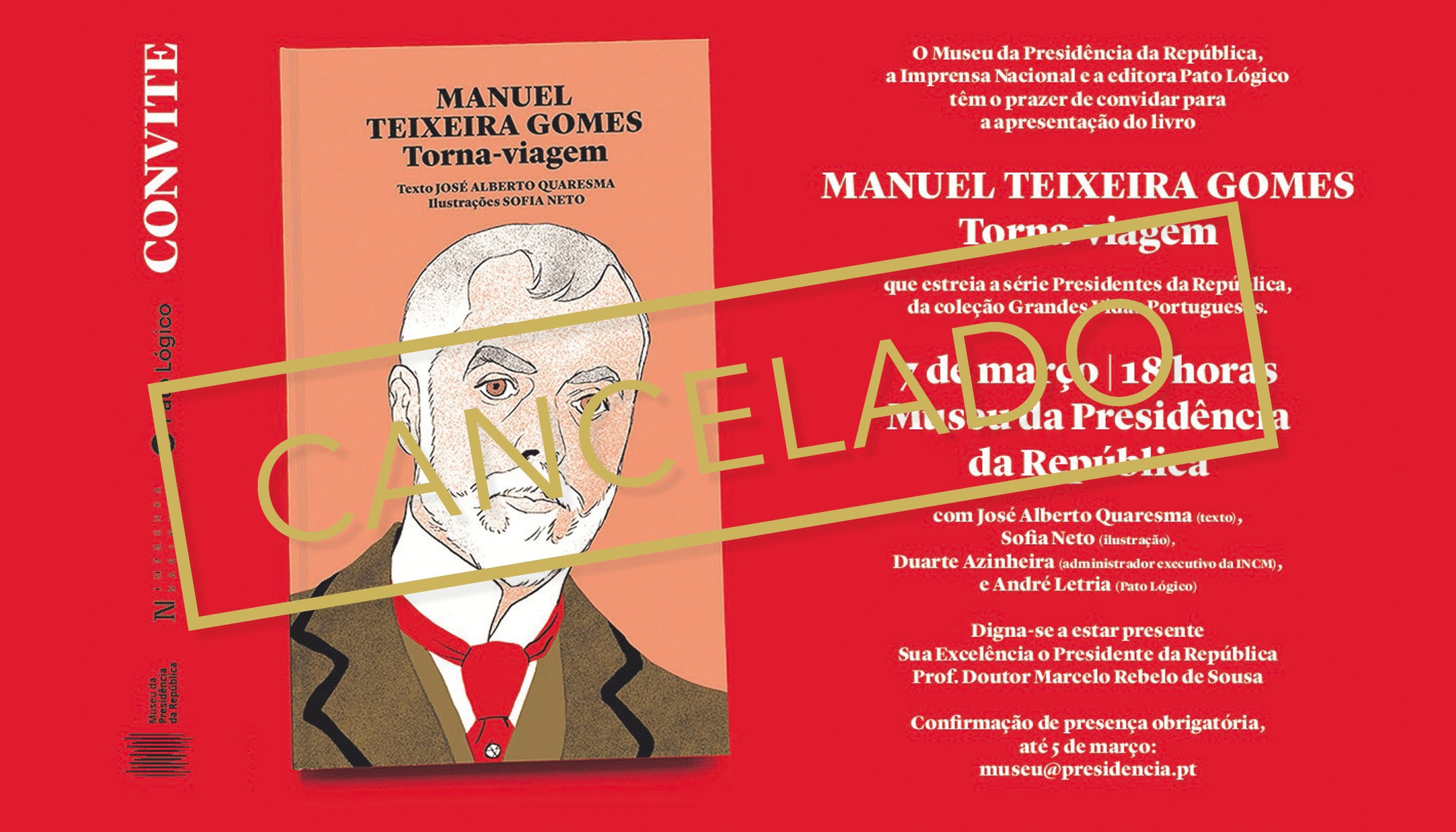Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
O maestro Pedro Amaral em entrevista — «Para se servir um autor é preciso traí-lo»
Texto e fotografias: Tânia Pinto Ribeiro
Aprendeu a «fazer a mão» com Lopes-Graça, o seu exemplo de ética; trabalhou com Stockhausen, o seu exemplo de músico; e quando teve de gerir pessoas — tarefa central da função de um maestro — teve e continua a ter a seu lado António Mega Ferreira, o seu exemplo de gestor artístico. Muito antes disso, foi a mãe que o despertou, literalmente, para a música: «Vivia sozinho com a minha mãe e tenho a memória de, quando era muito pequenino, ela me acordar com música clássica. Acordava-me, levava-me nos braços, dançava comigo». A música vem-lhe do berço. Hoje, vive e trabalha à procura de um equilíbrio entre esse «perímetro afetivo» e «a racionalidade» sem a qual não é possível operá-lo.
Pedro Amaral é um conceituado maestro e compositor português, e um dos músicos europeus mais destacados da sua geração. É presença habitual nos mais importantes festivais de música e trabalha regularmente com diversas orquestras e ensembles, de Lisboa a Tóquio, de Paris a Friburgo. É também, desde julho de 2013, o diretor artístico daquela que é provavelmente a orquestra portuguesa a apresentar mais concertos ao longo da temporada. São cerca de 90 concertos orquestrais e mais outros tantos camarísticos. Com «uma gestão sempre muito criteriosa dos meios» a AMEC | Metropolitana [Associação Música-Educação e Cultura] — uma orquestra e três escolas — é a única instituição do País e «uma das raras do mundo» que senta lado a lado aluno e professor. E assim, «reunindo uma orquestra académica a uma orquestra profissional formam uma orquestra de dimensão sinfónica». Este é, para Pedro Amaral, o momento que justifica, de um ponto de vista «quase filosófico», a existência de uma instituição assim. Itinerante por natureza e estatutos, mas também por falta de uma sala — algo que Pedro Amaral espera vir a mudar «brevemente» — a Orquestra Metropolitana faz o seu porto de abrigo em três salas de Lisboa: uma no Centro Cultural de Belém, para o repertório sinfónico; outra no Museu Nacional de Arte Antiga, para o repertório barroco; e outra no Teatro Thalia, para o repertório clássico.
Ano após ano, temporada após temporada, os solistas da Metropolitana têm também ancoragem segura na sala da Biblioteca da Imprensa Nacional, em Lisboa, onde as portas se abrem, numa base quase mensal, de forma totalmente gratuita, para que o público possa assistir a uma «pequena temporada de câmara». Entre livros e acordes, ali se tenta promover «não apenas músicos portugueses como também obras musicais e compositores portugueses». Por isso mesmo, estão já assentes no melodioso calendário da Biblioteca da Imprensa Nacional, para o ano de 2018, obras de Freitas Branco, Fernando Lopes-Graça, Vianna da Motta e do próprio Pedro Amaral — que compõe sem instrumento, «diretamente entre a cabeça, a mão e o papel».
Pedro Amaral reconhece, no entanto, as dificuldades que existem em apresentar repertório de compositores nacionais. É que fazer a música dos nossos compositores é, ao mesmo tempo, «fascinante» mas também «um ato de arqueologia». E «não é fácil encontrar, desde logo, edições musicais». Uma dificuldade que a Metropolitana, naquilo que lhe é possível, tenta superar: «Muitas vezes, o que fazemos é tocar e gravar os concertos», como o da obra completa para piano e orquestra de João Domingos Bomtempo. Também a produção artística levanta problemas em Portugal. Problemas de escala, de meios e, sobretudo, do Estado: «O Estado em Portugal apoia pouquíssimo a produção artística, e não me refiro só à produção musical.» No ensino base da música vale-nos a sociedade civil que de certa forma se mobiliza, com as filarmónicas a assumirem um papel «incontornável», um papel «absolutamente único», nomeadamente em matéria pedagógica.
Depois da sua ópera O Sonho, estreada em Londres em 2010 e composta a partir de um drama inacabado de Fernando Pessoa, perguntámos a Pedro Amaral que outros autores se vê adaptar musicalmente. Sem saber quando, Pedro Amaral falou-nos em Tchekhov, talvez A Gaivota. Dos nacionais, Raul Brandão é «uma possibilidade» e José Saramago «um desafio interessante». É que Proust, o seu escritor preferido, não lhe permite sonhar tal desafio, porque o tempo da música é um tempo diferente do tempo da literatura. Foi num intermezzo, entre compassos e letras, que entrevistámos este compositor, maestro e diretor artístico que sabe muito bem o que faria, musicalmente falando, se tivesse um orçamento ilimitado para gerir…
PRELO (P) — Este ano, numa histórica oficina gráfica, em Lisboa, em pleno Príncipe Real, foi tocada a Sétima Sinfonia de Beethoven pela Orquestra Metropolitana, sob a batuta, precisamente, do maestro Pedro Amaral. Consegue descrever a sensação?
PEDRO AMARAL (PA) — É um momento extraordinário quando se quebra um pouco o protocolo que existe, com a sua formalidade, entre o público e a obra musical. Normalmente o público assiste a uma obra musical de uma forma frontal, como em casa vê televisão ou como no cinema vê um filme. A relação é espacialmente fixa e temporalmente definida. Como num quadro, que tem a sua moldura, num concerto há um rito, com a entrada e a saída do maestro, que dá a moldura do concerto e, portanto, da obra musical. Colocar um concerto num espaço que não é um espaço de concerto abre uma relação totalmente diferente com o público e é também um desafio, com todas as especificidades acústicas inerentes. Uma sala é acusticamente preparada para receber uma orquestra, um concerto orquestral. Neste caso específico funcionou porque a obra foi escolhida para isso. A sensação que tive foi a de estar mais perto do público e, portanto, de criar com o público uma empatia diferente que aquela distância habitual não permite.
P — Fruto da parceria Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) com a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), têm lugar, ao longo do ano, vários concertos na Biblioteca da Imprensa Nacional. Que boas razões existem para se vir ver um concerto com solistas da OML na Biblioteca da Imprensa Nacional?
PA — Várias razões. A primeira é poder assistir, num espaço dedicado à escrita e à leitura, a outra forma de arte. É sempre interessante quando conjugamos um espaço de uma arte com a apresentação de outra arte. Num museu, por exemplo, que é um espaço dedicado às artes plásticas, é sempre interessante realizar um concerto musical ou a leitura de um texto literário, num cruzamento particularmente rico e fértil de deambulações entre formas de arte. A segunda razão prende-se com a questão da habituação. Desde há alguns anos para cá, esta sala onde conversamos é palco de uma pequena temporada de música de câmara. Ano após ano, temporada após temporada, o público pode seguir a ideia de um ciclo, pode ir através da sua experiência como que acrescentado livros à sua biblioteca. Enfim, no coração de Lisboa, ter um espaço como este a oferecer gratuitamente a possibilidade de o público assistir, numa base quase mensal, a um concerto de música de câmara por alguns dos melhores músicos que tocam em Portugal é com certeza uma razão muito forte.
P — Que balanço faz desta parceria?
PA — Positivíssima! Esta parceria traduz-se neste ciclo anual de música de câmara tocada aqui nesta Biblioteca, e por outro lado é a própria Imprensa Nacional que faz o nosso livro da temporada. Para nós este é um documento muito importante, até na relação com o nosso próprio público. Uma vez por ano, fazemos também um concerto orquestral na Imprensa Nacional e editamos conjuntamente um CD com música portuguesa e obras do grande repertório internacional. No fundo, são duas instituições que dão as suas mãos para um propósito virtuoso.
P — A Imprensa Nacional tem como missão promover e preservar os clássicos, mas há também a preocupação de incluir compositores nacionais.
PA — Temos um princípio muito interessante e que foi um desafio que a Imprensa Nacional, através do Duarte Azinheira [diretor da unidade de publicações da Imprensa Nacional], nos lançou. Precisamente, o Duarte Azinheira diz-nos: «a Imprensa é nacional, faz sentido que o repertório apresentado tenha uma parte nacional». E nós, sempre que possível — nem sempre é possível, mas em quase todos os programas é possível — temos não apenas músicos portugueses como também obras de compositores portugueses.
P — Nesse âmbito quer falar-nos um pouco do repertório da Metropolitana para 2018, aqui na Biblioteca da Imprensa Nacional?
PA — Se quisermos elencar quatro concertos que veremos em breve na Biblioteca Nacional, constataremos que são obras do grande repertório internacional que estão próximas de obras que compositores portugueses fizeram no mesmo âmbito estilístico e até cronológico. Por exemplo, brevemente escutaremos a Sonata para Violino de Debussy e também a Sonata para Violino de Freitas Branco. São duas peças transversalmente associadas, não apenas na cronologia, que é próxima, mas sobretudo no estilo musical e até na própria técnica musical. Haverá também um concerto, sobre o qual não queria falar tanto, por incluir uma peça minha, mas que incluirá uma peça de um grande clássico, Joseph Haydn, «pai» do quarteto de cordas. Serão, portanto, duas peças para quarteto de cordas. Depois, teremos um concerto de dois compositores que coexistiram no tempo: Fernando Lopes-Graça e Paul Hindemith, um português e um germânico, ambos com uma relação tensa com os regimes políticos que atravessaram. A fórmula — um compositor português, outro germânico — repete-se com Vianna da Motta/Brahms. Ou seja, teremos sempre um compositor do repertório português e um compositor do grande repertório internacional.
P — Continuando no espaço da Biblioteca da Imprensa Nacional e na relação multidisciplinar entre as artes, que frisou, qual é para si a relação primeira entre a música e a literatura?
PA — Na perspetiva hegeliana da estética, a música é a arte suprema, no sentido em que é completamente desligada da realidade material. Nesta perspetiva, estamos a falar de uma arte que joga com o puramente abstrato. Com a exceção das obras de música concreta, onde ouvimos sons da natureza, ou das obras instrumentais onde por alguma razão o compositor decide imitar os sons da natureza (por exemplo em Siegfried, Wagner, há um momento em que se imita o canto de um pássaro), a música é realmente a mais abstrata das artes. A literatura evoca a materialidade mas não a mostra no campo visual. Diante de dois sujeitos, a evocação da materialidade, tornada objeto literário, cria forçosamente imagens diferentes que ecoam na subjetividade de cada leitor. Pode dizer‑se que aquela realidade material, ali expressa por palavras, é recriada de uma forma totalmente diferente, ou mais ou menos diferente, no próprio sujeito. Não sendo uma arte totalmente abstrata, a literatura é talvez a mais próxima da música por uma outra razão: são duas artes que se passam no tempo.
P — Pode desenvolver essa ideia?
PA — Apesar de Wassily Kandinsky dizer que há uma Temporalidade num quadro — e ele tinha razão, no sentido em que há um desvendar da obra que é progressivo e que tem lugar no tempo — à parte essa Temporalidade, a verdade é que a obra se passa, antes de mais, no espaço, na nossa visita do espaço. Em literatura, não. A literatura, como a música, passa-se no decorrer do tempo. Penso que estes são os dois maiores fatores de aproximação entre as duas artes. Dentro da literatura, a poesia é aquilo que permite ao compositor entrar pelo meio da literatura. Pela sua extensão, uma frase romanesca é dificílima de colocar em música. Eu adoro [Marcel] Proust. Proust tem frases gigantescas. Há uma frase no meio do volume Sodoma e Gomorra que ocupa duas páginas. Precisaria talvez de quinze minutos em música para cantar aquela frase. A poesia, pela sua formulação lacónica, torna-se mais acessível. Por exemplo, um poema de E. E. Cummings pode ter três palavras e isso pode dar azo a um enorme desenvolvimento musical. É através da poesia, com o seu tempo próprio e o seu segundo plano de linguagem, que o compositor normalmente entra no grande domínio da literatura.
P — O texto em música tem, então, um tempo diferente?
PA — Um texto dito demora mais ou menos 1/3 do tempo do mesmo texto a ser cantado.
P — Em 2010 foi estreada em Londres a sua ópera O Sonho, a partir de um drama inacabado de Fernando Pessoa. Foi unanimemente aplaudida pela crítica, tendo sido sucessivamente apresentada em Londres e Lisboa. Além de Fernando Pessoa, quais são os seus poetas de eleição?
PA — Prefiro responder de uma forma mais abrangente. Não falar em particular de poesia mas da literatura como um todo, abrangendo toda a parte romanesca, toda a parte dos contos, da escrita para teatro e, enfim, da poesia.
P — E começaria por onde?
PA — Como dizia, sou particularmente sensível à escrita de Proust. Isto quer dizer que, se eu tivesse de eleger um escritor ou uma obra para levar para uma ilha deserta, provavelmente elegeria a Recherche de Proust, que li várias vezes, e que corresponde mais à minha personalidade. Proust dizia que um livro é uma chave mas nem todas as portas são abertas com a mesma chave, e que haveria pessoas mais sensíveis à sua escrita do que outras. Como autor romanesco, escolheria Proust, em primeiro lugar.
P — Vê-se a adaptar musicalmente a Recherche de Proust?
PA — Penso que não. Isso é muito difícil! Proust tem uma dimensão tal que julgo ser impossível abarcá-la numa obra cénica e musical.
P — Que outros textos ou autores se vê, então, a adaptar musicalmente?
PA — Imagino-me facilmente a adaptar [Anton] Tchekhov.
P — Alguma obra em concreto?
PA — Não sei… Há várias obras de Tchekhov que facilmente me veria a trabalhar. Não queria dizer As Três Irmãs, porque já existe a ópera extraordinariamente bem conseguida de Peter Eötvös. Talvez A Gaivota, ou O Cerejal, ou um dos seus muitos e extraordinários contos.
Outro autor que poderia pôr em música seria Jorge Luis Borges. Borges tem contos que, por serem muito concentrados, permitem uma temporalidade possível como peça dramática e musical.

P — E adaptações musicais de autores nacionais? Que autores elegeria?
PA — Raúl Brandão era uma possibilidade, e José Saramago um desafio interessante.
P — Para quando?
PA — Isso não sei! [risos] No plano da poesia, como já evocou, já escrevi O Sonho, a partir de um «poema cénico», se posso dizer assim, de Fernando Pessoa. E é uma peça que, de algum modo, esgota um determinado caminho, no sentido em que não me vejo a regressar àquele mundo poético e musical. Quis escrever em música, com a minha linguagem de hoje, e a um século de distância, um drama simbolista. Ao tê-lo realizado, há um capítulo que se fecha na minha obra. Se regressar à poesia — e, por exemplo, atrai‑me muito a ideia de escrever música a partir de um dos poemas de A Máquina Lírica, de Herberto Helder, ou de mergulhar em A Margem da Alegria, de Ruy Belo — se o fizer será certamente numa obra lírica mas não dramática, não teatral.
P — Como e quando começou a ser sensibilizado para a música erudita?
PA — Em criança. Vivia sozinho com a minha mãe e tenho a memória de, quando era muito pequenino, ela me acordar com música clássica. Acordava-me, levava-me nos braços, dançava comigo ao som da música clássica. Era mesmo muito pequenino, criança de colo ainda. A música erudita está para mim associada ao perímetro dos afetos. Toda a minha aprendizagem foi à procura de um equilíbrio e, ainda hoje, o meu trabalho diário é esse mesmo.
P — Um equilíbrio entre …
PA — … esse perímetro afetivo e a racionalidade sem a qual não é possível operá-lo.
P — Durante a sua formação, estudou com Lopes-Graça e trabalhou com Stockhausen. Faça-nos um resumo do que aprendeu com um e com outro.
PA — A aprendizagem com Lopes-Graça é uma aprendizagem que transcende totalmente o domínio simples e puro da música. O métier de Lopes-Graça era, efetivamente, a música. Mas Lopes-Graça era um homem de arte, de escrita também — até por sobrevivência. Escreveu e traduziu muito. O famoso Beethoven, em três grandes volumes, de Romain Rolland foi traduzido para português por ele. E muito mais obras. Além de músico, Lopes-Graça era um ser humano com uma vivência extraordinária. A sua fé política (perdoe-se-me o paradoxo da formulação), a utopia ideológica no sentido mais nobre da palavra, a resistência em nome dos seus princípios, a sua leitura da história, a sua ética, a sua generosidade, o seu profundo humanismo foram muito marcantes para mim. Tanto quanto a obra musical que nos deixou como exemplo. Foi o meu primeiro professor de composição, e devo-lhe muito no plano da escrita musical. Lopes-Graça sabia que a escrita era o fundamental do trabalho do compositor. Isto, se fosse dito no século XIX, era uma evidência ululante; mas sendo transmitido como um princípio pedagógico no fim do século XX, quando a história passava pelos territórios do pós‑modernismo e da inclusão dos sistemas multimédia, onde a parte da escrita musical foi bastante relativizada em relação a outras práticas (como a improvisação, como a música concreta, entre outros), foi muito importante na minha formação. Lopes-Graça recentrava tudo na escrita, e por isso foi um mestre naquilo a que o próprio chamava «o fazer a mão». Aprendi com Lopes-Graça a «fazer a mão». Mas, de facto, foi tão importante para mim o homem como o compositor. Lopes-Graça é um exemplo ético extraordinário.

P — E Stockhausen?
PA — Quanto a Stockhausen, não quero dizer que fosse o oposto, mas era o contrário! [risos] Tudo em Stockhausen era centrado na personalidade musical mais do que em outros aspetos. O lado religioso em Stockhausen, por exemplo, interessava-me menos. E para Stockhausen esse lado era muito importante. O lado político de Stockhausen, que eu conheci mas que não é conhecido publicamente, também não me interessava particularmente. Tinha uma grande proximidade com ele, posso dizer uma amizade, tanto quanto um miúdo de 35 anos — passo a expressão — pode ter com um homem que tem quase 80. Para mim, Stockhausen é sobretudo um exemplo de músico. Praticando a aventura mais tresloucada, Stockhausen conseguia ser de uma racionalidade e de um rigor a toda a prova. Ele conseguia, permita-me a expressão, «cuspir fogo». Conseguia ser o mais hábil dos trapezistas, lançava-se, mas calculava milimetricamente cada aspeto da sua performance composicional — e esse controlo, uma vez mais, era exercido através da escrita. Normalmente um artista concebe um fluxo criativo, que vai tentar a todo o custo estruturar por via racional. No caso de Stockhausen, era o contrário: primeiro estabelecia racionalmente as regras do seu campo de ação e, uma vez estabelecidas as regras, ele entrava lá dentro e agia com o máximo de imaginação possível.
P — Uma inversão…
PA — Exatamente! Normalmente há um fluxo, aquilo que podemos chamar um rasgo. E depois há a tentativa de encontrar disciplina, de tornar esse rasgo em obra. Em Stockhausen era realmente ao contrário: primeiro vinha a disciplina e só depois o rasgo.
P — Falou de performances… Dirigir uma orquestra e compor são dois trabalhos diferentes.
PA — Completamente!
P — Tornou-se imprescindível, para um maestro do século XXI combinar estas duas performances?
PA — Acho que não. Acho que depende da personalidade de cada um. No meu caso é importante mas não é imprescindível. Para mim o fundamental é a composição, só depois vem a direção. Para mim não seria um problema vital deixar de ser um intérprete, mas deixar de compor, sim, seria um problema vital.

P — Gerir pessoas — no seu caso, músicos — está no centro da função do maestro. Esta gestão humana aprendeu-a durante a sua formação?
PA — Não. [risos]
P — Aprendeu com a experiência?
PA — A experiência é importante, mas não pode ser só a experiência. Fui um privilegiado nesse sentido. Tive uma experiência de gestão na universidade, mas aí foi tudo muito enquadrado. Quanto tive de gerir pessoas, dentro da minha área, como músico, tive sempre ao meu lado o exemplo de um grande gestor, o António Mega Ferreira. Pude aprender com ele como se faz. O António Mega Ferreira tem uma coisa extraordinária: consegue ser rigorosamente formalista e, ao mesmo tempo, absolutamente flexível no seu trato e na sua forma de funcionar. Esta conjugação entre formalidade e souplesse é única na sua pessoa. Para mim o Mega Ferreira é um modelo, um exemplo — um tipo que, num almoço inspirado, imagina fazer em Portugal uma Expo e que, dez anos depois, transformou uma zona inteira da cidade. Aprendi imenso com ele e continuo a aprender diariamente com aquele misto extraordinário de um gestor notável que é também um escritor.
P — Voltando à composição, em que instrumento é que compõe as suas obras?
PA — Não componho em nenhum instrumento. Componho diretamente entre a cabeça, a mão e o papel.
P — A música contemporânea tem necessidade da presença do compositor?

PA — É muito interessante a questão da presença ou ausência do autor. Umberto Eco escreve um texto muito interessante, em determinado momento da vida dele, em que diz que o autor perturba a interpretação da sua obra. E, portanto, o ideal seria que o autor (o compositor) expirasse antes de o intérprete deitar a mão à sua obra! [risos] De uma certa forma, Umberto Eco tem alguma razão. O autor perturba, claro, a interpretação do seu texto. Não sei se sabe, mas existem gravações feitas por Debussy das suas obras. Por que diabo estas gravações não são bestsellers? Porque quando o público as ouve fica desiludido. Logo, não se vendem. Ou seja, nós temos o autor a interpretar a sua obra, temos a possibilidade singular e miraculosa de ouvir Debussy ou Mahler a tocar a própria obra, e depois o que há é uma grande desilusão?… Sim, é. E não é uma desilusão porque Debussy tocasse mal, mas porque a sua forma de interpretar não está em fase com o nosso tempo. A obra do compositor — a obra do artista — passa-se fora do tempo, numa espécie de intemporalidade; mas a obra do intérprete é indelevelmente marcada pelo Zeitgeist, pelo que um intérprete de há cem anos nos fala de um tempo que não é o nosso, ainda que esse intérprete seja, por coincidência, o próprio autor.
P — Os intérpretes são uma espécie de traidores aos intentos do compositor?
PA — Traduttore, traditore, não é? O intérprete é antes de mais um tradutor. Portanto, é claro que há uma traição. Podia dizer isto de uma forma filosófica mas… a verdade é que, de certa forma, para se servir um autor é preciso traí-lo.
P — Quando se trata das suas obras, das obras que Pedro Amaral compõe, consegue afastar-se? Consegue não interferir?
PA — Tento não interferir demasiado. É fundamental dar-se espaço ao intérprete. Por outro lado, há um desejo primordial e legítimo de o compositor ouvir a obra como a imaginou, e se isso não acontece, a estreia pode ser uma experiência dolorosa. Mas estou a referir-me ao momento da estreia. A partir desse momento, a obra é um filho que segue o seu próprio caminho e é sempre interessante ver os outros pontos de vista que os intérpretes trazem à nossa obra.
 P — Como é que vive as estreias?
P — Como é que vive as estreias?
PA — A estreia é o momento mais difícil para um compositor. Como intérprete, raramente me sinto nervoso em palco. Posso dirigir uma sinfonia de Bruckner ou de Brahms e não estou especialmente nervoso. Ou melhor: tenho o grau de nervos necessário e suficiente, sem o qual o concerto seria um marasmo. Já enquanto compositor, se estiver outra pessoa a estrear uma peça minha fico numa pilha de nervos. Fico muito sensível, frágil, ansioso.
P — E o que é que o Pedro compositor espera daqueles que interpretam as suas obras?
PA — Dizer assim soa um pouco ingénuo, mas gostaria que o intérprete fosse para a minha música aquilo que eu sou, como intérprete, para a música dos compositores que interpreto.
P — O que é esse «ser»?
PA — É conhecer a fundo a partitura, é ter uma preparação exaustiva e, sem alterar o texto, apoderar-me dele, no todo como nos detalhes. Da mesma forma que o ator só pode ser convincente apoderando-se da personagem, ainda que diga todas as palavras que o dramaturgo escreveu, o maestro, em nada cedendo daquilo que o texto musical lhe ordena, deve apoderar-se desse texto para o transmitir. E só aí é que chega a tocar o público.
P — Enquanto maestro, sente por parte do público esse desejo de ser guiado pelos intérpretes para penetrar melhor, precisamente, no coração de uma obra?
PA — Sinto completamente! Sente-se perfeitamente esse desejo do público. Até mesmo quando se está de costas para o público a dirigir uma orquestra.
P — Como é que isso se sente?
PA — Sente-se pelos silêncios, pela própria respiração do público. Carlos do Carmo disse uma vez num concerto: «Perdoem-me pela ousadia, mas sinto que vos tenho ao colo». O público quer ser conduzido e é por isso que um maestro, um músico ou qualquer outro performer que esteja em cena deve ter uma hipersensibilidade ao público e gerir a sua emoção. A sua própria e a do público. No fundo, conduzir o público por esta floresta reinventada que é cada nova interpretação de uma obra.
P — Trabalha regularmente com diferentes orquestras e ensembles, nacionais e estrangeiros. Quais as principais diferenças entre trabalhar «em casa» e trabalhar lá fora?
PA — É preciso referir que o «em casa» e o «lá fora» têm coisas comuns. Se é verdade que há uma cultura local também é verdade que as orquestras são viveiros de transversalidade nacional e de cosmopolitismo. Uma orquestra não é só formada por elementos de um determinado país. Longe disso. Mas é verdade que há culturas locais. Quando se trabalha com orquestras alemãs chega-se muito fundo e chega-se lá lentamente. Mas chega-se a qualquer coisa extremamente sólido e denso. Quando se trabalha com uma orquestra inglesa pode chegar-se bastante fundo e chega-se lá muito rapidamente mas é sobretudo o brilhantismo performativo que conta. Há ali um lado cénico e uma evidência acústica fulcrais, que tem de ver com a maneira de ser daquela cultura, eles serem. Cada país tem de facto a sua cultura. O processo é um pouco diferente em cada país mas é possível chegar-se a resultados semelhantes.
P — Quais são as principais dificuldades que um compositor em Portugal pode encontrar para viver exclusivamente da sua arte?
PA — Em Portugal não há escala, o mercado é muito reduzido, apesar de termos três grandes orquestras na cidade de Lisboa: Metropolitana, Sinfónica Portuguesa e Gulbenkian. Mas Lisboa é a única cidade do País a ter isto. À volta de Lisboa há pouquíssimas orquestras. A Metropolitana serve não apenas a urbe mas toda a zona envolvente. E o nosso problema é este. Em qualquer país com a dimensão da França ou da Alemanha há muitas solicitações. Aqui o número de solicitações é limitado. Como compositor, tenho as minhas peças regularmente apresentadas na Casa da Música, no Porto, ou na Fundação Gulbenkian. Mas lá está, são duas instituições. Um compositor com a minha idade num país como a França tem muitas mais solicitações porque existem muito mais instituições.
P — O apoio de um mecenas é hoje em dia tão importante quanto era há duzentos ou há trezentos anos?
PA — Quando nós pensamos nos grandes mecenas de há muitos anos, esses grandes mecenas, muitas vezes, eram o próprio Estado. Os Medici eram os soberanos da Florença renascentista. Nós atribuímos o mecenato a uma família mas muitas vezes essa família era o Estado. Hoje em dia existe alguma prática mecenática, embora não tão desenvolvida como nos séculos anteriores, porque o próprio Estado se foi substituindo a ela.
P — O Estado Português cumpre essa prática mecenática?
PA — O Estado em Portugal apoia pouquíssimo a produção artística, e não me refiro só à produção musical. Aliás, há pouco ou nenhum apoio do Estado à produção artística e pouco apoio do Estado à divulgação do património, no caso da música. Quem promoveu, quem fez a edição da obra do Padre António Vieira, por exemplo, não foi o Estado propriamente dito, foi a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O mesmo para a edição crítica da obra de Fernando Pessoa, pela Assírio & Alvim. Por escassez de meios, é verdade, mas também por falta de visão (e isto não é de agora, dura há séculos), o Estado Português não desenvolveu políticas culturais de internacionalização da sua cultura e da sua língua como outros países o fizeram. O Goethe-Institut é o grande agente da Alemanha no exterior — e os alemães conhecem bem o valor cultural e monetário da sua língua. O mesmo no caso de França e até mesmo na vizinha Espanha com o Instituto Cervantes.
P — E o Instituto Camões ?
PA — Infelizmente, o Instituto Camões não tem os meios necessários, porque não lhe é dada a missão para a internacionalização da cultura. E isto é dramático. Portugal movimenta-se e tem uma diplomacia muito forte na CPLP mas não chega. A CPLP é língua e a cultura também é a língua mas é mais do que a língua. Há um fraquíssimo investimento na cultura a nível interno e a nível da divulgação externa.
P — É desde 2013 diretor artístico da OML. Quais são as suas preocupações? Os desejos?
PA — Tenho como preocupação ter um quadro artístico de excelência e cumprir com ele uma missão fundamental, que é a missão da própria AMEC Metropolitana: transmitir música ao grande centro urbano de Lisboa e à área metropolitana envolvente, que é muitíssimo grande.
P — A Metropolitana é das orquestras que dá mais concertos em Portugal, não apenas na área de Lisboa, sobretudo através dos solistas da Metropolitana. Como é que se consegue isto?
PA — Com uma gestão sempre muito criteriosa dos meios. Nós fazemos cerca de 90 concertos orquestrais por temporada e cerca de 90 concertos camarísticos, pelos Solistas da Metropolitana, por temporada. Isto quer dizer que só a orquestra profissional (sem contar as orquestras académicas, porque somos uma orquestra e três escolas) faz 180 apresentações por ano. Metade como um todo, orquestral. Metade desdobrando-se. 180 concertos são muitos concertos, são muitas apresentações, principalmente se tivermos em conta que temos repertórios completamente diferentes uns dos outros, e em cada semana preparamos vários novos repertórios. Isto implica uma gestão quotidiana do tempo, da totalidade da orquestra e de cada músico na sua individualidade. É pura gestão de recursos humanos. Por outro lado, é muito importante não esquecer que estamos a trabalhar para um público. A nossa arte não se faz numa torre de marfim, para nós próprios, diante de um espelho como Narciso. A nossa arte é um instrumento de transmissão de cultura musical. É importantíssimo para nós, alargar o nosso público. Desde que chegámos, em 2013, praticamente duplicámos o público da Metropolitana. Isto é absolutamente fundamental para nós.
P — A pensar nesse público, como vê a evolução da Orquestra Metropolitana de Lisboa precisamente quanto à escolha do repertório?
PA — O repertório tem de ser escolhido em função de dois critérios: tem de ser apelativo para o público e tem de ser apelativo para a orquestra. Isto é, a orquestra tem de ser desafiada pelo repertório e tem de ter interesse em cumprir esse desafio.
P — Há pouco falámos da importância e da pertinência de incluir compositores nacionais nas peças que são tocadas aqui na Imprensa Nacional. De uma forma mais abrangente, faz um esforço para incluir compositores nacionais nos repertórios que apresentam ao longo da temporada?
PA — Faço um esforço, naturalmente. Não é fácil encontrar desde logo edições musicais. Por exemplo, este ano quisemos promover a música camarística de Vianna da Motta e descobrimos com estupefação que uma grande parte da obra dele não está editada!
P — Como a de Alexandre Rey Colaço, que continua completamente desconhecida…
PA — Exatamente! E isso causa-nos problemas grandes. Muitas vezes, o que fazemos é tocar por manuscritos e gravar os concertos. Estamos agora a fazer a gravação da obra completa para piano e orquestra de João Domingos Bomtempo, que escreveu seis concertos. Começámos pelo Concerto n.º 3, em sol menor. Procurámos materiais de orquestra e ficámos surpreendidos quando descobrimos que só existe uma edição, do início do século XIX da editora Clementi, de Londres. Estamos a falar de uma edição com mais de 200 anos. A edição tem muitos erros e não há manuscrito desta obra. Fazer a música dos nossos compositores é fascinante mas é também um ato de arqueologia e de voluntarismo. E não estamos a falar de um desconhecido: Bomtempo é o mais importante compositor português do século XIX.
P — E pode ser dramático…
PA — É dramático que não esteja estudado; é dramático que não exista uma edição crítica da obra, por exemplo, de João Domingos Bomtempo. João Domingos Bomtempo escreveu no seu Requiem o que de melhor se produziu na História da Música Portuguesa. Também de Lopes-Graça há muita coisa por assim dizer «sepultada» em manuscrito.
P — Continua-se, então, a perpetuar o erro de não salvaguardar a nossa memória e o património cultural musical. Será só a falta de meios?
PA — Por falta de meios, por falta de interesse e por falta de visão política também.
P — Mas a Metropolitana já está a fazer coisas nesse sentido.
PA — Sim. É por isso mesmo que estamos a gravar os concertos do Bomtempo e estamos a editá-los, apesar de isso não fazer parte da nossa missão. O Estado português não tem a visão da preservação do nosso património musical. Por isso estamos muito sujeitos às influências ora francesa, ora alemã, ora italiana. Por contraste, veja o exemplo do início da ópera francesa. Desde o Renascimento, os compositores franceses iam aprender em Itália. Na segunda metade do século XVII e primeiro quartel do XVIII, tiveram um reinado com uma extensão temporal imensa, o de Luís XIV, que estimulava o aparecimento de uma arte francesa própria, curiosamente feita por um italiano importado: Jean-Baptiste Lully, criador da ópera francesa. Lully naturalizou-se francês e acabou por ser o primeiro dos compositores operáticos franceses. Criou a ópera francesa, a chamada «tragédia lírica», que depois inicia toda uma tradição que passa por Rameau, Berlioz… Começa com um italiano, mas já totalmente afrancesado. E começa por impulso direto do Estado, na pessoa do Rei. Investir no património é investir no próprio Estado; é investir na cultura; é dar-lhe substância e depois ter o retorno económico disso.

P — Além desta tentativa de «restauro» de algumas obras de compositores nacionais, diga-me: o que é que a Metropolitana tem que as outras orquestras não têm?
PA — A Metropolitana tem duas componentes únicas: a componente artística e a componente pedagógica. Estas duas componentes estão de mãos dadas no nosso projeto. Somos uma orquestra e três escolas nas quais muitos dos professores são simultaneamente músicos da orquestra, completando um círculo virtuoso que culmina em três pontos do ano (a partir deste ano serão quatro), em que lado a lado se sentam aluno e professor, formando uma grande orquestra de dimensão sinfónica. Esse momento justifica, de um ponto de vista quase filosófico, a existência da Metropolitana. Somos a única instituição em Portugal e uma das raras do mundo que proporciona isto. Um outro aspeto importante é que somos uma orquestra itinerante: não temos a nossa própria sala, algo que espero que vá mudar brevemente. Em Lisboa, estamos ancorados em três salas principais (fazemos o repertório sinfónico no CCB, o repertório barroco no Museu Nacional de Arte Antiga e o repertório clássico no Teatro Thalia) e temos também a missão de levar a melhor música à Área Metropolitana de Lisboa. Esta tripla ancoragem catapulta-nos para toda a área envolvente da cidade. Fazemos concertos de Setúbal às Caldas da Rainha ou a Leiria.

P — Quer desvendar onde será a nova sala da Metropolitana?
PA — Não tenho uma resposta para si. Só lhe posso dizer que estamos a trabalhar para que num futuro não muito longínquo possamos ter a nossa própria sala.
P — Como bem relembrou, a Metropolitana é uma orquestra e é também três escolas de música. A seu ver, qual é a importância da aprendizagem da música ao longo da educação dos jovens? O Pedro, aliás, fez parte do seu percurso no Instituto Gregoriano.
PA — É muito importante ter a música como uma parte da educação geral. A formação académica, psíquica e cultural de um aluno que, a par da sua escolaridade, faça também a aprendizagem de um instrumento é incomparavelmente mais rica e completa que a de um aluno que não passe por essa experiência. O estudo da música e, em particular, do instrumento impõe uma disciplina própria. Na tradição grega, a música era uma componente científica ao lado da aritmética, da geometria e da astronomia. A música tem uma componente disciplinadora do tempo, da persistência, da compreensão, da rapidez de ação. Um rapaz ou uma rapariga que comece a estudar música com 6 ou 7 anos, lado a lado com o ensino básico, e se a sua aprendizagem culmina no 12.º e ao mesmo tempo no 8.º grau do instrumento, será com certeza uma pessoa muito mais rica, disciplinada, mais culta e com outro prazer na apreciação da música do que uma pessoa que não tenha passado por isso.

P — Concorda que também as bandas filarmónicas desempenham um papel de relevo nesta matéria?
PA — Absolutamente! As filarmónicas têm um papel incontornável. Cumprem um desígnio único no plano pedagógico, longe dos grandes centros urbanos. De certa forma, é a sociedade civil a mobilizar-se para o ensino da música. São elas que formam os alunos que depois, já numa etapa muito avançada, passam para as escolas superiores e depois para a vida profissional. Alguns dos nossos melhores músicos, na Metropolitana como no panorama nacional, começaram justamente pelas filarmónicas, que acabam por ser exemplos de serviço público num país onde o salário médio ronda os 800 euros mensais, onde a maior parte das famílias não tem recursos para por os seus filhos a aprender um instrumento musical, e onde é escassa a oferta de escolas públicas que permitam essa aprendizagem.
P — Qual é o contributo de Pedro Amaral para fazer evoluir o espírito da Orquestra Metropolitana de Lisboa?
PA — O meu contributo é a minha exigência artística. Precisamos de uma orquestra que tenha prazer em tocar, que tenha a ambição de ser a melhor para que o nível de excelência seja cada vez mais elevado e para que a relação com o público seja cada vez mais reforçada. É a qualidade que faz a sua perenidade.
P — Se tivesse um orçamento ilimitado havia algum músico em particular que gostasse de contratar?
PA — Se eu tivesse um orçamento ilimitado, a primeira coisa que faria era uma sala! À parte isso, claro que há muitos músicos que eu gostava de trazer para trabalhar connosco.
P — Como por exemplo?
PA — Gostava de trazer grandes maestros — Paavo Järvi, considero-o um dos grandes artistas da atualidade. Voltaria a convidar o meu amigo Pablo Heras-Casado. Traria, certamente, o Daniel Harding ou o notável Jaap van Zweden. Músicos como Ivo Pogorelich ou Patricia Kopatchinskaja.

P — Sabe qual foi o CD, de entre todos os estilos musicais, que vendeu mais exemplares, em 2016, segundo a editora Universal?
PA — Não, não sei.
P — Em número de vendas de CD, nenhum músico superou Mozart. A caixa Mozart 225: The new complete edition vendeu mais de 1,5 milhões de exemplares, segundo a Universal. Surpreende-o?
PA — É fantástico, mas não me surpreende. Mozart é intemporal.
P — Confesso que eu fiquei surpreendida de saber que Mozart superou Beyoncé, por exemplo…
PA — Não me surpreende. Hoje em dia com os media as pessoas não precisam de comprar um CD da Madonna ou da Beyoncé porque estão sempre a ouvi-la nos mais diversos sítios. Mas de Mozart, tem de se ir à procura. E essa procura é reveladora.
P — Ainda compra CD ou ouve tudo digitalmente?
PA — Oiço digitalmente e compro muita música no iTunes. Fisicamente já não compro CD. Oferecem-me muitos mas já não compro. Curiosamente, o último CD que comprei foi justamente de Mozart.
P — O Pedro Amaral é um dos músicos europeus mais ativos da nova geração e está muito ligado à música contemporânea. Quais são os seus compositores contemporâneos preferidos?
PA — Acompanho particularmente a obra de Magnus Lindberg.
P — E porque elege Magnus Lindberg?
PA — Acho que ele conseguiu libertar-se da geração anterior, que foi uma geração muito condicionante, mantendo uma grande genuinidade bem como uma enorme capacidade de criar novas ideias e um novo pensamento musical. O que aconteceu nos anos 1950, em música, foi uma sobre-abundância de reflexão. Interessantíssima, mas… de algum modo esgotou-se, provisoriamente, essa obsessão com a armadura intelectual da obra e com o pensamento estético-musical. As gerações seguintes afastaram-se um pouco dela. Certamente, hoje em dia, não seríamos o que somos musicalmente sem termos passado por aquele período. Poucos foram os compositores que conseguiram ao mesmo tempo beneficiar do impacto daquela estética e sobreviver inventando territórios próprios, consistentes. Lindberg foi um deles.
P — E que outros compositores quer realçar?
PA — Na continuidade, evidentemente, os compositores ligados a essa estética anterior começaram por marcar-nos. No caso português, temos Emanuel Nunes cuja obra, justamente, parte das reflexões estéticas de Stockhausen e Boulez. Da geração dele, mas que foi um pouco mais longe, temos Wolfgang Rihm, que ainda está vivo e faz obras extraordinárias. Rihm foi aluno de Stockhausen, e Stockhausen reclamava sempre isso («o Rihm foi meu aluno…») com um misto de desdém e orgulho! [risos] O que Rihm fez, na verdade, foi recuar um pouco à geração anterior à de Stockhausen (a Segunda Escola de Viena, de Schönberg, Berg e Webern), incorporando numa estética moderna e estruturalista aspetos puramente sensíveis e uma expressão que, em grande parte, os serialistas tinham perdido. É como se cortássemos um pedaço de terreno e observássemos as várias camadas geológicas que formam esse terreno. Em Rihm ouve‑se perfeitamente, de forma original e sintetizada, a transição entre a grande escola alemã e austríaca da primeira metade do século XX e a grande música consagrada do pós-guerra. Rihm consegue fazer algo de novo com isso. E em França, Grisey abriu as grandes portas daquilo a que se chama o movimento do espectralismo.

P — Como define o período atual na música?
PA — Creio que hoje vivemos um período de síntese. Há períodos marcados por uma estética universal e transversal. Em música, por exemplo, estudamos aquilo que se designa como o Período Internacional da Renascença, um período de meio do século XVI onde a linguagem de compositores dos vários países convergiu, num Renascimento muito tardio.
P — Comparativamente com outras artes, os movimentos na música são quase sempre tardios…
PA — Sim, é verdade. Vêm sempre um bocadinho depois. E, neste caso do Período Internacional da Renascença, é quase duzentos anos depois do início do Renascimento nas outras artes — recordo que Brunelleschi concebeu o seu projeto para a cúpula de Santa Maria del Fiore nos primeiríssimos anos do século XV. No terceiro quartel do século XVI, tem-se uma linguagem musical que é o produto da confluência de várias grandes tradições, da tradição inglesa à tradição borgonhesa, da tradição francesa à tradição italiana, e tudo isto conflui no chamado Período Internacional, numa Europa em plena Contrarreforma, nas décadas que se seguiram ao Concílio de Trento. Pelo contrário, há épocas em que a individualidade emerge, e então já não estamos num período transversal mas sim numa série de ilhas férteis. O que teve de interessante a música no segundo quartel do século XX foi isto mesmo: essa multiplicação dos estilos e da individualidade. Mais tarde essa individualidade dissolve-se. Os modernistas estavam tão próximos que, em certas fases nos anos 1950, dificilmente se distinguia uma peça de Berio de uma peça de Boulez ou de Stockhausen, ou de Luigi Nono, ou até de John Cage. A música era extremamente parecida, homogénea no estilo, uniforme na técnica. No entanto, dez anos depois cada um seguiu o seu caminho, e seguiram caminhos tão diferentes que se tornaram mundos quase incompatíveis. Aliás, muitos deles incompatibilizaram-se.
P — Depois da música eletrónica e eletroacústica, qual é o futuro da música erudita?
PA — Possivelmente a chamada música mista. Uma música que conjuga meios instrumentais e meios eletrónicos.
P — Como é que se traz mais público para a música contemporânea? Existe essa vontade de conquistar mais público?
PA — Existe essa vontade, sim. E em Portugal existe uma instituição que merece ser citada como exemplo: a Casa da Música, na cidade do Porto. A Casa da Música assentou num terreno pouco povoado no sentido da oferta musical. Quando a Fundação Gulbenkian surgiu, em Lisboa, já existia o [Teatro Nacional de ] São Carlos, com uma tradição enorme ao nível da sua orquestra, do seu repertório, do público que o frequentava…
P — … um público seleto…
PA — Depende. Quando os músicos atuavam em São Carlos sim, era um público muito seleto. Mas na altura dos nossos pais, numa geração anterior à nossa, São Carlos tinha uma atuação regular no Coliseu dos Recreios. Eram as classes mais operárias que iam assistir às récitas de São Carlos no Coliseu. Havia a elite no largo de São Carlos e as récitas para o grande público no Coliseu. Quando a Gulbenkian apareceu isso já existia, e também a Orquestra da Emissora Nacional. Quando a Metropolitana surgiu já existiam Gulbenkian e São Carlos. No Porto, quando a Casa da Música surgiu, o terreno, não sendo virgem, era pouco povoado. E o que a Casa da Música consegue é multiplicar as suas formações e criar uma notável dinâmica na oferta e na relação com o público. Herdou uma formação que já existia, a Orquestra Nacional do Porto (hoje Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música), mas criou também o Remix Ensemble, dedicado à música contemporânea, a Orquestra Barroca da Casa da Música, etc. O percurso da Casa da Música foi construído ao longo de anos, com consistência, multiplicando os públicos, integrando a música contemporânea nos seus programas orquestrais. Estamos aqui diante de um trabalho de persistência na relação com o público. Houve momentos em que a Gulbenkian também fez isso, nos anos 1990, mas estávamos num contexto sociológico, completamente diferente, com muito menos oferta que hoje em dia. Recordo-me perfeitamente de ver salas cheias para assistir às obras de Stockhausen.

P — Apesar de ser intuitivamente reconhecida por qualquer pessoa, definir «música» não é um desafio fácil. É difícil encontrar um conceito que abarque todos os seus significados. Quer deixar-nos com a sua definição de música possível?
PA — Música é a arte de organizar o espaço sonoro.
P — O compositor alemão Kurt Weill dizia que não conseguia perceber a diferença entre música séria e música ligeira. Para ele só existia boa música e má música. O Pedro Amaral consegue perceber estas diferenças?
PA — Sim, consigo. Kurt Weill viveu numa época em que essas diferenças eram esbatidas. Tinha terminado o grande século romântico, o século XIX, e já no principio do século XX deflagrou a apoteose do romantismo, com o expressionismo germânico, com as obras de Mahler e de Richard Strauss, que são da geração precedente à de Kurt Weill. Esses compositores, essas músicas e esse estilo atingiram um gigantismo pós-wagneriano (quando se pensava que depois de Wagner era impossível ser-se mais gigante). Essas catedrais góticas que são as obras pós-românticas do princípio do século XX passam-se, todas elas, no domínio da pura erudição, embora na grande música de Mahler (não tanto na de Strauss e muito menos ainda na de Wagner) aconteça a introdução de ecos de música mundana. O Frère Jacques aparece na Sinfonia n.º 1 de Mahler, «Titã», que abarca tudo. A obra sinfónica passa a ser uma espécie de sublimação do mundo através do crivo da erudição, mas abarcando a também mundanidade. A geração seguinte já não queria esta reflexão gigantesca e megalómana, nem a sua estética quase demiúrgica. Queria, sim, estar perto da mundanidade, perto das coisas funcionais do dia a dia. Tanto podiam escrever uma música erudita para ser tocada numa situação de concerto, na grande tradição schubertiana de piano e voz, como usar o mesmo piano e a mesma voz para cantar um anúncio para a rádio com uma senhora a exaltar as virtudes de um sabonete, numa linguagem mais acessível ao público, a quem o anúncio era dirigido. De facto, em Kurt Weill e nessa época (no fundo, a época da República de Weimar, uma época extraordinária…) há um esbatimento das fronteiras estéticas que, entre outras coisas, está na origem de formas híbridas como a introdução do jazz na ópera, como Krenek fará em Jonny spielt auf seguido, mais tarde, por Gershwin em Porgy and Bess. Aliás, isso não acontece apenas dentro do perímetro germânico: a maneira como Stravinsky integra o jazz na sua poética musical é extraordinária. Conseguimos ouvir ao mesmo tempo o objeto jazz e a distância que o compositor provoca em relação a esse objeto. Claro que, nessa época, as fronteiras se esbateram.
P — Mas afinal que elemento diferenciador é esse, que nos nossos dias define a fronteira entre a música erudita e a música ligeira?
PA — Vou dar-lhe um exemplo muito concreto: não há dúvida de que Mozart é um compositor erudito. No entanto, há música em Mozart que é puramente popular. E é esta conjugação entre o popular e o erudito que faz com que Mozart seja simultaneamente um génio para as pessoas que apreciam o lado erudito, e o mais fascinante dos compositores para as pessoas que apreciam peças musicais mais populares, até para uma criança. Quando Mozart compôs As Bodas de Fígaro, Beaumarchais tinha estreado As Bodas de Fígaro poucos anos antes, na década de 1780. Era, portanto, uma obra contemporânea. Quando se lê o texto de Beaumarchais e depois se lê o texto de As Bodas de Fígaro tal como Lorenzo da Ponte e Mozart o adaptaram na ópera, encontra-se uma diferença capital: o texto do Beaumarchais é pura literatura, é um texto com uma linguagem literária sofisticadíssima, onde as personagens são extremamente inteligentes e a linguagem erudita. Mozart e Da Ponte colocam a mesma história numa linguagem completamente terra a terra.
P — Isto é, numa linguagem muito mais acessível ao público?
PA — Totalmente acessível, popular e, em muitos casos, brejeira. As pessoas normalmente não leem com particular atenção, porque estão absorvidas na música, mas se observarmos o texto d’As Bodas de Fígaro tal como Mozart e Da Ponte o adaptaram, encontramos observações de fazer corar qualquer um!! Encontramos lá tiradas completamente brejeiras que uma peça erudita provavelmente não teria, e numa linguagem do dia a dia, longe dos píncaros literários de Beaumarchais. A este propósito, é conhecida a crítica que Beethoven fazia, não em relação a As Bodas de Fígaro mas em relação ao Don Giovanni.
P — Que crítica era essa?
PA — Era uma crítica moral. Beethoven questionava como era possível a grande arte descer a ponto de tocar na imoralidade.
P — Voltando às diferenças entre música erudita e música ligeira…
PA — Penso que se há uma diferença fundamental entre arte erudita e arte popular, essa diferença está na escrita. A arte popular não resulta de um processo de escrita, mas de uma construção essencialmente empírica. Se pegarmos em casos concretos de poetas populares, como António Aleixo, verificamos que a poesia dele está fixada na escrita mas o verso não resulta de uma elaboração literária escrita, é quase oral — é talvez por isso que se memoriza tão facilmente. Aqui, a escrita não é o mais importante. Pelo contrário, numa obra erudita a escrita constitui o próprio veículo criativo. Se pegar num texto de Proust ou de Balzac, aquilo que lá é contado, é totalmente irrelevante. Proust deambula em dezenas de páginas sobre o beijo que a mãe lhe dá antes de adormecer. Isto é um problema dele — do autor, ou da personagem, ou provavelmente dos dois. O que nos faz ficar colados àquelas páginas não é o conteúdo mas a escrita, é a invenção propriamente literária com a qual aquele conteúdo, tantas vezes irrelevante, é veiculado. Já na literatura de tantos bestsellers é exatamente o contrário: o conteúdo é extraordinário e a escrita é insignificante. É isso que faz com que essas obras sejam provavelmente transitórias. Já não nos lembramos dos bestsellers dos anos 1980 nem dos anos de 1990. Os nossos filhos provavelmente não se lembrarão dos bestsellers de hoje. A existir uma fronteira entre a arte popular e a arte erudita, é a função da escrita em cada uma delas.
P — Acabamos, então, como começámos, unindo literatura e música. Oscar Wilde dizia que música é a arte mais perfeita e justificou porquê: por nunca revelar o seu último segredo. Que segredo é este, Pedro?
PA — [risos] É toda uma vida à procura…
P — Posso submetê-lo a um breve questionário?
PA — Pode.
P — O que anda a ler?
PA — Terminei Itália de António Mega Ferreira, e estou a ler dois livros sobre as sinfonias de Brahms: o de David Hurwitz e o de Walter Frisch.
P — Compor ou dirigir?
PA — Ambas.
P — Os maiores compositores do século XX?
PA — Stravinsky, Debussy (sem dúvida, apesar de estar na transição do século XIX para o século XX), Ravel, Boulez, Stockhausen e Berio.
P — Maior compositor de todos os tempos?
PA — Se tal existe, será talvez Johann Sebastian Bach.
P — Maior maestro de todos os tempos?
PA — Um conjunto formado por Bernstein, Karajan, Celibidache e, provavelmente, Carlos Kleiber.
P — Um músico absoluto?
PA — Luciano Berio.
P — Música séria, erudita ou clássica?
PA — Erudita.
P — Música orquestral ou música de câmara?
PA — Depende da hora do dia.
P — Nota musical preferida?
PA — Dó.
P — Termo musical preferido?
PA — Lontano.
P — Instrumento musical preferido?
PA — A orquestra.
P — A cidade musical por excelência?
PA — Veneza.
P — A sala preferida?
PA — Não revelo para não estimular a concorrência.
P — O público que aplaude entre os andamentos?
PA — Entusiasta.
P — O CD mais ouvido?
PA — Depende do que estou a trabalhar.
P — Um repertório que jamais vai dirigir?
PA — Um musical americano.
P — O repertório de sonho?
PA — Toda a obra de Bruckner.
P — Nomes de destaque da música portuguesa contemporânea?
PA — António Pinho Vargas, sem dúvida; Sérgio Azevedo, Luís Tinoco e Miguel Azguime.
P — Estação de rádio portuguesa preferida?
PA — A Antena 2.
P — Obrigada.
Publicações Relacionadas
-

-

21-04-2017 — Concerto «SONATAS, FANTASIAS…»
13 Abril 2017
-

-

-

Um fim de tarde com Domingos Bomtempo
05 Dezembro 2025
Publicações Relacionadas
-
Um fim de tarde com Domingos Bomtempo
Há 2 dias