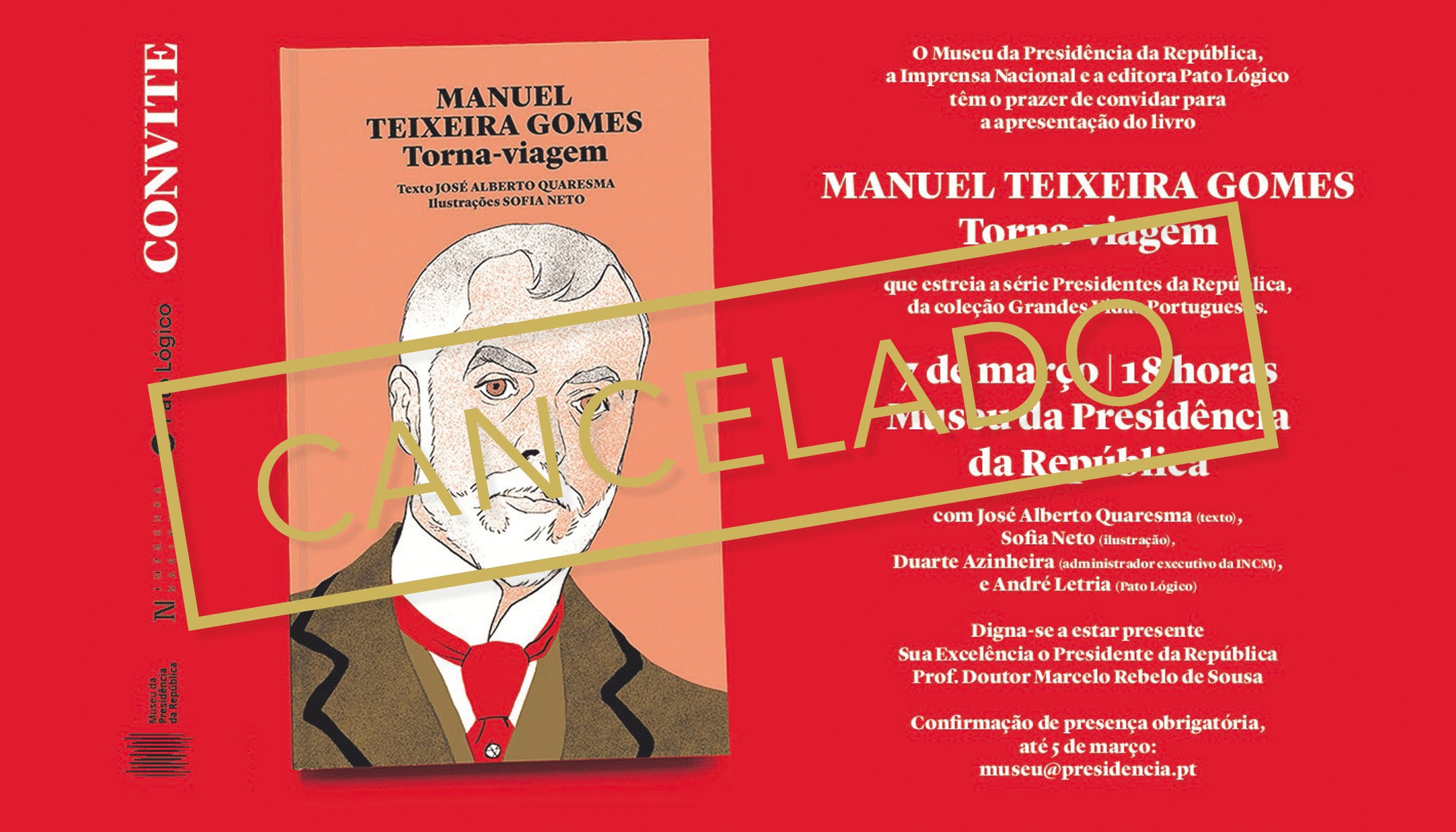Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
Guilherme d’Oliveira Martins em Entrevista — «O Bem, o Bom, o Belo, o Justo e o Verdadeiro são valores aos quais não podemos ser indiferentes.»
É pela «inovação» que passa o papel das artes — e o da literatura em particular — no combate à corrupção, segundo Guilherme d’Oliveira Martins, antigo presidente do Tribunal de Contas.
Até porque «a única possibilidade que o homem e a mulher têm de contemplar a ação de Deus é sendo criadores». E se, em tempos, Umberto Eco questionou «o que deseja a cultura?», adiantando como resposta «tornar o infinito compreensível», Guilherme d’Oliveira Martins acrescenta: «A cultura pretende ser criadora e pretende favorecer o respeito mútuo, a compreensão de que o Outro é a outra metade de nós mesmos.»
Ao mesmo tempo a cultura é a «nossa relação com a natureza» porque sempre que falamos de cultura falamos dessa «capacidade de semear e de colher». Expressão que Guilherme d’Oliveira Martins quer deixar registada é a da «cultura da língua portuguesa» como uma cultura de «melting pot, multifacetada e de diferenças» que, tendo nascido europeia, «projetou-se globalmente», tendo já «direito próprio» e onde os «crioulos não podem ser esquecidos».
Portanto, não se peça tudo ao novo Secretário-Geral das Nações Unidas. «Julgo que há uma decisão muito importante a fazer: a reforma do Conselho de Segurança da ONU, designadamente a presença do Brasil como membro permanente no Conselho de Segurança». Depois disso, Guilherme d’Oliveira Martins não tem dúvidas: «a partir dessa reforma — que é urgente — é muito natural que o português se torne também língua oficial da ONU, sem grandes pressões».
Para o administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, o que também tem de ser permanentemente «acompanhado, tratado e ‘regado’», por ser uma «flor muito frágil», é esse bem «extraordinariamente precioso» chamado Democracia. E para que nunca nos falte paixão política, Guilherme d’Oliveira Martins deixa a sugestão: «Tornemos os parlamentos nacionais mais presentes, mais ativos, prestando contas aos cidadãos, quer na dimensão nacional, quer na dimensão interestadual, quer na dimensão supranacional». Precisamente, o texto fundamental, garante de direitos e valores essenciais a um regime democrático, acabou de celebrar os seus quarenta anos de existência. Para Guilherme d’Oliveira Martins, a Constituição da República Portuguesa, de 1976, continua a garantir esses direitos e continua a ser um instrumento com «potencialidades ainda futuras». De preferência sempre com o seu Preâmbulo original.
Diz ainda que existem leis a mais, e que isso é «mau». Há que ter «poucas leis» e que estas sejam «claras» e «acessíveis» para o cidadão. E se a lei e a mentalidade se alteram num processo paralelo é porque há uma relação «íntima, biunívoca, entre a lei e a cidadania». Refere como exemplos admiráveis de cidadania Alexandre Herculano e [Joaquim Pedro de] Oliveira Martins. Ao último dedicou o n.º 64 da coleção «O Essencial sobre…», chancela INCM; o primeiro será um dos «protagonistas» do seu próximo livro, intitulado o Essencial sobre o Diário da República, também da editora pública.
Para Guilherme d’Oliveira Martins, a política é «a mais nobre das atividades» e, por isso mesmo, «se não atrairmos os melhores à atividade cívica e política, não estamos a defender adequadamente o bem comum», e abre-se espaço à «mediocridade» e à «corrupção». Sabe-o, por experiência própria, que Portugal não é um país mais corrupto do que os outros. Mas gosta sempre de relembrar que a corrupção «começa no favor e acaba num crime» e é um «fenómeno preocupante».
Tal como o são Donald Trump e o brexit. Diz que não deu conselhos ao seu filho, o atual secretário de Estado das Infraestruturas, porque «palavras, leva-as os vento» e o melhor é sempre a «experiência» e o «exemplo».
Um «mestre», um «amigo» e alguém que lhe faz «muita falta» é António Sousa Franco, a cujo percurso o seu em tudo se assemelha: também ele um amante de livros, eminente professor de Direito, ministro, deputado e presidente do Tribunal de Contas. «Se olhar ali para a estante, vê a sua presença. A fotografia está ali para que eu nunca me esqueça. E é assim em todos os meus gabinetes de trabalho.»
E foi no seu gabinete de trabalho da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que Guilherme d’Oliveira Martins nos recebeu. Uma fundação criada há mais de sessenta anos para dar resposta às necessidades mais urgentes da sociedade portuguesa, com base nas suas quatro áreas estatutárias — Arte, Beneficência, Educação e Ciência — e cujas finalidades «se mantêm vivas e não podem deixar de ser aprofundadas».
Quanto à coleção do seu fundador, «bem reveladora da personalidade de Calouste Gulbenkian» — que, ao que parece, «falava mal português» —, estima-se que seja uma das sete maiores coleções de arte privadas do mundo. «As reservas do Museu são extraordinariamente ricas.» E, boas notícias (!), hoje, um dos grandes desafios da Fundação é, precisamente, o de «tornar a coleção mais próxima do público em toda a sua riqueza».
Guilherme d’Oliveira Martins não acredita em coincidências, mas a verdade é que nasceu no dia da escritura de constituição formal do Centro Nacional de Cultura, organismo ao qual viria a presidir. E talvez aí, sim, «tenha sido uma grande coincidência»!
No final de tudo, perguntámos-lhe se um dia o poderíamos ver como diretor-geral da UNESCO, ele que já esteve na Comissão Nacional. Riu-se e respondeu que não. Mas Guilherme d’Oliveira Martins sabe-o bem: o céu não é o limite. O limite é, tão somente, a «capacidade de cada um»…
PRELO (P) — A 23 de setembro de 1952 Richard Nixon profere o seu «Checkers speech», o famoso «Discurso de Damas». Um discurso em que, o então senador e candidato à vice‑presidência dos Estados Unidos, negava acusações de suborno e irregularidades relativas ao financiamento de sua campanha. No mesmo dia nascia em Lisboa um dos futuros presidentes do Tribunal de Contas, a instituição suprema de fiscalização e controlo de dinheiros e valores públicos. Acredita em coincidências?
 Guilherme d’Oliveira Martins (GOM) — Não. As coincidências são coincidências. Assim como os jornais davam nota desse acontecimento, também davam nota de que Charles Chaplin estava em Nova Iorque, onde fez declarações sobre as perspetivas da sua carreira e da sua relação com o cinema. Diria que coincidência foi o facto de no dia 23 de setembro de 1952 ter sido feita a escritura de constituição formal do Centro Nacional de Cultura, que tinha sido criado em 13 de maio de 1945 mas só foi formalizado no notário a 23 de setembro de 1952. Eu viria a ser presidente do Centro Nacional de Cultura, a que me ligam ligações muito fortes. E aí talvez sim, talvez, foi uma grande coincidência.
Guilherme d’Oliveira Martins (GOM) — Não. As coincidências são coincidências. Assim como os jornais davam nota desse acontecimento, também davam nota de que Charles Chaplin estava em Nova Iorque, onde fez declarações sobre as perspetivas da sua carreira e da sua relação com o cinema. Diria que coincidência foi o facto de no dia 23 de setembro de 1952 ter sido feita a escritura de constituição formal do Centro Nacional de Cultura, que tinha sido criado em 13 de maio de 1945 mas só foi formalizado no notário a 23 de setembro de 1952. Eu viria a ser presidente do Centro Nacional de Cultura, a que me ligam ligações muito fortes. E aí talvez sim, talvez, foi uma grande coincidência.
P — Ou talvez uma confluência dos astros…
GOM — Sobretudo há um dado importante: nasci no trânsito dos signos Virgem e Balança. Por isso, nunca sei bem qual é, de facto, o meu signo, porque nasci exatamente nessa transição.
P — E identifica-se mais com o rigor e preciosismo de Virgem ou com a busca do equilíbrio e da justiça de Balança?
GOM — [risos] Não conheço o suficiente sobre a matéria!
P — Realizamos esta entrevista no dia [8 de novembro de 2016] em que decorrem as eleições na América. Que acha desejável que resulte deste escrutínio?
GOM — O problema não é de desejabilidade. O problema é de realidade. O certo é que o fenómeno «Donald Trump» existe e, em qualquer circunstância, não pode deixar de ser tido em consideração. Não apenas nos Estados Unidos da América mas também quanto às necessidades evidentes de aperfeiçoamento da Democracia. É indispensável compreendermos o seguinte: é preciso aproximarmos mais os cidadãos das instituições quer em termos de representação quer em termos de responsabilidade. Essa é que é a grande questão! E é uma questão que ocorre também na Europa. Há uns meses tivemos uma surpresa, para mim desagradável, que foi a decisão do brexit. E aí estão todas as dificuldades e todas as dúvidas, uma vez que há nitidamente um corte entre os mais jovens e as gerações mais idosas relativamente ao futuro do Reino Unido. É uma procissão que ainda vai no adro. Não podemos deixar de respeitar aquilo que aconteceu no referendo. O referendo, ou a sua convocação, foi uma decisão muito aventurosa, como se prova. O que é facto é que nada estava preparado. Quando uma sociedade toma uma decisão com esta importância, naturalmente que deve preparar-se. Depois, há contradições muito grandes como foi a promessa feita à Escócia nas vésperas do referendo para a eventual independência. Prometeu-se que a Escócia seria necessariamente ouvida e tida em consideração numa qualquer decisão que viesse a ser tomada relativamente à Europa. Há muitas contradições. Ou seja, a Democracia é hoje um bem extraordinariamente precioso, dela dependem a Paz e a Segurança. Nesse sentido, temos de compreender que estamos a viver um momento decisivo.
P — Sente que atualmente a Democracia tende a desembocar num niilismo passivo, ou seja, numa falta de paixão política? Veja-se as taxas de abstenção em Portugal…
GOM — A Democracia está sempre incompleta. Esse aspeto é naturalmente importante. A sua pergunta suscita um problema em que tenho refletido bastante. O problema consiste na necessidade de aproximar as pessoas, aproximar os cidadãos da coisa pública. O cidadão comum, em determinadas matérias, nomeadamente em matérias europeias, desenvolve este euroceticismo. E isto acontece por toda a Europa. É algo que tem a ver com a insuficiência dos mecanismos de participação.
P — O que há a fazer?
GOM — Os parlamentos nacionais têm de ter um papel mais ativo, mais presente relativamente ao acompanhamento das matérias europeias, a subsidiariedade tem de fazer-se, isto é, a resolução dos problemas deve fazer-se próximo das pessoas, nos casos em que isso é possível. Tornemos, pois, os parlamentos nacionais mais presentes, mais ativos prestando contas aos cidadãos quer na dimensão nacional, quer na dimensão interestadual, quer na dimensão supranacional. Depois, defendo também para a União Europeia uma segunda câmara, um senado, que deve ser de representação igual de todos os estados, como acontece no Senado dos Estados Unidos. Para quê? Para assegurar uma dupla legitimidade: a legitimidade dos Estados e a legitimidade dos cidadãos. A legitimidade do Parlamento Europeu é, muitas vezes, uma legitimidade artificial. Está incompleta. Não estou a dizer que não seja importante. É importante mas está incompleta, e é preciso ser completada por um senado que traduza esta dimensão nacional e que preveja um papel muito interveniente dos órgãos nacionais, designadamente dos parlamentos nacionais. Esta preocupação de aperfeiçoar os mecanismos da Democracia é importante. A Democracia é uma flor muito frágil. Tem de estar sempre a ser acompanhada, tratada, regada…
P — Voltando às eleições americanas…
GOM — Independentemente de pensar que a senhora Hillary Clinton poderia ganhar as eleições, o certo é que o fenómeno Trump está aí.
P — Além de exercer as funções de presidente do Tribunal de Contas, foi também presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, da Organização das Instituições Superiores de Controlo das Finanças Públicas da Europa e do Comité de Contacto dos Presidentes das Instituições Superiores de Controlo da União Europeia. Pela sua experiência, acha que a corrupção em Portugal é mais acentuada do que em outros países?
GOM — Não. Não é mais acentuada do que nos outros países mas é um fenómeno preocupante. Tenho insistido nisso no desempenho das minhas funções. É indispensável percebermos que a corrupção está muito mais próxima dos cidadãos do que eles próprios supõem. A corrupção começa no favor e acaba num crime. E é tudo muito rápido. As fronteiras por vezes tornam-se extremamente ténues. Por isso mesmo, é indispensável haver planos de prevenção. A prevenção é absolutamente crucial. Claro que há outros países europeus onde os riscos de corrupção são ainda maiores do que os nossos. Mas com o mal dos outros podemos nós bem… Diria apenas duas coisas: primeira, devemos estar muito atentos uma vez que o fenómeno da corrupção nos espreita a cada passo; e, segunda, temos de montar sistemas preventivos designadamente no domínio dos conflitos de interesses.
P — E como é que se faz isso?
GOM — Temos de saber exatamente os processos de enriquecimento. Muitas vezes encontramos enriquecimentos súbitos, portanto temos de saber qual é a sua origem. Pode ser uma origem lícita e legítima, e aqui é indispensável dizer que «quem não deve não teme». E, por isso, quando existe a dúvida, a verdade deve ser esclarecida e deve prevalecer.
P — Falou do cidadão. A seu ver, qual é o papel do cidadão comum no combate à corrupção?
GOM — Um dia ia na rua e uma pessoa que não conhecia abeirou-se de mim e perguntou‑me: «O que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer para combater a corrupção?» E eu respondi-lhe: «Se tem conhecimento de um facto que possa corresponder a um ato de corrupção, deve denunciá-lo às autoridades.» E este é um princípio muito importante. Num país que viveu uma longa ditadura, as pessoas têm sempre a ideia de que a denúncia é algo menos bem-visto.
P — É visto como algo de pidesco…
GOM — A denúncia relativamente a atos lesivos do interesse geral e do bem comum é algo de fundamental. É isso que acontece nos países nórdicos. É verdade que são países com outra tradição, uma tradição calvinista, como refere Marx Weber, mas não é preciso sermos calvinistas para dizer, por exemplo, que não pagar impostos é roubo.
P — Dizia também o filósofo grego que «é muito mais fácil corromper do que persuadir».
 GOM — Concordo. Sobretudo tendo em conta também a afirmação de Emmanuel Mounier: «O poder atrai os corrompidos e corrompe quem atrai.» Ou seja, o fenómeno mais preocupante aqui é que aos corrompidos se associam aqueles que, de algum modo, são arrastados por este fenómeno. A frase de Sócrates confirma a ideia de que a corrupção está próximo das pessoas e começa numa lógica de conhecimentos e de favores. Por que razão é que os gerentes das instituições bancárias não podem estar por um período muito longo com essa responsabilidade? Para evitar o conhecimento e para evitar a discriminação. No fundo, quando conhecemos as situações tendemos naturalmente a discriminar e a favorecer quem conhecemos em detrimento de quem não conhecemos. Na resolução de problemas que têm a ver com todos é necessário que corrijamos essa situação e que retiremos da decisão esse fator da empatia e conhecimento.
GOM — Concordo. Sobretudo tendo em conta também a afirmação de Emmanuel Mounier: «O poder atrai os corrompidos e corrompe quem atrai.» Ou seja, o fenómeno mais preocupante aqui é que aos corrompidos se associam aqueles que, de algum modo, são arrastados por este fenómeno. A frase de Sócrates confirma a ideia de que a corrupção está próximo das pessoas e começa numa lógica de conhecimentos e de favores. Por que razão é que os gerentes das instituições bancárias não podem estar por um período muito longo com essa responsabilidade? Para evitar o conhecimento e para evitar a discriminação. No fundo, quando conhecemos as situações tendemos naturalmente a discriminar e a favorecer quem conhecemos em detrimento de quem não conhecemos. Na resolução de problemas que têm a ver com todos é necessário que corrijamos essa situação e que retiremos da decisão esse fator da empatia e conhecimento.
P — Qual é o papel das artes e da literatura, em particular, na prevenção da corrupção que referiu?
GOM — É o da inovação! No dia em que conversamos está a ter lugar, aqui em Lisboa, o Web Summit, que tem um peso muito significativo relativamente à inovação. Ao falarmos de inovação, falamos pelo menos de três realidades que tem a ver com a cultura. A primeira é justamente aquela que tem a ver com o progresso tecnológico; a segunda tem a ver com a inovação ligada à literatura ou à arte — às artes plásticas, à música, etc. —, e, em terceiro lugar, a inovação científica. É preciso não esquecermos que há bem pouco tempo 80% dos cancros eram doenças incuráveis e hoje apenas 20% estão nessa situação. E porquê? Porque houve inovação e eficácia relativamente à investigação científica. Diria que a inovação tecnológica, artística e literária e a investigação científica são processos semelhantes relativamente à inovação.
P — Escrevia Oscar Wilde que «a civilização não é de modo algum fácil de se conseguir. Há apenas duas maneiras possíveis de a alcançar. Uma é através da cultura, a outra através da corrupção»…
GOM — A cultura é a capacidade de influenciar a natureza, influenciar positivamente, transformá-la e pô-la ao serviço das pessoas. A corrupção ocorre não apenas com o fator humano mas também como degradação ou deterioração do próprio meio ambiente. Por exemplo, quando emitimos CO₂ em excesso ou quando poluímos os centros das cidades, etc., estamos a corromper também. Corrompemos a natureza. Esse fenómeno de corrupção na afirmação de Wilde é o contraponto à capacidade criadora. Alguém dizia que a única possibilidade que o homem ou a mulher tem de completar a ação de Deus é sendo criadores.

P — Umberto Eco também levantou a questão: «O que pretende a cultura?» E deu a sua resposta: «Tornar o infinito compreensível.» Pergunto-lhe: o que pretende a cultura?
GOM — A cultura pretende ser criadora e pretende favorecer o respeito mútuo, a compreensão de que o outro é a outra metade de nós mesmos e, simultaneamente, a nossa relação com a natureza. Cultura e natureza estão sempre relacionadas. A cultura humana influencia sempre a própria natureza.
P — Falamos em cultura agrícola, por exemplo…
GOM — Agricultura… é a cultura do campo. Quando falamos de cultura falamos sempre nesta capacidade de semear e de colher. A cultura é uma sementeira. Em Portugal – Identidade e Diferença. Aventura da memória [Lisboa: Gradiva, 2007], um dos meus livros, quando falo em Herculano e Garrett, e em «sementeira de ideias». Isto para referir os dois nossos grandes românticos, que tiveram uma influência muito além da escola que frequentaram e do tempo em que agiram. No caso de Alexandre Herculano, teve uma relação muito importante com a Geração de 70 e muito particularmente com Antero de Quental e com Oliveira Martins.
P — Os Vencidos da Vida…
GOM — Era uma relação tão estreita a ponto de, quando foi proibida a sessão das Conferências Democráticas do Casino, Alexandre Herculano ter sido o primeiro subscritor em protesto a essa decisão. Mas Herculano não deixa de dizer «eu não tenho de concordar ou discordar, tenho é de garantir que haja liberdade de expressão, liberdade de circulação de ideias». Isto vai ao encontro do que disse Voltaire, que «estava disposto a morrer para que aquele que não tenha as minhas ideias as possa exprimir».
P — Em Apocalípticos e Integrados, Eco diz-nos que não há alta cultura nem baixa cultura, tudo é cultura. É assim?
GOM — É assim mesmo. Há dias, a convite de Joana Vasconcelos, participei na inauguração do Pop Galo, na Praça do Comércio, em Lisboa. E, justamente, houve pessoas que me perguntaram: «Então como é que é?» E eu respondi: «É a ligação entre a cultura erudita e a cultura popular.» É que as pessoas esquecem-se, por exemplo, que o elemento «gal», as três letras finais da palavra «Portugal», significa a nossa ligação à civilização indo-europeia que une os Gálatas, os Galegos, os Galécios, os Gauleses, os Galeses… Isto significa, afinal, a compreensão deste fundo indo-europeu e céltico que aqui na finisterra se manifesta. O galo, simplesmente, é que anuncia a aurora, e projeta-se fora da Europa, uma vez que temos o candomblé em Salvador da Bahia, por exemplo. Essa cultura extraordinária que foi levada pelos africanos para a América do Sul, que fizeram essa mestiçagem cultural na qual o galo é um símbolo muito importante articulado com os orixás. Depois, temos evidentemente a nossa relação com o Oriente. Fomos os primeiros a relacionar-nos com o Japão e com a China. E não podemos esquecer que no calendário chinês o próximo ano é o ano do galo.
P — Porque refere esse dado?
GOM — Porque foi com muito gosto que aceitei o desafio da Joana Vasconcelos. É a cultura erudita e a cultura popular que estão no Pop Galo, como a Joana Vasconcelos tão bem o tem compreendido.
P — Então de que falamos quando falamos de «elitismo» na cultura?
GOM — Temos de prevenir essa situação. Essa é uma situação que tem de ser prevenida. A cultura não pode estar no último capítulo dos programas políticos.
P — Como é que isso se consegue?
 GOM — A cultura tem de estar da primeira à última linha em qualquer programa de políticas públicas. A cultura não pode ser uma cereja no cimo de um bolo. E muitas vezes é-o. Trata-se de tudo, de todas as questões e depois lá se lembram de que falta um capítulozinho onde referir os escritores, os artistas, os músicos… Não pode ser assim. A cultura é transversal, mas, atenção! não se pode dizer que a cultura é tudo! Isto também é completamente errado. O que nós temos de compreender é que a cultura envolve a própria diversidade da ação humana, abrangendo-a. A cultura obriga a perceber o que está mais próximo da terra. Um artesão analfabeto, como dizia o meu querido mestre Agostinho da Silva, é extraordinariamente importante como agente cultural. Por outro lado, temos de ter em conta a educação. Na língua alemã usa-se a palavra Bildung. Bild é construção, é construir. Esta ideia de Bildung é não só a ideia de educação mas também a ideia de capacidade criadora. Da educação vem sempre uma troca.
GOM — A cultura tem de estar da primeira à última linha em qualquer programa de políticas públicas. A cultura não pode ser uma cereja no cimo de um bolo. E muitas vezes é-o. Trata-se de tudo, de todas as questões e depois lá se lembram de que falta um capítulozinho onde referir os escritores, os artistas, os músicos… Não pode ser assim. A cultura é transversal, mas, atenção! não se pode dizer que a cultura é tudo! Isto também é completamente errado. O que nós temos de compreender é que a cultura envolve a própria diversidade da ação humana, abrangendo-a. A cultura obriga a perceber o que está mais próximo da terra. Um artesão analfabeto, como dizia o meu querido mestre Agostinho da Silva, é extraordinariamente importante como agente cultural. Por outro lado, temos de ter em conta a educação. Na língua alemã usa-se a palavra Bildung. Bild é construção, é construir. Esta ideia de Bildung é não só a ideia de educação mas também a ideia de capacidade criadora. Da educação vem sempre uma troca.
P — Forma-se portanto um triângulo: Cultura, Educação e…
GOM — Ciência! Exatamente! E esse triângulo é fundamental. Quando nós estamos a apostar na cultura estamos a apostar no triângulo. Por isso é que lhe dizia que falar de cultura é falar de algo que está subjacente a toda a atividade humana e, logo, à cultura popular e à cultura erudita. E naturalmente que há uma ligação. Volto ao Pop Galo, esta ideia do pop, é algo com que temos de saber lidar.
P — Ainda acha que existem artes superiores e artes inferiores? A boa literatura é melhor do que o bom blues, por exemplo?
GOM — É muito difícil responder-lhe. A sua pergunta não se responde em claro ou escuro, em preto ou branco, em sim ou não. A sua pergunta responde-se dizendo que é preciso perceber — como o fazemos em relação aos valores — que há uma hierarquia. Não podemos ser indiferentes ou relativistas. Não podemos confundir o relativismo com o pluralismo. Nós vivemos numa sociedade pluralista, numa sociedade de diferenças mas isto não significa que tudo valha o mesmo. Não! Edgar Morin, de quem também tenho ali a fotografia, e que é uma pessoa que conheço bastante bem, introduz este elemento: o da complexidade. A cultura tem de ser a compreensão da complexidade onde há vários fatores e onde há uma hierarquia de valores. E são valores enraizados. São os valores dos homens e das mulheres, das pessoas de carne e osso. Isto obriga a compreender uma hierarquia: o Bem, o Bom, o Belo, o Justo e o Verdadeiro são valores aos quais não podemos ser indiferentes.
P — Há dias a Academia Sueca surpreendeu. O que achou da entrega do Prémio Nobel da Literatura a Bob Dylan?
GOM — É cultura popular. É disso que falamos quando falamos de Bob Dylan. Talvez ainda não tenhamos a capacidade plena de compreensão de uma decisão destas. Tenho acompanhado o debate internacional em torno desta atribuição. Há argumentos contrastados. Há aqueles e aquelas que dizem «atenção!, é preciso compreendermos o papel da literatura», e aqueles que dizem «de algum modo a poesia de Bob Dylan é uma forma de expressar a relação moderna com o mundo e com a sociedade que nos cerca». Como todas as decisões inovadoras é algo que tem prós e contras. Mas devo dizer que não me choca a decisão de entregar o Prémio Nobel da Literatura a Bob Dylan. Mas esta decisão vai obrigar a uma profunda reflexão. O próprio júri do Prémio teve dúvidas. Aliás, neste ano tivemos um atraso relativamente à divulgação do Prémio Nobel da Literatura porque houve alguma controvérsia, compreensível. Vamos ver. Não me choca.
P — Defendeu que a lição essencial da nossa cultura tem a ver com a capacidade de prever, de planear e de persistir. Consegue antever de que maneira é que a nossa cultura vai evoluir?
GOM — A nossa cultura vai evoluir em relação com as outras culturas. A cultura da língua portuguesa — aqui registo a expressão — é uma cultura de melting pot, multifacetada, de diferenças; é uma cultura que tendo nascido europeia projetou-se globalmente. Penso que a melhor expressão relativamente à projeção internacional desta nossa cultura é falar de uma língua de várias culturas e de uma cultura de várias línguas.

P — Não há uma contradição nesta expressão?
GOM — Não há qualquer contradição nessa expressão. É, de facto, uma língua de várias culturas porque se projetou universalmente. É hoje a 3.ª língua europeia mais falada no mundo, a 1.ª mais falada no Hemisfério Sul e é uma das cinco línguas que mais vai crescer até ao final deste século.
P — E que está presente nos cinco continentes…
GOM — Está presente nos cinco continentes… E, depois, é uma cultura de várias línguas uma vez que não podemos esquecer a relação da cultura portuguesa com os crioulos, que são línguas subsidiárias de uma língua principal, que é o português. Os crioulos não podem ser esquecidos. E sublinho: não podem ser esquecidos. No romance extraordinário, da autoria de Baltazar Lopes, Chiquinho, encontramos as idiossincrasias próprias de Cabo Verde e as várias culturas e línguas com a existência do português. Tudo isto vindo de um mestre da língua portuguesa, Baltazar Lopes, que foi também professor de latim no Liceu Camões. Não é por acaso que isto acontece. Foi este professor de latim e cultor da língua portuguesa que abriu as portas relativamente às outras línguas com as quais esta língua se relaciona.
P — Qual a política atual da Fundação Calouste Gulbenkian em relação à promoção da língua portuguesa no estrangeiro?
GOM — O reforço, a reorientação. Nas linhas principais de ação da Fundação temos a internacionalização da língua e da cultura. E esta internacionalização da língua e da cultura obriga à compreensão do papel na preservação do património cultural, no sentido amplo, de responsabilidade e futuro. Na noção de património muitas vezes perdemos a sua etimologia. A noção de patri munus: o dever que temos perante aquilo que recebemos dos nossos pais. Não é um culto retrospetivo daquilo que recebemos, é uma responsabilidade. E o património, para ser preservado, tem de ser enriquecido.
P — Em 2010, dedicou o texto Mestre Cidadão, publicado pela INCM, a Alexandre Herculano, que defendia que «querer é quase sempre poder: o que é excessivamente raro é o querer». Sempre quis fazer política? Ou isso é mesmo de família — tem um tetravô que foi ministro do Reino a seguir à revolução de 1820; um tio-avô que foi ministro da Fazenda; agora, um filho que é secretário de Estado…
 GOM — Considero que a política é a mais nobre das atividades. É aquela que cuida do bem comum. E se nós não atrairmos os melhores à atividade cívica e política — ligo sempre as duas coisas —, não estamos a defender adequadamente o bem comum e damos espaço à mediocridade e à corrupção. E temos de estar atentos quanto a isto. Quando oiço dizer, muitas vezes, «Ah! A política não é para mim, isso é sujar as mãos…», digo que é indispensável perceber que os melhores têm de estar na vida política.
GOM — Considero que a política é a mais nobre das atividades. É aquela que cuida do bem comum. E se nós não atrairmos os melhores à atividade cívica e política — ligo sempre as duas coisas —, não estamos a defender adequadamente o bem comum e damos espaço à mediocridade e à corrupção. E temos de estar atentos quanto a isto. Quando oiço dizer, muitas vezes, «Ah! A política não é para mim, isso é sujar as mãos…», digo que é indispensável perceber que os melhores têm de estar na vida política.
P — É uma questão de cidadania?
GOM — Sim, por uma questão de cidadania. Quando nós vemos, por exemplo, esse momento extraordinariamente importante que foi a Assembleia Constituinte de 1975 vemos a composição dessa Assembleia que é absolutamente notável, em que há um conjunto de personalidades que se envolveram, que participaram ativamente e que permitiram aprovar uma lei que é das mais duradouras na nossa história constitucional. Isso é positivo! Contra a indiferença, é positivo que tenha havido uma grande mobilização.
P — A seu ver, Alexandre Herculano é um exemplo de cidadania?
GOM — É um exemplo bastante significativo que eu admiro profundamente. E admiro designadamente pela afirmação que referiu. A Herculano, ao ter estudado a história portuguesa, pôs-se-lhe uma questão: «Porquê haver Portugal?» E Herculano costumava dizer que «as razões para não haver podem ser em maior número que as razões para haver». Então porque existíamos? E ele dizia: «Somos porque queremos.» Esta ideia é particularmente importante. Os grandes historiadores têm andado em torno deste tema. Recordo Alexandre Herculano, Oliveira Martins e mais modernamente José Mattoso.
P — Qual é, então, a razão de ser de Portugal?

GOM — Há uma razão geográfica, que é óbvia. É a nossa frente atlântica. Nós somos marítimos, a Espanha é continental. Até aos Reis Católicos, Castela hesitou, e os reis portugueses também hesitaram relativamente a Castela, nomeadamente para saber se a Península Ibérica se deveria dividir numa união entre Portugal e Castela, ou se Portugal ficaria autónomo com a nossa frente marítima, ou se Castela se uniria a Aragão. Foi isto que acabou por acontecer. A verdade é que há uma continentalidade na realidade de Espanha. Daí, e voltando ao brexit e às minhas preocupações relativamente à eventual saída do Reino Unido da União Europeia, que seja negativo enfraquecer a frente atlântica. A frente atlântica tem funcionado. O tratado luso-britânico — tão antigo que é, e não é tão antigo por acaso — deve-se justamente a essa articulação natural marítima e atlântica. Já a França tem neste momento esse dilema entre a continentalidade e a «maritimalidade». Portugal nunca teve essa dúvida. Portugal existe graças à frente atlântica e, simultaneamente, à vontade dos Portugueses.
P — Acha que nos últimos anos, principalmente a partir de 1986, existe a vontade de nós, Portugueses, nos voltarmos para o continente, para a Europa?
GOM — Nesse aspeto, sou muito concordante com aquilo que disse Eduardo Lourenço. E hoje podemos completar o seu raciocínio, que está muito claramente explícito em ensaios como o Labirinto da Saudade ou Psicanálise Mítica do Destino Português e, depois, com toda a sua intervenção no decorrer da Expo’98 e com os textos que na altura fez. Eduardo Lourenço disse algo com o qual estou profundamente de acordo. Disse que Portugal é originalmente europeu através de um melting pot, mas não se compreende sem a projeção extraeuropeia. Portanto, Portugal não é só a dimensão extraeuropeia nem só a dimensão europeia. Nisso partilhamos uma vocação com a Espanha. Costumo citar muitas vezes Lorenzo Natali, que foi o comissário do alargamento de Portugal e Espanha, quando os dois países entraram na Comunidade Económica Europeia. Este costumava dizer que, quando Portugal e Espanha entrassem na Comunidade Europeia, esta mudaria de natureza, uma vez que iria receber não apenas a presença europeia dos países ibéricos mas também a sua dimensão extraeuropeia. Isso hoje está muito claramente demonstrado. Se virmos bem, o alargamento à Península Ibérica teve uma importância que os alargamentos do Centro e Leste da Europa não tiveram. Temos no alargamento ibérico um caso de sucesso. Evidentemente que este alargamento coincidiu com momentos particularmente importantes: o Ato Único Europeu, a coesão económica e social, três anos depois veio a queda do muro de Berlim. Claro que isto precipitou as coisas. Aquilo que era o debate de alargamento e aprofundamento rapidamente se tornou no debate de alargamento inexorável, como um ato quase fatal. E hoje estamos a pagar isso. Porque esse alargamento foi um alargamento demasiado rápido, não devidamente consolidado — é certo que o mesmo já tinha acontecido com o alargamento à Grécia, que não reunia minimamente as condições de aderir ao euro, ao contrário do que aconteceu com Portugal e Espanha. Hoje, vistas as coisas, Portugal e Espanha tinham perfeitas condições para aderir ao euro desde que — e é isso que tem faltado à União Europeia — houvesse uma verdadeira coesão económico-social.
P — Que é que falta neste momento?
GOM — Há poucos meses discutiu-se muito o sancionamento de Portugal e Espanha relativamente ao critério da convergência e esqueceu-se clamorosamente de referir que havia dois países, a Alemanha e a Holanda, que estavam a violar também o Tratado, no que se refere à coesão económico-social. Tanto a Holanda como a Alemanha acumulavam excedentes e não os partilhavam. Ora, a coesão económico-social obriga a uma partilha de todos: de quem acumulou excedentes e de quem é beneficiário dos mesmos.
P — Podemos saber, enquanto pai e enquanto político que foi, qual o principal conselho que deu ao seu filho antes de este assumir o cargo de secretário de Estado das Infraestruturas?
GOM — A minha relação com o meu filho não se baseia em conselhos, mas sobretudo numa permanente troca de ideias e impressões. Não penso que o método correto seja dar conselhos. Palavras, leva-as o vento. O melhor é sempre a experiência, o exemplo. O meu filho é professor na Faculdade de Direito, onde também fui professor. Depois, doutorou-se na especialidade que eu também segui: o direito financeiro. Isso para mim é naturalmente um motivo de orgulho. Cultivei o direito financeiro graças ao meu Professor António Sousa Franco, está a ser seguido pelo meu filho e também pela minha filha, que é professora de Finanças Públicas na Faculdade de Direito da Universidade Católica. Neste aspeto, dois dos meus filhos seguiram os meus passos. Mas devo dizer-lhe que num e noutro caso não tive qualquer influência. No caso da minha filha, até foi o Professor Sousa Franco, no último ano que esteve entre nós, que a convidou para ser sua assistente. Mantenho com o meu filho uma relação de troca de ideias, e isso é que me parece importante.
P — Refere António Sousa Franco, também ele um amante de livros, eminente professor de Direito, ministro, deputado e presidente do Tribunal de Contas. Têm, aliás, um percurso parecido… Qual a importância do seu mestre para o seu percurso?
 GOM — Toda! Se olhar ali para a estante vê a sua presença. A fotografia está ali para que eu nunca me esqueça e é assim em todos os meus gabinetes de trabalho. António Sousa Franco era uma pessoa absolutamente excecional. Conheci-o como meu professor na Faculdade de Direito e depois seguiu-se um percurso de aproximação e depois de relação familiar, uma vez que ele é o padrinho da minha filha mais nova, que não se dedicou ao Direito, mas às artes plásticas e à arquitetura. Foi uma relação muito próxima, até ele ter morrido. A poucas horas de morrer telefonou-me. Foi durante uma campanha eleitoral, como bem sabemos, ele estava profundamente empenhado e com razão porque o que é facto é que ele iria ter um resultado muito bom, uma vitória clara nas eleições. António Sousa Franco é um mestre, é um amigo e alguém que me faz muita falta. Muitas vezes dou por mim a pensar: «Se ele aqui estivesse, o que me diria?» Havia um contacto muito natural e permanente entre nós.
GOM — Toda! Se olhar ali para a estante vê a sua presença. A fotografia está ali para que eu nunca me esqueça e é assim em todos os meus gabinetes de trabalho. António Sousa Franco era uma pessoa absolutamente excecional. Conheci-o como meu professor na Faculdade de Direito e depois seguiu-se um percurso de aproximação e depois de relação familiar, uma vez que ele é o padrinho da minha filha mais nova, que não se dedicou ao Direito, mas às artes plásticas e à arquitetura. Foi uma relação muito próxima, até ele ter morrido. A poucas horas de morrer telefonou-me. Foi durante uma campanha eleitoral, como bem sabemos, ele estava profundamente empenhado e com razão porque o que é facto é que ele iria ter um resultado muito bom, uma vitória clara nas eleições. António Sousa Franco é um mestre, é um amigo e alguém que me faz muita falta. Muitas vezes dou por mim a pensar: «Se ele aqui estivesse, o que me diria?» Havia um contacto muito natural e permanente entre nós.
P — Exerceu também funções de ministro da Presidência, das Finanças e da Educação. Foi secretário de Estado da Administração Educativa e deputado à Assembleia da República. É atualmente administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian e presidente do conselho das artes do Centro Nacional de Cultura. A melhor coisa é sempre aquela que está a fazer no presente?
GOM — É. É assim exatamente. Essa é a atitude correta. E comigo tem sido assim. Dou sempre tudo o que posso relativamente àquilo que estou a fazer. Tenho tido a alegria de ter feito coisas que gosto de fazer. Obviamente que há momentos melhores e há momentos piores. Maiores dificuldades, menores dificuldades, isso é natural.
P — É um homem de balanços? Passou por ministérios ditos «complicados». Dá por si a pensar naquilo que fez, no que não fez, no que poderia ter feito?
GOM — Sim. É evidente que todos nós fazemos balanços e ponderações. Mas o pior general é aquele que discute por que razão perdeu a última batalha; o melhor general é aquele que discute como é que vai vencer a próxima batalha. Essa é a atitude correta. E neste sentido os balanços retroativos não estão muito no meu caráter. Todos nós cometemos erros. Essa é a verdade.
P — O próprio Herculano dizia que não se envergonhava de corrigir os erros e de mudar de opinião «porque não me envergonho de raciocinar e aprender».
GOM — Não posso estar mais de acordo!
P — Assim de repente, há alguma coisa de que se arrependa?
GOM — De tudo o que é da minha experiência, procuro retirar sempre os aspetos positivos. Se me perguntar se cometi erros, claro que os cometi. Todos os dias cometemos erros! Somos imperfeitos. Eu relativizo um pouco as coisas. Se tivesse uma outra conceção da vida, certamente que me penalizaria pela imperfeição. Julgo que os erros podem ser sempre positivos, desde que possam ser retificados.
P — O erro pode ser pedagógico…
GOM — Exatamente!
P — Nos anos 1960 frequentou o Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. Andou sempre em escolas públicas?
GOM — Sempre! Andei sempre em escolas públicas. A escola primária, fi-la na Escola n.º 6, em Campo de Ourique, D. António da Costa. Foi, aliás, uma escola que fiz questão de visitar quando fui ministro da Educação e levei lá os meus colegas. Era a escola do Casal Ventoso, e, portanto, foi um contacto com a realidade social. Hoje, o bairro de Campo de Ourique é diferente, até porque já não existe o Casal Ventoso. Mas a minha experiência foi sempre muito boa na escola pública. Os meus filhos já tiveram as duas experiências. Não tenho parti pris, antes pelo contrário: acho que a liberdade de ensinar e aprender é algo fundamental e, por isso, tenho desenvolvido com o meu amigo Marçal Grilo a noção de serviço público de educação, onde serviço público não é sinónimo de serviço estatal. A educação é algo que tem progredido através da complementaridade de iniciativas. Recordo que, quando lançámos o ensino pré-escolar — e foi um caso de sucesso, e aí está um caso de que me orgulho —, lançámos essa ideia como rede pública e não como rede estatal. Daí a importância das instituições particulares de solidariedade social, e designadamente as respostas às necessidades efetivas das comunidades e muito concretamente as questões dos horários: os horários das mães e das famílias muitas vezes não se compadecem com uma lógica rígida dos horários padronizados.
P — Acha que o ensino público atual é um ensino de qualidade?
GOM — Acho claramente. Aliás, não tenho qualquer dúvida. E aí também refiro a necessidade de também haver, cada vez mais, maior exigência e maior rigor em todos os níveis de ensino. As boas experiências do ensino público e do ensino privado tendem a inter-relacionar-se. Eu estou mal habituado. Como referiu, fui aluno do Liceu Pedro Nunes, que era na altura o melhor liceu da cidade de Lisboa. Todos o reconhecem. Basta ver os resultados, pela vida fora, dos antigos alunos do Pedro Nunes. Era de facto uma instituição de referência.
P — Nasceu no meio dos livros, na biblioteca do seu avô. Como é que isso foi acontecer?
GOM — Foi! Aconteceu porque os meus pais estavam em casa dos meus avós nesse dia. Nessa altura, os meus pais moravam em Queluz. Hoje Queluz fica ali ao lado, mas naquela altura não era assim tão perto. E o que aconteceu foi que eu me adiantei. E o compartimento da casa dos meus avós que estava livre para eu nascer era a biblioteca.
P — Foi presidente do steering committee do Conselho da Europa que aprovou a Convenção de Faro, precisamente sobre o valor do Património Cultural na sociedade contemporânea.
GOM — Coordenei, no Conselho da Europa, a feitura da convenção-quadro sobre o valor do património cultural, a Convenção de Faro, que foi aprovada em 2005 e entrou em vigor em 2011. Tenho especial orgulho em referir isto, porque nem todas as convenções entram em vigor. Hoje, ela é obrigatória para quem a subscreveu. A Convenção de Faro diz que o património é material e imaterial. Nesse ponto seguimos as orientações mais recentes da UNESCO. Simultaneamente é também o diálogo com a criação contemporânea.
P — Atualmente, a ONU tem seis línguas oficiais: o castelhano, o inglês, o mandarim, o russo, o francês e o árabe. O próximo Secretário-Geral das Nações Unidas afirmou que gostaria de ver o português tornar-se uma das línguas oficiais desta organização. Que papel terá a língua portuguesa quando Guterres for Secretário-Geral da ONU?
GOM — Não se pode pedir tudo ao novo Secretário-Geral da ONU, sobretudo com uma agenda tão complexa e importante. Eu estive na Comissão Nacional da UNESCO, entre 1988 e 1993, com Helena Vaz da Silva, e conheço bem todo esse combate pela presença da língua portuguesa. Devo dizer que a língua portuguesa tem um lugar de direito próprio, uma vez que estamos a falar da 3.ª língua europeia mais falada pelo mundo. É já uma língua de trabalho; quer nas Nações Unidas quer nas organizações setoriais, podemos usar a língua portuguesa como instrumento de trabalho. Não é ainda língua oficial como referiu, mas o mais importante é que a língua portuguesa é indiscutivelmente umas das que terão mais projeção no decorrer deste século. Entre 2070 e 2100 a língua portuguesa vai continuar a ser a língua mais falada no Atlântico Sul. Temos o desenvolvimento natural do Brasil, que tem, neste momento, 230 milhões de falantes, e temos Angola. E teremos o desenvolvimento, até meados do século, do eixo entre o Huambo e Benguela, que vai representar uma enorme potencialidade. O português da Internet também tem uma expressão enorme.
P — Mas falta-lhe o tal certificado, o tal carimbo…
GOM — Todos nós gostaríamos que essa decisão fosse tomada. Pessoalmente, julgo que há uma decisão muito importante a fazer: a reforma do Conselho de Segurança da ONU, designadamente a presença do Brasil como membro permanente. Ligaria estes dois elementos. Não tenho dúvidas de que a partir desta reforma, que é urgente, em que o Brasil tenha lugar como membro permanente no Conselho de Segurança, é muito natural que o português se torne também língua oficial, sem grandes pressões. Mas quero expressar aqui que o português é já uma língua de direito próprio em relação às línguas das Nações Unidas.
P — O fundador desta casa, onde conversamos hoje, Calouste Sarkis Gulbenkian, falava português? Ou melhor, aprendeu a falar português?
GOM — Creio que não. Se falava, era muito pouco. Mas é alguém a quem devemos tudo. E não me refiro só à Fundação, refiro o próprio País. Se nós pensarmos que a partir de 1956 a cultura é assumida como uma responsabilidade inovadora e de futuro, devemos esse impulso extraordinário a Calouste Gulbenkian. Falo do apoio dado a tantos e tantos estudantes, a tantos e tantos artistas, das bolsas de estudo concedidas a milhares de beneficiários e a abertura de horizontes que isto possibilitou e representou.
P — O papel das bibliotecas itinerantes também foi pioneiro.
GOM — As bibliotecas itinerantes foram importantíssimas. Não podemos esquecer o papel de Branquinho da Fonseca e de David Mourão-Ferreira, pessoas que estiveram envolvidas na Fundação. Foram milhares as pessoas que tiveram acesso à leitura através das carrinhas das bibliotecas itinerantes! Se pensarmos nisto tudo, é absolutamente extraordinário! Mas é extraordinário não de um ponto de vista de uma realidade que se considere pretérita; é uma responsabilidade de agora. Hoje, temos de fazer aquilo que outros não fazem, porque entretanto muitos estão a fazer aquilo que a Fundação fez. E ainda bem! Hoje, há programas públicos e há intervenção do Estado… Neste momento, a preocupação é que a Fundação faça aquilo que outros não fazem nos domínios da cultura, da educação, da ciência, etc.

P — Aliás, neste momento, numa parceria com a Casa Fernando Pessoa a delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, está a organizar, de 4 de outubro a 18 de dezembro de 2016, o Festival da Incerteza, que vai mostrar, pela primeira vez ao público francês, a biblioteca particular de Fernando Pessoa. Já começou a receber reações?
GOM — Já, já. E, como compreende, tive oportunidade de ter estado na inauguração e de ter assistido ao início dessa extraordinária experiência e iniciativa que permite, afinal, divulgar a figura de Fernando Pessoa. Uma figura hoje tornada universal, tornada referência, tornada mito no bom sentido, na compreensão crítica dos mitos. Para Eduardo Lourenço, os mitos valem pela possibilidade que nos dão de assumir uma perspetiva crítica, uma cidadania ativa.
P — Crítico literário francês, expoente da «Nova Crítica», que na década de 1970 exerceu uma enorme influência nos meios intelectuais de todo o mundo, Roland Barthes defendia que «toda a Lei que oprime um discurso está insuficientemente fundada». Pergunto-lhe: acha que as nossas leis são suficientemente transparentes e compreensíveis para o cidadão comum?
GOM — Tenho dito que se produz leis a mais e isso é mau. Temos de ter poucas leis e leis claras e compreensíveis para o cidadão. Leis claras e compreensíveis para os cidadãos é meio caminho andado para combater a corrupção.
P — O Código Civil, referência basilar da nossa literatura jurídica, faz este ano cinquenta anos. Desde 1966 até hoje já sofreu cerca de 70 alterações. A seu ver, quais são as mais importantes e de que maneira é que isso se reflete na nossa vida?
GOM — As mais importantes foram aquelas que disseram respeito ao direito de família. Foram, sem dúvida, as mais significativas. Festejamos os cinquenta anos do Código Civil, porém temos de recordar também o primeiro Código Civil, o Código Civil de Seabra. Alexandre Herculano teve um papel fundamental na sua comissão de redação. Portanto, é somar cem anos mais. Este ano festejamos 1966-2016, para o ano celebramos 1867-2017. Serão justamente números redondos em relação à ideia do Código Civil. O Código Civil que é um instrumento extraordinariamente importante e que deve ser modelário. Dou dois exemplos: o Código Civil e a Legislação Tributária, a legislação dos impostos. Temos de ter a enorme preocupação de dar estabilidade a esses instrumentos. Nós para garantir atratividade aos agentes económicos temos de ter um sistema fiscal justo, estável e permanente e para isso temos de ter um quadro jurídico estável quer no domínio civil quer no domínio penal.
P — A celebrar quarenta anos temos outro texto fundamental: a Constituição da República Portuguesa (CRP). Acha mesmo que na prática a CRP continua a funcionar como garante de direitos e das regras e valores essenciais a um regime democrático?
GOM — Não tenho dúvidas, uma vez que a CRP de 1976 é um instrumento que tem já quarenta anos mas tem potencialidades futuras. Sou muito pela estabilidade das leis fundamentais. Dou muitas vezes o exemplo da Constituição dos Estados Unidos da América que é um instrumento que ninguém põe em causa relativamente à sua importância e significado. A CRP de 1976 que eu penso que teve duas revisões constitucionais que a fortaleceram (a de 1982 e a de 1989) tem um domínio de uma extraordinária estabilidade e que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias. E estes direitos, liberdades e garantias são, em primeiro lugar, aqueles de aplicação direta e, em segundo lugar, aqueles de aplicação indireta, que são os direitos económicos e sociais. Há dias, recordava um grande amigo que nos deixou há pouco, o Professor António Barbosa de Melo que foi o autor da declaração de voto do então PPD na Assembleia Constituinte. É um documento modelar que dá nota da importância do compromisso. Afinal a CRP de 1976 é um compromisso onde se notam as várias influências. Não há unilateralidade. Temos os vários partidos, as várias influências, as várias componentes — desde o CDS ao PCP. Todos eles têm marcas. E o Professor António Barbosa de Melo, nessa declaração de voto notável, diz-nos exatamente que a CRP é, no fundo, a marca e, simultaneamente, o quadro geral relativamente à Democracia.

P — Há já alguns anos que se fala em rever o Preâmbulo da CRP. Concorda?
GOM — Não.
P — Porquê?
GOM — Acho que o Preâmbulo é um documento histórico. Não é propriamente normativo e representa, de algum modo, o selo que nos reporta à circunstância histórica em que a CRP foi aprovada.
P — A seu ver, o que muda em primeiro lugar: a lei ou a mentalidade?
GOM — O processo é sempre paralelo uma vez que o contrato social obriga o legislador a influenciar a sociedade. É preciso repensar permanentemente o contrato social. Há uma relação íntima, biunívoca entre a lei e a cidadania.
P — Estou a pensar na Educação Rodoviária e na obrigatoriedade do uso do cinto de condução. No início dos anos 1990 só depois de a lei mudar e das multas surgirem é que se começou a ser um hábito o uso do cinto de condução. É um exemplo arbitrário…
GOM — Dou-lhe outro exemplo concreto, onde eu próprio sou protagonista. Quando cheguei ao Tribunal de Contas defendi que muitas das sanções deviam ser reforçadas — e foram reforçadas — em nome da dissuasão. É importante termos na lei essa coercibilidade e explicar às pessoas que a lei se não for cumprida deve ter consequências.
P — Escreveu O Essencial sobre Oliveira Martins. Que é essencial saber-se sobre Oliveira Martins numa frase?
GOM — Essa capacidade extraordinária de alguém que morreu com 49 anos e tem uma obra multifacetada e referencial.
P — Está a preparar O Essencial sobre o Diário da República. Que detalhes engraçados é que descobriu na sua pesquisa?
GOM — Ui! Voltamos a Alexandre Herculano, que foi redator do Diário do Governo, e ao facto de aí ter exprimido o maior elogio que conheço relativamente à Constituição de 1838. Alexandre Herculano escreveu o livro contra a revolução de setembro de 1836, A Voz do Profeta, mas, perante o resultado da Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição de 1838, elogiou esse documento e tornou-se num defensor ativo. Quando Costa Cabral, no golpe de Estado de 1842, veio a restaurar a Carta, Herculano não baixou os braços enquanto não foi possível — com a Regeneração, em 1851, e depois no ato adicional em 1852 — incorporar na Carta os elementos fundamentais da Constituição de 1838. Essa série de textos, infelizmente, não está ao alcance do grande público. Ainda há dias, a propósito da publicação da obra de Camilo Castelo Branco, dizia que continuam por publicar obras fundamentais, nomeadamente os «Opúsculos», de Alexandre Herculano, onde estão os textos que ele fez para o Diário do Governo. Claro que o Diário do Governo era muito diferente do que é hoje o Diário da República. O Diário da República publica atos oficiais, e o Diário do Governo, daquela altura, tinha uma componente de reflexão com ensaio e crítica, de que Alexandre Herculano é o exemplo.
P — Como e quando é que começou a sua ligação com a editora do Estado, INCM?
GOM — Devo invocar aqui a memória do meu grande amigo que foi Vasco Graça Moura. Foi justamente no início dos anos 1980 que Vasco Graça Moura me desafiou a começar a colaborar com a INCM, nomeadamente com a Biografia de Oliveira Martins. Vasco Graça Moura é diretamente o responsável por ter começado a colaborar com a Imprensa Nacional, e não deixo de o invocar com muita saudade.

P — Quando foi criada, a Fundação Gulbenkian deu resposta às necessidades mais urgentes da sociedade portuguesa, com base nas suas quatro áreas estatutárias: arte, beneficência, educação e ciência. Continuam os desígnios da Fundação Calouste Gulbenkian a ser os mesmos, sessenta anos passados?
GOM — Continuam. A Fundação é uma instituição perpétua cujas finalidades se mantêm vivas e não podem deixar de ser aprofundadas. Esse é o desafio no qual nos encontramos.
P — Uma das marcas atuais da Gulbenkian é a questão de educação para a cidadania. Qual é, a seu ver, no domínio da educação para a cidadania, a área mais urgente e prioritária?
GOM — A maior urgência é a educação para a cidadania ativa. Há poucos meses, tive oportunidade de voltar a apresentar a Educação Cívica de António Sérgio, e é essa educação cívica, de que nos fala António Sérgio, que é preciso reforçar. Essa é a grande urgência: educar para uma cidadania ativa. É preciso compreender que uma criança é já um cidadão na medida das suas capacidades. Isto é extremamente importante.
P — Colecionador eclético, Calouste Gulbenkian tinha pelos seus objetos de arte uma grande afeição, tratando-os por «mes enfants». Estima-se que a coleção do fundador é uma das sete maiores coleções privadas do mundo.
GOM — As reservas do Museu são extraordinariamente ricas. Hoje, outro grande desafio que a Fundação tem é o de tornar mais próximo do público a coleção na sua riqueza. E esta coleção é bem reveladora da personalidade de Calouste Gulbenkian. Daí o percurso que nós invocamos em Paris na Casa dos Arménios e na Residência André de Gouveia. Nesse sentido, esse percurso e essa coleção são fundamentais.
P — As moedas antigas foram uma das grandes paixões de Calouste Gulbenkian. Qual a relevância da numismática na coleção do fundador?
GOM — A numismática permite-nos seguir a vida dos povos, e as moedas raras que Calouste Gulbenkian reuniu demonstram bem o seu grande apego à Antiguidade clássica e a esse diálogo muito rico entre o Ocidente e o Oriente.

P — Calouste Gulbenkian era também um bibliófilo. Da biblioteca particular do fundador gostaria de destacar algumas obras?
GOM — Sim. Uma memória que não esqueço foi quando Orhan Pamuk visitou a Fundação Gulbenkian e ficou absolutamente apaixonado com os originais das gravuras sobre Istambul e a civilização turca. E Orhan Pamuk disse-nos que, naquele momento, o seu maior desejo seria estar aqui na Fundação, durante uns dias, esquecido, para poder admirar esta riqueza extraordinária, uma vez que muitas das gravuras originais que ele encontrou aqui só as conhecia em reprodução.
P — Livros, moedas… Para quando uma parceria da Gulbenkian com a Imprensa Nacional‑Casa da Moeda?
GOM — A parceria com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda está já a ser preparada!
P — Calouste Gulbenkian refugiou-se em Portugal aquando da Segunda Guerra Mundial. Como é que a Fundação está a acompanhar a crise dos refugiados e que medidas concretas tem vindo a implementar?
GOM — A Fundação está a acompanhar esta questão, a par das outras fundações, no âmbito do Vision Europe. Está a acompanhar na medida das suas responsabilidades e na medida também da necessidade de uma rede da sociedade civil e das principais fundações mundiais para tomar consciência relativamente a este problema. Não é um problema imediato, ou seja, do curto prazo, mas é um problema que tem de ser entendido no largo prazo. Não é um problema só destes refugiados, mas dos refugiados pelas suas diversas razões.
P — Já esteve na Comissão Nacional da UNESCO. Agora, no Centro Nacional de Cultura e na Fundação Gulbenkian. O passo que se segue poderá vir a ser, então, a Direção-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO?
GOM — [risos] Certamente que não…
P — O céu é o seu limite?
GOM — O limite é a capacidade de cada um!
Texto: Tânia Pinto Ribeiro
Fotografia: Rita Assis Santos
Publicações Relacionadas
-
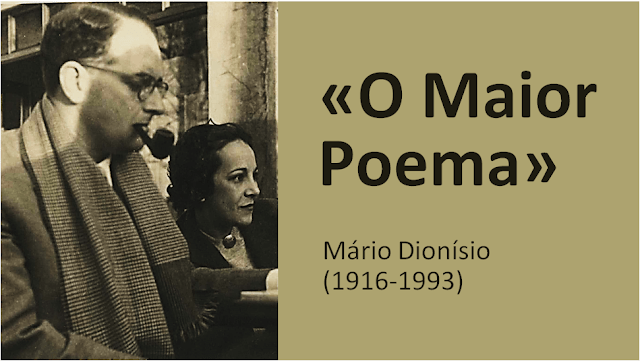
Dia Mundial da Poesia — «O MAIOR POEMA» — Mário Dionísio
21 Março 2016
-

CITADOR IMAGINÁRIO #12
03 Maio 2016
-

-

-
Publicações Relacionadas
-
CITADOR IMAGINÁRIO #12
Há 2 dias