Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
Gonçalo M. Tavares em entrevista — «A leitura é só o início»
Gonçalo M. Tavares é um virtuoso das letras contemporâneas e um prodigioso observador da gramática humana. Mas não tem a certeza se daqui a 50 anos haverá um Clube de Leitores que se reúna para debater uma obra sua, apesar de tentar «escrever de uma forma séria». E escrever de uma forma séria pressupõe «escrever livros que resistam ao tempo». Ficaria «muito contente» se, a partir de um livro seu, conseguíssemos todos ficar «um pouco mais lúcidos» em relação ao «mal» e à «maldade».
Para já, ou melhor, para outubro, é ele quem vai dinamizar a 1.ª edição do Clube de Leitores da Imprensa Nacional, inteiramente dedicada aos clássicos da Literatura Portuguesa. De Gil Vicente a Nemésio, passando por Camões, Pessoa e Sá-Carneiro; de Cesário Verde a Almada, sem esquecer António Vieira, Régio ou Eça. As sessões — num total de 10 — vão tocar temas tão díspares como universais: a morte, o amor, a linguagem, as utopias, a arte, a beleza, a loucura, o poder, a imaginação ou a identidade… «A ideia é termos um clube de leitura aberto, gratuito, com sessões mensais, a decorrerem na Biblioteca da Imprensa Nacional, onde se irá debater, em cada sessão, um tema e um livro.», diz-nos.
Gonçalo M. Tavares vê na leitura «o início da reflexão» — como que uma espécie de prefácio do pensamento. Diz que não gosta de ler sozinho e que tem de ter sempre à mão a «imprescindível» companhia do lápis. «Ler não é estar a ver um programa de televisão. Ler é estar com um bisturi, que é o lápis, a anotar, a sublinhar, a riscar, a apontar de lado…». Depois há também a questão dos sublinhados, um roteiro que o faz compreender o momento da leitura e, em certa medida, uma parte da sua biografia. «O que não sublinhei naquele momento foi porque não lhe dei importância».
Diz também que não consegue ler poesia ou ficção da parte da manhã. Só ensaio e filosofia dura. Também não consegue ler ensaio ou filosofia dura da parte da tarde. Só poesia e ficção. Gonçalo M. Tavares não gosta de falar de autores, prefere falar de obras. Menos das suas. Foi na biblioteca do pai que folheou as primeiras obras clássicas da literatura universal. E onde se tornou leitor. «Na biblioteca do meu pai havia várias coleções de clássicos. É engraçado porque associo os clássicos também a um percurso do corpo. Uma dessas coleções estava no primeiro andar, outra estava no piso abaixo. Eu tinha de chegar até lá».
Hoje, Gonçalo M. Tavares continua a manter uma relação muito física com o livro impresso. «Uma coisa tão simples como sentir o peso do material é algo que não se consegue com o e-book. Quando se está a começar a ler um livro o peso maior está no lado direito, depois continuamos a ler e sentimos um prazer enorme ao verificar que o peso do livro se está a deslocar para a mão esquerda. É uma sensação extraordinária!». Foi o que sentiu quando leu A Montanha Mágica, de Thomas Mann.
Mas o clássico a que volta sempre — e do qual não se cansa de falar — foi escrito há quase dois mil anos. Precisamente por ser um clássico continua atual: Cartas a Lucílio, do estoico filósofo romano Séneca. Afinal, «um clássico pode ser muito mais contemporâneo do que um livro escrito na contemporaneidade».
Escritor, Gonçalo M. Tavares não obedece a regras. Obedece a instintos. Não escreve com um plano. Escreve de «maneira alucinada». Escreve «de manhã» para publicar anos mais tarde. O tempo apura-lhe o olhar. Até porque não há espírito crítico que não se altere com o acontecer dos dias. Também é subversivo «intencionalmente» quanto à ortografia. O que origina diálogos «muito divertidos» com os seu revisores. Como das vezes em que escreve Paris com p pequeno. «Quando se escreve Paris com p grande no meio da frase há uma pequena paragem; quando se grafa Paris com p pequeno no meio da frase há uma microaceleração. Isto parece uma conversa de malucos mas para quem escreve e para quem sente o texto não é!». A revista Magazine Littéraire intitulou-o «genial»!
Não gosta da palavra «inspiração» para explicar o dom. Prefere chamar-lhe «energia extraordinária». «Realmente esta parte da escrita nada tem que ver com uma racionalidade muito lúcida. Lá isso não tem! Até sinto que quanto mais rápido escrevo, quanto menos estou a pensar, mais forte o texto fica».
Explica, depois, que a falta de curiosidade é uma «desistência da vida» e o entusiasmo uma «doença contagiosa». Mas, por muito que se esforce, não consegue sentir «entusiasmo» quando olha para uma fotografia despida de gente. «Uma paisagem sem pessoas é muito pouco interessante. O que me interessa são as pessoas». E Gonçalo M. Tavares vai ao encontro delas, quase que secretamente, calcorreando, sem pressa, os cafés, as artérias e as curvas da cidade — de que tanto gosta — como que a contemplar, perdão, a observar um grande fresco da condição humana. E, talvez por isso mesmo, capaz de as tornar personagens. Depois — e como que numa roda viva — põe-nas a caminhar por entre reinos, bairros, mitologias, cidades e bibliotecas, descortinando também, por detrás de cada uma delas, a sua própria experiência de grande leitor que é.
É, aos 46 anos de idade e quase 40 livros depois, considerado um dos grandes nomes da literatura contemporânea ocidental. Recebeu os mais diversos prémios e chegaram-lhe os elogios mais distintos de nomes como Eduardo Lourenço, Enrique Vila-Matas, Bernardo Carvalho, António Lobo Antunes, Alberto Manguel e José Saramago. Reza a história que o Nobel português teve vontade de lhe bater por «escrever tão bem», deixando a profecia: a Academia Sueca iria estar de olhos postos na obra dele. Vasco Graça Moura não pôde estar mais de acordo. Mas Gonçalo M. Tavares prefere não se deixar deslumbrar (nem irritar) diante das reações que recebe. Opta por «guardar uma certa distância». Talvez por cautela. Talvez por ser avesso a grandes aclamações épicas. Apesar de já ter escrito uma epopeia: Uma Viagem à Índia.
Hoje, está presente em cerca de 50 países e é traduzido em quase 40 línguas. E há uma coisa que agrada Gonçalo M. Tavares nesse percurso lá fora: geralmente quem o escolhe publicar «são editoras muito literárias». Já este ano esboçou um novo projeto com a editora pública portuguesa, a futura coleção «Europa», e inaugurou, na Bertrand Editora, a série «Mitologias» com o título A-Mulher-Sem-Cabeça e o Homem-do-Mau-Olhado, «a primeira publicação ligada a uma inquietação minha», conta-nos. E nós, claro, quisemos saber qual é…
Texto: Tânia Pinto Ribeiro
PRELO (P) — Vai animar o Clube de Leitores da Imprensa Nacional, com início previsto para outubro de 2017. Como surgiu essa ideia?
GONÇALO M. TAVARES (GMT) — Surgiu numa conversa com o Duarte Azinheira (diretor da unidade de publicações da INCM). Como a Imprensa Nacional tem já uma vasta experiência editorial pensámos que poderíamos transpor esse percurso, já tão longo, em algo prático. Isto partindo da ideia de que o livro não termina na edição mas sim na leitura. Foi com base nesta premissa que surgiu a hipótese de se fazer um clube de leitura.
P — Como é que este clube de leitura vai funcionar?
GMT — A ideia é termos um clube de leitura aberto, gratuito, com sessões mensais, num total de 10, a decorrerem na Biblioteca da Imprensa Nacional, onde se irá debater, em cada sessão, um tema e um livro. O pressuposto é que os 15 participantes selecionados tenham lido o livro, tenham feito uma leitura comum desse livro e que estejam todos dispostos a vir debatê-lo. Mas, claro, a ideia não é ficarmos fechados apenas na obra escolhida, mas que essa obra nos possa levar a outras obras. No fundo, gostaria que a obra sugerida possa abrir o apetite para outras. A leitura é só o início. Será um clube de leitores reflexivo. Há uma ideia importante que é a de não falarmos apenas de literatura. A literatura não é uma espécie de arte que está num túnel ao lado de outros túneis. Não existe o túnel da literatura, o túnel do teatro, o túnel do cinema… Não são túneis paralelos e que não se tocam! É precisamente o contrário. Estas artes estão todas no mesmo mundo e tocam-se. Portanto, o ponto de partida deste clube de leitores será um determinado livro mas com certeza passaremos por muitos livros e por muitas artes.
P — Que autores é que vão ser contemplados nessa iniciativa?
GMT — Este primeiro curso será dedicado aos autores portugueses clássicos. Provavelmente, depois, aparecerá outro curso incidindo, então, em autores do século XX e, eventualmente, do século XXI. Este primeiro clube de leitores começará com Gil Vicente e O Auto da Barca do Inferno, depois teremos Luís Vaz de Camões com Os Lusíadas, na 2.ª sessão. Seguimos na sessão n.º 3 com o Padre António Vieira com os Sermões, continuamos com Eça de Queirós e O Mandarim — um conto pequeno mas muito forte. A sessão n.º 5 será dedicada ao Livro de Cesário Verde. Prosseguimos na sessão n.º 6 com Almada Negreiros e os seus Manifestos. Teremos também Mário de Sá-Carneiro com A Loucura, na sessão n.º 7, e José Régio com O Príncipe de Orelhas de Burro na 8.ª sessão. A penúltima sessão será dedicada à Poesia de Vitorino Nemésio e concluímos com o Livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Por exemplo, este é um daqueles livros que não se lê numa semana ou num mês… É um livro que tem entradas várias.
P — Conhecidos os autores e conhecidas as obras, quais são os temas, os tópicos, a explorar em cada uma das sessões?
GMT — A ideia é que a leitura não seja o final de um processo mas o início e é nesse sentido que este clube de leitores terá para cada sessão um tema. Vamos falar sobre a morte a partir do Auto da Barca do Inferno; sobre o amor e o desejo a partir do canto IX d’Os Lusíadas; sobre a linguagem na sessão dedicada ao Sermões do Padre António Vieira; o conto O Mandarim será um extraordinário pretexto para falarmos sobre as utopias; o Livro de Cesário Verde servirá de mote para debatermos a técnica e a cidade. Com os Manifestos do Almada debateremos a questão da arte, o papel da arte etc.; A Loucura de Mário de Sá-Carneiro, como indica o título, servirá para se discutir a loucura, mas também a racionalidade. É um grande livro, este de Mário de Sá-Carneiro, que, infelizmente, não está tão disponível quanto deveria. Depois, vamos falar sobre a beleza e a doença a propósito d’O Príncipe com Orelhas de Burro do Régio. Na sessão dedicada a Vitorino Nemésio falaremos sobre o poder e a imaginação e, finalmente com Pessoa, abordaremos, obviamente, a questão da identidade. Como vê, não há uma ordem temporal rígida.

P — Houve algum autor que lhe custasse ter de sacrificar?
GMT — Houve vários! Tenho a certeza de que, no decorrer deste clube, outros livros e outros autores serão também convocados.
P — Quais os critérios que utilizou na seleção das obras e dos autores?
GMT — As regras definidas por uma pessoa têm sempre que ver, em primeiro e último lugar, com o seu gosto pessoal. Aqui também foi tida em conta a questão da importância de cada autor na história da literatura portuguesa.
De certa forma estes autores são incontestáveis nessa história. Procurei também ir buscar obras que não são propriamente as mais conhecidas. O Mandarim de Eça de Queirós não é a referência óbvia. Nessa perspetiva, também achei interessante ir buscar a Poesia do Nemésio. Na maioria das vezes, o Vitorino Nemésio não é lembrado pela sua poesia mas pelo Mau Tempo no Canal… É interessante que os leitores passem por livros que não são o tal grande livro de determinado autor. Há casos em que a obra é a evidente mas em outros casos não é assim tão imediata.

P — A seu ver, qual é a importância de se ler os clássicos?
GMT — É quase essencial. Há grandes clássicos e há também grandes livros sobre o que é que são os clássicos, como o célebre livro de [Italo] Calvino Porquê Ler os Clássicos? Em primeiro lugar porque os clássicos não falam de um tempo antigo. São clássicos porque falam do tempo de hoje.
P — Que mais caracteriza uma obra ou um autor para ser considerado um clássico?
GMT — É o responder às perguntas: hoje, em 2017, temos vontade de ir buscar esse livro? Esse livro continua a exigir a nossa leitura? Continua a ser atual? E se a resposta for «sim» isso pode justificar a designação de clássico. Depois, e pensando no Auto da Barca do Inferno, um clássico é escrito numa língua que pode ir mudando, que pode ir passando por vários acordos ortográficos (mais interessantes ou menos interessantes) mas que, no essencial, resiste. Um clássico fala do género humano em toda a sua violência, fala do medo sobre o medo… No Auto da Barca do Inferno fala-se, por exemplo, da corrupção. Ora aqui está um tema que não sei se já estará ultrapassado ou não… Um clássico fala da corrupção, do medo da morte, do desejo… Um clássico não se caracteriza só pela questão do tema mas também pela questão da linguagem. Há palavras que, por vezes, também se gastam e a linguagem perde a sua intensidade. Os clássicos além de falarem do essencial (os medos e os desejos humanos) estão escritos numa língua e numa linguagem muito poderosa e resistente.

P — Porque é que participar num clube de leitura é importante?
GMT — Se por um lado a leitura é individual — daí que seja importante que as pessoas leiam os livros previamente — essa leitura vai deixar um vestígio. Por outro lado, o que será interessante no clube de leitura será o confronto dos nossos vestígios individuais de leitura com os vestígios individuais de leitura dos outros. E que a partir daí possamos pensar, em conjunto, sobre determinados temas. As boas leituras — no caso dos clássicos isso é evidente — permitem entender o mundo. Não me interessa um clube de leitura que tente entender melhor este ou aquele livro. Não me interessa um clube de leitura analítico.
 P — Um clube que seja uma espécie de bibliografia, janela para o mundo…
P — Um clube que seja uma espécie de bibliografia, janela para o mundo…
GMT — Sim, como uma bibliografia para outros livros e uma bibliografia para a vida, de alguma maneira…
P — Qual é o público-alvo deste clube?
GMT — Destina-se sobretudo a pessoas que gostem de ler e que não encarem a leitura como um processo de distração ou de puro passatempo. A leitura é o início da reflexão. Ou seja, este clube não é para especialistas de livros. É para alguém que vê o livro como o início de uma conversa lúcida.
P — Imagine um clube como este daqui a 50 anos. Que tema gostava que focassem da sua obra?
GMT — Da minha obra? Bem… [pausa] Para já seria interessante que alguém ainda se lembrasse das minhas obras e que escolhesse um livro meu… Seria uma honra!
P — Tem dúvidas em relação a isso?
GMT — Não sei… Logo se verá! Ficaria muito contente. Tento escrever de uma forma séria e escrever de uma forma séria é escrever livros que resistam ao tempo.
P — Qual seria o tópico dedicado à sessão Gonçalo M. Tavares?
GMT — Ah! O tópico… [pausa] Talvez sobre o mal, sobre a maldade. Se a partir de um livro meu conseguíssemos ficar um pouco mais lúcidos em relação à maldade já ficaria contente!

P — O seu romance Jerusalém foi incluído na edição europeia de 1001 livros para ler antes de morrer – um guia cronológico dos mais importantes romances de todos os tempos. As publicações Le Monde e Philosophie Magazine consideraram «Gonçalo M. Tavares já um clássico». Que lhe parece a definição?
GMT — Fico contente com essas coisas que vão acontecendo e que se vão escrevendo mas tento guardar distância.
P — O tempo dá-nos a distância…
GMT — Sim! O tempo dá-nos a distância e dá-nos a possibilidade de sairmos daquele espaço e daquele momento, permitindo-nos perceber o que é que acontece com o livro. Tenho muito respeito pelos clássicos.
P — A palavra «clássico» pode remeter-nos para vários tempos…
GMT — É evidente que a palavra «clássico» se utiliza em contextos muito distintos. «Clássico» tanto pode ser Aristóteles como Gil Vicente ou Dostoiévski. Logo aqui há uma diferença de muitos séculos.
P — Lembra-se do primeiro clássico que leu?
GMT — [pausa] Não sei… Assim clássico… Desses clássicos universais… [pausa] Lembro‑me de ler a Poética de Aristóteles bastante cedo. Pensar a escrita foi, desde muito cedo, algo que me interessou. Pensando nos clássicos portugueses ou em língua portuguesa julgo que o primeiro que li foi Gil Vicente, mesmo antes de ler Camões. Aqui tem um pouco a ver com a escolaridade. Julgo que terá andado entre o teatro de Gil Vicente e Os Lusíadas de Camões.
P — E dos clássicos portugueses, há algum que o tenha marcado especialmente?

GMT — Muitos, mesmo muitos! Os Lusíadas, logo assim de imediato. Lembro-me também que o impacto inicial com Gil Vicente foi logo muito forte. Toda aquela ironia, aquele humor, aquela desconstrução, todo aquele sarcasmo… A teatralidade de Gil Vicente é muito atrativa e muito forte. Gil Vicente é um autor incrível! Gostava de o recuperar de várias maneiras. Já com Os Lusíadas o impacto inicial foi mais sonoro, chamemos-lhe assim. Mais tarde escrevi Uma Viagem à Índia onde segui a estrutura d’Os Lusíadas. Veja o impacto e a importância que esta obra teve em mim. Levou-me a escrever um livro com um investimento enorme de vários anos… Ainda hoje, quase que como maluco, ando por aí a caminhar, ou sentado em cafés, a ler em voz alta passagens d’Os Lusíadas! É uma obra incrível! E é interessante: se o Gil Vicente é algo que entra logo, Os Lusíadas exigem uma certa maturidade.
P — De certa maneira é também uma obra que exige alguns pré-conhecimentos…

GMT — A estrutura da frase, a estrutura do verso é muito mais complexa. E, sim, exige algum conhecimento.
P — Há algum «clássico» a que volte sempre?
GMT — O grande clássico ao qual eu volto sempre é Séneca com as suas Cartas a Lucílio. Tenho falado muito deste livro.

P — E porque regressa sempre a esse?
GMT — É o livro que mais me marcou biograficamente. Toca imensos assuntos. Fala sobre como viver, enfim… É um livro que se pode abrir em qualquer carta (são 124) e se pode começar a ler. É o «meu» livro, digamos.
P — Calvino que dizia precisamente que os clássicos são aqueles livros de que se costuma ouvir dizer: «Estou a reler…» e nunca «Estou a ler…». É mesmo assim?
GMT — Não sei… Desde cedo que comecei a ler muito brutalmente. E desde muito cedo, felizmente, que comecei a ler clássicos. Lia contemporâneos também mas lia essencialmente muitos clássicos.
P — Onde arranjava todos esses livros?
GMT — O meu pai tinha e tem uma biblioteca que, entretanto, já mudou de espaço. Antigamente, a biblioteca do meu pai era mesmo uma biblioteca. Uma biblioteca naquele sentido de haver dois pisos. Havia os livros que estavam acessíveis à nossa estatura normal e depois havia aqueles livros que só estavam acessíveis subindo a uma escada. Essa biblioteca tinha uma balaustrada, tinha uma espécie de varanda, como a que existe aqui na Biblioteca da Imprensa Nacional. Quando entrava naquele espaço entrava dentro de uma biblioteca. Cresci envolvido por livros. E isso marcou-me muito. Na biblioteca do meu pai havia várias coleções de clássicos. E é engraçado porque associo os clássicos também a um percurso do corpo. Uma dessas coleções estava no primeiro andar, outra estava no piso abaixo. Eu tinha de chegar até lá. Associo muitos clássicos a lugares muito específicos da biblioteca do meu pai. Recordo-me que no início lia alguns clássicos universais em traduções não muito boas. Só mais tarde é que comecei a ter o cuidado de escolher as traduções boas. Sim, existe esse contexto familiar na minha relação com os clássicos.
P — Lembra-se de alguma?
GMT — O Dom Quixote de Cervantes! A primeira vez que o comecei a ler foi numa tradução terrível. Depois, lá encontrei uma boa tradução.
P — Qual era a edição?
GMT — Da edição não me lembro, mas lembro-me de que tinha uma capa preta, uma encadernação muito luxuosa.
P — Nasceu em Luanda. Acompanha os autores da África lusófona? Há algum que considere já um «clássico»?
GMT — Tento acompanhar o possível. A minha relação com África podia ser ainda mais forte. Os meus pais são os dois portugueses e fomos para lá porque o meu pai foi construir uma ponte mas voltámos quando tinha 5 anos. Tenho grandes amigos escritores de Angola, de Moçambique… Agualusa e Mia Couto são dois grandes amigos e dois grandes escritores, ambos com um grande sentido de humor e muito boa onda. O Ondjaki também. É sempre um grande prazer estar com eles.
P — Como recorda a sua infância?
GMT — Tenho um livro de poesia publicado na Relógio D’Água que tem uma parte a que chamo de «Biografia». Lá tenho alguns poemas onde falo sobre a infância. Falo de coisas muito simples como jogar à bola. Comecei a ler muito cedo mas nunca fui uma pessoa fechada — aliás, acho que me fechei mais ao longo do tempo. A minha infância foi simultaneamente dentro da gruta (a ler) e muito no exterior.
P — E que peso atribui à infância na sua obra?
GMT — A questão da liberdade foi determinante. Foi-me dada a liberdade de escolha, desde muito cedo, pelas pessoas que me rodeavam, a minha família. O que vou fazer hoje? Desde cedo estive diante desta pergunta. Nunca tive pressão sobre o que é que eu deveria ou não deveria fazer. O meu percurso foi sempre marcado pela liberdade. Sempre vivi com a ideia do «poder fazer». Outra das questões que me ficou clara nesse período foi a desvalorização do «prometer fazer». Isto é, ou a pessoa faz ou a pessoa não faz. Se a pessoa quer fazer tem de começar no momento a seguir a fazer. Porque só assim pode estar rapidamente diante do feito. Ou se faz ou não se faz, prometer fazer é ainda não ter feito.
P — E esse menino que queria fazer já sabia o que queria ser?
GMT — A certa altura, lá para os 17 anos, estava entre a matemática e o futebol. Eram os meus dois mundos. Naturalmente que a questão das artes e da escrita não surgiu de um dia para o outro. Foi gradual. A partir dos 17 ou 18 anos comecei a disciplinar-me: a ler e a escrever. A partir de uma certa altura já nem foi uma escolha. A minha vida já tinha sido inundada por esse mundo.
P — Quem foram os grandes mestres na sua formação enquanto escritor?
GMT — Na série «O Bairro» faço uma homenagem a vários escritores. Paul Valéry, Bertold Brecht, Italo Calvino… Logo aí está uma lista de 40 escritores que me marcaram. Escrevi também um livro chamado Biblioteca onde tenho entradas sobre 200 autores que também me marcaram. No início fui muito marcado pela poesia, pela ficção. Nos últimos anos a minha formação foi mais marcada pelos ensaios, pela filosofia. No início, a minha formação, em termos de leitura, começou por ser muito híbrida. Lembro-me de que o primeiro autor de quem li a obra praticamente completa foi o Albert Camus. O Estrangeiro, A Queda, O Mito de Sísifo marcaram-me imenso. Outros autores marcantes para mim são Dostoiévski e Thomas Mann. Gosto muito de autores do mundo realista mas também do mundo imaginário. Para mim estes dois mundos não estão desligados. Tanto gosto de Thomas Man como do Italo Calvino. Acho que tenho livros nestes dois mundos. «O Bairro» talvez esteja no mundo mais imaginário e «O Reino» talvez esteja no mundo mais realista.

P — Hoje em dia como gere as suas leituras?
GMT — No mesmo dia tanto passo por um romance, um conto, uma revista de ciência ou uma revista de arte contemporânea… Ultimamente não consigo ler poesia ou ficção de manhã. Só ensaio ou filosofia dura. É ao final da tarde, quando estou mais cansado, que consigo ler ficção ou poesia e já não consigo ler ensaio ou filosofia dura.
P — Ler também é uma arte?
GMT — Acho que sim. Aliás, no clube de leitores vamos tentar falar um pouco da leitura como emissão. Para mim a leitura não é só receção. Quando lemos estamos a receber e ao mesmo tempo a emitir.
P — Como assim?
GMT — Por exemplo, não consigo ler sem lápis. A leitura com lápis é para mim algo de imprescindível. É como se funcionalmente fosse incapaz de ler sem os lápis. Quando tenho os livros e não tenho lápis ando à procura deles, como louco. Vou logo a correr até um quiosque para comprar um lápis.
P — Porque sente essa necessidade permanente da anotação?
GMT — Quando estou a ler sem lápis é como se estivesse a ver televisão. É como se estivesse a ver e não a ler. Para mim ler é um ver muito mais agressivo — no bom sentido. Ler é um ver muito mais ativo. Ler não é estar a ver um programa de televisão. Ler é estar com um bisturi, que é o lápis, a anotar, a sublinhar, a riscar, a apontar de lado…
P — Quando é que começou a ler com lápis?
GMT — Talvez a partir dos 16 ou 17 anos.
P — De certa maneira ao ler com lápis está também a fazer um roteiro…
GMT — Sim! O curioso é que desta maneira consigo perceber o itinerário da minha leitura, consigo perceber, em certa medida, a minha biografia. O itinerário dos sublinhados define o momento da minha leitura, define aquilo em que estava a pensar naquele momento. O que não sublinhei naquele momento foi porque, naquele momento, não lhe dei importância. Se uma pessoa está apaixonada, se a pessoa está à procura de emprego vai sublinhar coisas diferentes… Esta ideia de atuar sobre o livro dá a ideia de roteiro e dá a ideia de que o livro não é um elemento homogéneo. Um livro não é como um bolo de arroz em que todas as partes são iguais. Um livro é uma estrutura orgânica onde, em determinada altura, há uma frase que se atira à nossa cara e que nos agarra. E, por vezes, um livro pode valer por isso. Se um livro tiver uma frase, ou duas, ou um parágrafo que nos desassossegue já valeu a pena lê-lo. Às vezes, pensa-se no livro como se fosse um bolo de arroz, que tem de valer como um todo. E não é.
P — Já aderiu aos e-books?
GMT — Como leitor?

P — Sim, como leitor.
GMT — Como leitor tenho uma relação muito física com o livro. Apesar de tudo, apesar das grandes revoluções tecnológicas, o corpo continua a ser muito importante. Uma coisa tão simples como sentir o peso do material é algo que não se consegue com o e-book. Lembro-me do prazer que senti ao avançar das páginas quando li A Montanha Mágica de Thomas Mann, que é um livro bem grande. Quando se está a começar a ler um livro o peso maior está no lado direito, depois continuamos a ler e sentimos um prazer enorme ao verificar que o peso do livro se está a deslocar para a mão esquerda. É uma sensação extraordinária. E isto é uma sensação corporal.
P — Ler um e-book não é a mesma coisa.
GMT — Só é a mesma coisa para quem achar que o corpo não é importante.
P — É dos autores portugueses vivos mais publicados nos últimos anos. Gostava de publicar pela INCM?
GMT — [risos] A Imprensa Nacional tem um conjunto de livros publicados — tanto clássicos como contemporâneos — extraordinário. Portanto, julgo que mais tarde ou mais cedo, de uma forma ou de outra, faremos coisas juntos.
P — Está, aliás, a esboçar-se um projeto editorial do Gonçalo com a editora pública e que diz respeito a uma nova coleção. Quer abrir um pouco o véu sobre este projeto?
GMT — O projeto no qual estamos a trabalhar em conjunto é o de uma nova coleção que se chamará «Europa». A ideia forte parte da noção da Europa enquanto cultura e a nova coleção pretende dar peso a esta palavra que eu acho muito bonita: Europa. É uma palavra que por vezes é perigosa, outras vezes discutível, mas tem um fundo muito forte ao nível cultural, social, legislativo… A palavra Europa remete para um espaço com muitos defeitos mas, apesar de tudo, é o espaço que mais protege os direitos humanos.
P — Acha que os portugueses têm esse sentimento de europeidade? Acha que os portugueses se sentem europeus?
GMT — Acho que sim, principalmente as gerações mais novas.
P — A chamada geração Erasmus.
GMT — Sim. Penso que essa geração se sente europeia. Há coisas que aparentemente podem parecer muito práticas mas que são muito simbólicas. O prático pode converter‑se num simbolismo muito forte. O facto de se ter a mesma moeda e de não se precisar de passaporte são coisas muito operacionais mas têm uma grande carga de simbolismo. O facto de uma pessoa não ser barrada ao entrar em determinado país, a certa altura, essa pessoa vai sentir aquele lugar como se fosse uma outra cidade do seu grande país que é a Europa. A geração Erasmus, a geração que tem agora 20 anos sente a Europa como um espaço onde pode circular.
P — Um espaço que nos tempos que correm está a ser posto em causa…
GMT — Espero sinceramente que as respostas securitárias ao terrorismo, que infelizmente muitas vezes são necessárias, não barrem esta sensação de liberdade neste espaço único que os europeus de 20 anos têm e que demorou séculos a construir.
P — Voltando à futura coleção…
GMT — A ideia é que a coleção «Europa» abranja livros de ficção, de poesia e de ensaio, sejam clássicos ou contemporâneos. Para já, prevê-se editar um livro de cada um dos países europeus. Felizmente que de alguns países europeus já temos muitas traduções. Basta pensarmos em França ou Espanha. No entanto, mesmo para os países evidentes, como Itália ou Alemanha, há ainda uma quantidade de autores incríveis que não são conhecidos nem divulgados por cá. E, então, se pensarmos em países mais afastados desse centro há todo um mundo a descobrir! Portanto, pretendemos publicar um livro e um autor de cada país europeu. Mais uma vez, quantas dezenas de bons livros vão ficar de fora! Espero que a coleção «Europa» permita uma primeira entrada neste mundo. Já tenho algumas sugestões que quero cruzar com outras sugestões em determinadas línguas e tentar chegar a uma escolha que seja representativa. Cada um desses livros terá um prefácio meu e de alguém que convidaremos para fazer o enquadramento do autor escolhido na literatura do respetivo país. Mais uma vez, pretende-se que não seja só um livro e um autor mas que esse livro e esse autor abram janelas para outros. Se esta coleção da Imprensa Nacional fizer com que outros autores, de quem não se fala, comecem a ser traduzidos e suscitarem interesse por parte de outras editoras portuguesas será extraordinário.
P — A Europa é também berço de tantas línguas! O Gonçalo está publicado em cerca de 50 países e traduzido em cerca de 40 línguas. É o Gonçalo que escolhe as editoras estrangeiras? Ou são elas que o escolhem a si? Como é que isso se processa?
GMT — São quase sempre as editoras que escolhem os livros e os autores. Se houver uma ou mais editoras interessadas num livro meu aí posso ter um papel. Há uma coisa que me agrada nesse percurso lá fora: geralmente quem me escolhe são editoras muito literárias. Por vezes, há uma circulação de livros que tem a ver com best-sellers, cujo único objetivo é vender muito. No meu caso, não é esse o circuito. O tipo de editoras que publica os meus livros são editoras entusiastas da literatura. Podem ser grandes, médias ou pequenas mas são todas editoras com um catálogo muito bom. E isso agrada-me muito!
P — E em relação às traduções?
GMT — Tenho muitos tradutores extraordinários. Em determinado momento senti que se encontrou uma voz numa língua. Quando isso acontece prefiro que essa voz se mantenha. O mesmo livro traduzido por dois tradutores dá origem a dois livros completamente diferentes. É impressionante a importância da tradução.
P — Que importância atribui aos revisores e aos editores no sucesso da obra de um escritor?
GMT — Felizmente tenho-me cruzado com grandes editores e com grandes revisores. A questão do entusiasmo dos editores é muito importante. E a dos revisores também. Muitas vezes não obedeço intencionalmente a regras o que origina diálogos muito divertidos com os revisores.
P — Dê-nos um exemplo.
GMT — A palavra Paris, por exemplo, deveria ser grafada com o P maiúsculo em todas as ocorrências. Muitas vezes não o faço. É difícil explicar isto a um revisor. Porque é que quero grafar Paris ora com p grande ora com p pequeno. Isto deixa o revisor numa posição complicada. Como é natural, o revisor vai pensar que o leitor vai encontrar ali um erro de revisão. E, por vezes, há leitores que pensam mesmo, que aquilo é um erro de revisão. Mas é intencional.
P — E porque é que toma essa opção de escrever Paris ora com P maiúsculo ora com p minúsculo?
GMT — É difícil explicar! Não é uma coisa de regras, é de instinto. Em livros como Canções Mexicanas ou Animalescos acontece isso. Para mim quando aparece pela terceira vez a palavra Paris aparece a terceira vez. Ora, a terceira vez não é igual à primeira vez. Isto parece quase místico mas é muito concreto. É evidente que a letra grande promove uma espécie de pequena paragem ou micro paragem na leitura — que no cronómetro não será contabilizada, mas na mente é. Quando se escreve Paris com p grande no meio da frase há uma pequena paragem; quando grafamos Paris com p pequeno no meio da frase há uma microaceleração. Isto parece uma conversa de malucos mas para quem escreve não é. Para um revisor isto é difícil de aceitar mas tenho tido uma relação mesmo muito boa com os revisores [risos]. Eles compreendem.
P — Na escrita de um livro há inspiração, há transpiração em que relação de poder?
GMT — A primeira parte na escrita não sei bem como faço. Às vezes, quando as coisas correm bem escrevo três ou quatro horas seguidas. Escrevo sempre sem parar, quase como um louco. Às vezes, tenho só duas ou três notas ao lado e mesmo assim começo imediatamente a escrever. Estou a escrever e não sei porque estou a escrever. Esta primeira parte é assim meio estranha mas muito entusiasmante. É a sensação de estar a descobrir naquele momento. Não gosto da palavra inspiração. Mas realmente esta parte da escrita nada tem a ver com uma racionalidade muito lúcida. Até sinto que quanto mais rápido escrevo, quanto menos estou a pensar, mais forte o texto fica. É uma sensação estranha. Diria que esta parte é a parte de uma energia extraordinária. Há dias em que está mais forte, outros menos. Depois, sim, há uma segunda parte da escrita que se pode associar a essa transpiração. Enquanto a primeira parte da escrita são as manhãs a segunda parte, muito mais técnica, é passada muitos anos depois.

P — Esperou 12 anos para publicar pela primeira vez.
GMT — Sim, sim. Mesmo Uma Viagem à Índia escrevi-a em 2002 ou 2001 e só publiquei em 2010.
P — Porquê essa necessidade da espera?
GMT — Porque escrevo nesse modo quase sempre alucinado (o Atlas do Corpo e da Imaginação é uma coisa mais controlada), sempre sem um plano. A tal segunda parte da escrita, que é a parte de rever o que foi escrito, é que exige muita transpiração, muita técnica e também muita distância. No meu caso é cortar e cortar e cortar… É uma coisa que ninguém pode fazer por nós. Esta segunda parte da escrita é muito menos excitante e muito menos criativa do que a primeira.
P — E o que mais influencia a produção dos seus textos?
GMT — Tudo tem o seu lugar. A observação, as memórias, as artes. Ando muito pela cidade e tenho sempre a máquina da observação ligada. Gosto muito de observar os comportamentos, de perceber, por exemplo, porque é que determinada pessoa está mais tensa. É instintivo, estou sempre a observar isso. Mas isso não aponto. Fica de memória e quando estou a escrever sinto que esse sistema de observação instintiva aparece. Como disse, quando estou a escrever tento não pensar em nada. Escrevo a eito. Claro que depende muitos dos livros mas por norma é algo que mistura instinto com observação.
P — Diz-se que a beleza das coisas está nos olhos de quem as contempla. O Gonçalo é um contemplador?
GMT — Uma pergunta com várias hipóteses de resposta… [pausa] Gosto de dois tipos de olhar: o olhar fragmentado da cidade — gosto muita da cidade, gosto de andar na cidade, dos transportes públicos, de ver passar as pessoas de um lado para o outro, pessoas que caminham com objetivos, velocidades, idades, destinos, olhares diferentes… adoro esta mistura — e adoro também o olhar contrário a este, esse sim mais contemplador. É aquele olhar de quem está a ver alguém aproximar-se e que tem tempo de ver esse alguém a aproximar-se e depois a afastar-se. Este é aquele olhar mais lento e de onde se tira mais pormenores. Nesta perspetiva, penso que há dois tipos de beleza. A beleza da confusão, da mistura que salta de um lado para o outro, e depois há a beleza do pormenor, onde se entra na contemplação. Numa cidade como Lisboa podemos ter estes dois tipos de olhar, depende do posto de observação em que nos colocamos.
P — Contemplar é também um verbo artístico, talvez até do domínio da alma. Acha mesmo que o verbo não lhe assenta bem?
GMT — É interessante as várias leituras que o verbo pode ter. O que é contemplar? Ou, por exemplo, o verbo agarrar: o que é agarrar? Podemos agarrar de milhares de formas diferentes. Podemos agarrar com muita força, com pouca força, podemos agarrar entusiasmadamente ou agarrar sem vontade. Qualquer verbo tem sempre vários entendimentos. O contemplar pode ter o entendimento do passivo. Isto é, alguém que está a ver as coisas passivamente a passar. Não me coloco muito nesse sentido.
P — Acha que na cidade os Homens andam demasiado ocupados para contemplar seja o que for?
GMT — Na cidade tem-se um ritmo diferente. Basta ir-se dois dias para o campo para se perceber as diferenças. O facto de no campo termos mais espaço à nossa volta e de existirem menos pessoas muda logo o tipo de ritmo respiratório. A velocidade do nosso olhar depende da velocidade da nossa respiração. Quando estamos no campo é como se a nossa respiração abrandasse. E, repare, uma pessoa é um conjunto de estímulos. Além de ser um ser humano, é um foco. Quando vejo fotografias reajo de maneiras diferentes ao facto de ter lá pessoas ou não. Fico muito menos entusiasmado, muito menos ativo, quando estou diante de uma fotografia sem pessoas. Uma paisagem sem pessoas é muito pouco interessante. O que me interessa são as pessoas. A cidade tem um conjunto de estímulos tão fortes e com tanta frequência que é difícil entrarmos na contemplação. Contemplação atira mais para aquela ideia do homem diante da natureza. Diria que não sou muito desse mundo. A coisa que mais me entusiasma é ver os Homens a agirem.
P — Qual é, então, o seu verbo preferido? E porquê?
GMT — Gosto do verbo andar (não apenas o verbo físico, mas o verbo que indica avançar, o andar mental). Avançar também é um verbo de que gosto muito. Mas há outros. Estes são aqueles de que me lembro agora… Olhe, o verbo fazer também é dos verbos que eu escolheria como verbo preferido! Tem de se fazer, o resto é secundário.
P — O seu último livro a sair do prelo foi A Mulher-Sem-Cabeça e o Homem-do-Mau Olhado, inserido na série «Mitologias». Quer falar um pouco sobre este livro? A ver pelo título da coleção parece que também aqui há uma evocação ao clássicos…

GMT — Passa um pouco pelas histórias tradicionais, pelas lengalengas mas remetendo-as para o século em que nós estamos onde, mais uma vez, as máquinas se apresentam como personagens principais e não como paisagens. Neste livro, A Mulher-Sem-Cabeça e o Homem-do-Mau-Olhado, há uma casa das máquinas. É uma casa gigantesca e é também uma das protagonistas do livro. Há cinco meninos que se perdem nessa grande casa das máquinas. Aqui está a ideia clássica do menino perdido na floresta. Perdem-se porque uma máquina é igual a outra máquina e as crianças não conseguem distinguir se já passaram por ali ou não. Um pouco como acontece com as árvores. Perdemo-nos numa floresta porque a certa altura as árvores são todas iguais. Mitologias são de alguma maneira o regresso aos mitos clássicos sendo que têm mais a ver com uma espécie de nova mitologia do século XXI.
P — Esse livro é o último publicado e que se veio juntar a muitas dezenas de outros livros que já publicou em vários géneros literários. Tem algum de que goste especialmente?
GMT — Não sei. Não consigo responder a isso…
P — A pergunta que lhe fiz assemelha-se àquela pergunta clássica da ilha deserta, para onde só se pode levar um livro… Não consegue mesmo eleger um livro seu de que goste especialmente?
GMT — O tal livro a salvar…
P — Sim.
GMT — É que os meus livros são todos muito diferentes. Se eu escrevesse sempre o mesmo tipo de livro com a mesma forma, com o mesmo tipo de linguagem, talvez aí conseguisse responder. Mas os meus livros têm linguagens completamente diferentes. Pensando, por exemplo, no tamanho das frases… «Os Senhores» [série «O Bairro»] tem frases muito curtas, muito sucintas. Já o livro Animalescos, que saiu pela Relógio D’Água, quase não tem pontos finais e tem uma estrutura de bum-bum-bum. É uma estrutura bombardeada, sem parar. Logo por aí é difícil de comparar. É difícil de escolher. É como comparar um girafa com uma tartaruga. Ou perguntar qual é o melhor animal? É uma pergunta um bocado absurda! Faz mais sentido perguntar: qual é o animal mais rápido? E aí respondemos, por exemplo, o tigre. Qual é o animal mais lento? E aí respondemos, por exemplo, a tartaruga. E por aí em diante… Qual é o animal mais alto? A girafa… Também penso assim em relação aos meus livros. Ou seja, há livros mais rápidos, há livros mais lentos, há livros mais altos, há livros mais densos…

P — Faz-me, agora, algum sentido perguntar-lhe qual é o animal de que mais gosta. Porque (independentemente da estatura, da agressividade, da pelagem ou da velocidade) todos temos um animal preferido, ou de que gostamos especialmente. Qual é o seu?
GMT — Gosto de animais, no geral. Gosto de perceber hábitos estranhos, comportamentos que parecem por vezes de máquinas programadas há muitos milénios. Outras vezes, comportamentos que classificaríamos como de loucos. O mundo animal é impressionante. Escolher um animal é também difícil. Como beleza, escolheria o tigre; afetivamente, aprendi a gostar do cão.
P — Foi assistente do professor Manuel Sérgio na Faculdade de Motricidade Humana. O professor Manuel Sérgio disse em entrevista que os dois tipos mais geniais que tinha encontrado eram o Gonçalo e o José Mourinho. Como se sente nesta companhia?
GMT — É divertido! [risos] O professor Manuel Sérgio é muito divertido. É uma pessoa muito querida e muito generosa. E isso que disse mostra bem o sentido de humor do professor Manuel Sérgio.
P — Mas o professor Manuel Sérgio não foi o único. A conceituada revista Magazine Littéraire classificou-o também como «genial» e adiantou: «Gonçalo M. Tavares é um Kafka tanto matemático como sensual, que inventa as suas próprias arquiteturas para poder explorar um mundo em crise, e que olha sempre através de um cruzamento entre o grotesco e o terrível. […] É brilhante!». Como define «genialidade»?
GMT — É difícil! Diria que tem de ver com uma certa intuição. Tem a ver com um mundo intuitivo. É uma espécie de descoberta relâmpago. A palavra genialidade tem um peso histórico grande. Muitas vezes utiliza-se a palavra genialidade de forma interessante, outras vezes utiliza-se de forma menos interessante. É uma palavra que tem várias aplicações. Por exemplo, a expressão «tem um mau génio» pertence ao domínio da maldade. Diria que genialidade é o instinto, é a facilidade para se fazer certas coisas bem feitas e de forma instintiva. As palavras que andam ali à volta não são muito importantes. Não é importante saber se existem génios ou não. O importante é saber se existem obras geniais ou não. Às vezes ouvimos pessoas que parecem extraordinárias ou que parecem capazes de fazer coisas extraordinárias e depois vamos tentar saber o que é que essas pessoas fizeram e, muitas vezes, não fizeram nada, não têm obra. Não devemos centrarmo-nos no criador mas na obra criada. Para mim o que interessa é a questão da obra. Respeito quem não faz assim, mas eu sou mais resguardado. Acho sempre que o autor deve dar um passo atrás. O centro é sempre a obra. Não tenho grande paciência para aquelas conversas de grandes projetos. A minha questão é sempre: «então, o que já fizeste?»; «mostra-me lá a tua obra feita». O artista pode estar fora, pode até já ter morrido e o que fica é sempre a obra. Se a obra é forte é forte independentemente do seu autor. Deste ponto de vista, quase que o ideal era termos obras anónimas para conseguirmos perceber a força da obra independentemente do seu criador.
P — É o caso recente de Elena Ferrante. Sob o anonimato, a misteriosa autora italiana conseguiu que as obras fossem verdadeiros sucessos editoriais mundo fora.
GMT — Exato! A questão do anonimato permite ao leitor ou ao contemplador da obra partir para a leitura sem nenhuns preconceitos, sejam eles positivos ou negativos.
P — Como é que é aos 46 anos consegue ter este perfil único: traduzido pelos 4 cantos do mundo, elogiado pelos maiores. Sente que tem um dom?
GMT — [longa pausa] Tento guardar sempre uma certa distância em relação às coisas que vão acontecendo quer sejam muito boas quer sejam menos boas. É importante que a pessoa mantenha o seu percurso, o seu caminho, independentemente daquilo que lhe aconteça. Não ficar nem deslumbrado nem irritado face às boas ou más reações. Muitas vezes uma receção muito entusiasmante pode inibir mais do que uma receção negativa. É a história da paralisação criativa. Há quem tenha escrito um livro bom, muito bom, que tenha sido muito elogiado e depois fica paralisado por causa disso e já não consegue fazer o segundo livro. O inverso também acontece. Há pessoas que ficam paralisadas porque não deram atenção aos seus livros. Na verdade, tudo pode ser um motivo para as pessoas ficarem paralisadas. Pessoalmente, tento, em primeiro lugar, não transformar as coisas boas em coisas más. Se há pessoas que admiro e que sei que ficaram entusiasmadas com os meus livros é claro que fico muito contente!
P — Mas foi um incentivo ou um fardo, o único nobel da literatura em português ter profetizado que o próximo seria o Gonçalo? Digo «fardo» no sentido de responsabilidade…
GMT — O José Saramago foi realmente de uma grande generosidade para comigo e foi um grande entusiasta. Essa frase que ele disse é uma frase muito forte. Estou muito grato e muito honrado por toda essa generosidade. Como disse, acho que não devemos transformar as coisas boas em coisas más e independentemente dessa e de outras frases continuo a fazer o meu caminho. Claro que é muito bom sentir que escritores com um grande percurso admiram o nosso trabalho. Porque esses escritores conhecem as dificuldades, são autores que já escreveram grandes livros e sabem que escrever um bom livro no século XXI é duro! É duro porque existem milhares de grandes autores que já escreveram grandes livros antes de nós. Eles sabem bem como é difícil escrever qualquer coisa de novo no século XXI .
P — O impacto do reconhecimento por parte do Estado distingue-se do impacto do reconhecimento por parte dos seus pares? [em 2012, Gonçalo M. Tavares foi feito Grande‑Oficial da Ordem do Infante D. Henrique].
GMT — Sim, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é o país considerar que a pessoa fez qualquer coisa de interessante nas artes de forma mais coletiva. Outra coisa é um artista ou um grande escritor manifestar-se individualmente. São mundos muito diferentes.

P — O Gonçalo também é professor. Deu aulas de epistemologia na Faculdade de Motricidade Humana. Continua?
GMT — Sim, dei, mas agora a cadeira mais geral que ensino é Cultura e Pensamento Contemporâneo.
P — Para Platão o conhecimento é o conjunto de todas as informações que descrevem e explicam o mundo natural e o mundo social que nos rodeia. É Platão o pai da epistemologia?
GMT — Platão é interessante porque introduz a estética no pensamento. Quase que podemos dizer que ele introduziu uma série de géneros literários. Apesar de ter um discurso contra a poesia e contra a arte, Platão é muito mais criativo do que Aristóteles que é muito mais pragmático e organizado. Platão tem coisas completamente do mundo do devaneio lúcido. O que é curioso porque ele é um inimigo da ideia de devaneio. Consciente ou inconscientemente ele introduziu a ideia de que o pensamento pode ser acedido de uma forma criativa. Nesse aspeto ele é o precursor da epistemologia que não é a ortodoxa, no sentido de se aceder ao conhecimento de uma maneira diferente daquela mais clássica. Platão está num ponto intermédio. Aqui, faz sentido colocar-se o problema: nós aprendemos mais de psicologia num tratado de psicologia em que se analise a questão da culpa ou em Crime e Castigo? São duas maneiras muito diferentes de se aceder a um conhecimento. E são duas maneiras válidas. Uma não anula a outra. É muito claro para mim que a Arte é um meio para se aceder a um tipo de conhecimento ou a um tipo de reflexão. Também é claro para mim que as ciências não chegam lá da mesma maneira.
P — A ciência tem filosofias que a filosofia desconhece?
GMT — Sim, acho que sim. A separação entre filosofia e ciência é, muitas das vezes, uma separação artificial. Se assumirmos essa separação, o que a filosofia nos dá é a questão da causa e do «para quê?». A ciência muitas vezes está centrada (a boa ciência não está centrada só nisto mas a menos boa ciência está) no «como fazer isto?». Está centrada no «como?». Isto é, há um obstáculo e a ciência questiona «como transpormos o obstáculo?». A ciência vai responder à pergunta «como é que eu vou chegar à lua». A Filosofia vai questionar «porque é que eu quero ir à lua?». Claro que a boa filosofia também entra no campo do «como» e a boa ciência entra no campo das causas e no «para quê».

P — Como é que o ser humano adquire conhecimento?
GMT — Pode adquirir de muitas formas. Pode adquirir de uma forma mais prática (das aulas, da leitura) e pode adquirir conhecimento observando. Podemos adquirir conhecimento estando num café a observar as pessoas, ou num museu a observar uma obra de arte, ou no meio da natureza a mexer na terra. Há o conhecimento mais intelectual, mais racional e, depois, há o conhecimento a que antigamente se chamava de sabedoria. O Séneca nas Cartas a Lucílio tem uma carta muito interessante sobre o conhecimento. Nessa carta Séneca questiona e dá exemplos. O que é que interessa dominar a harmonia na música se não sabemos ter harmonia na vida? O que interessa saber dividir na matemática se não sabemos dividir com o nosso irmão? São as perguntas de Séneca. Esta é a questão do conhecimento teórico aplicado à vida. Há de facto vários tipos de conhecimento. No acesso à leitura devemos combater o analfabetismo total e ter presente também que o acesso à leitura não trava o acesso ao conhecimento instintivo. Pelo contrário, muitas vezes, alarga-o. Há muitas formas de adquirir conhecimento. Outra forma de adquirir conhecimento é a viagem. A viagem no seu sentido mais primeiro é o de descobrir algo. É o de ir ao encontro de alguma coisa que não se conhece. Neste sentido estamos perante o conceito de aprendizagem. Vou ao encontro daquilo que eu não conheço para poder conhecer. Infelizmente, a viagem foi transformada em algo padronizado onde as pessoas vão três dias para Paris com pacotes definidos. Estão três horas no Louvre e mais três horas noutro museu. Ora, quando se define as horas que uma pessoa fica num museu está-se a definir as horas que se vai ficar diante de um quadro. E isto é a entrada numa disciplina estúpida, diria.
P — Diz-se que o erro é pedagógico, que se aprende com o erro. É mesmo assim?
GMT — Depende… Há erros tontos e há a questão da experiência. Ler, por exemplo, é adquirir a experiência dos outros. Se nós a partir da experiência dos outros evitarmos erros na nossa experiência não me parece mal, como é evidente.
P — Referia-me aos nossos próprios erros.
GMT — Há uma teoria filosófica que diz precisamente que a aprendizagem tem uma espécie de relação com o erro ou com a falha ou até mesmo com uma espécie de sofrimento próprio. Isto é, não se aprende determinada coisa se não se passar por ela. É um pouco aquela ideia da aprendizagem pelo sofrimento, qualquer coisa de extremo. A pessoa só pode aprender se passar por uma certa dor física ou emocional. Se a pessoa aprender teoricamente que algo é negativo ou desagradável isso não tem consequências. O Nietzsche dizia sobre os gregos: «o que este povo deve ter sofrido para conseguir ser tão sábio». E há também aquelas frases clássicas como «sofreu, agora é um deus». Isto é a ideia de que o sofrimento é um momento de passagem para a aprendizagem. Este é também um tema muito clássico. Esta teoria pressupõe que a pessoa não pode aprender a ver ou ouvir os outros.
P — É uma teoria que nega o exemplo.
GMT — Nesta linha sim. Mas felizmente estamos sempre a cometer erros novos. O que me parece interessante. Cometer erros antigos é um bocado um desperdício. Há tantos erros novos para serem cometidos! [risos]
P — Sartre defende o princípio de que «a existência precede a essência». O que precede o conhecimento?
GMT — Falando de uma forma muito prosaica acho que o desejo e a curiosidade estão, muitas vezes, antes do conhecimento. Acho difícil alguém aprender se não tiver vontade de aprender. O desejo e a curiosidade (curiosidade enquanto excitação biológica) são importantes. A curiosidade é um termo mental mas também físico, é como o corpo ficar entusiasmado com a ideia de conhecer alguma coisa nova. As crianças são as máquinas da curiosidade por excelência. Sentir uma criança pouco curiosa é uma coisa terrível. Sentir um adulto pouco curioso é das coisas mais deprimentes que existem. A ideia do «não sei nem me interessa», que é uma expressão muito popular, é uma ideia terrível. Uma coisa é o «não sei nem me interessa» quando se fala de uma coscuvilhice. Outra coisa é o «não sei nem me interessa» face a uma descoberta. O «não sei nem me interessa» é uma desistência muito grande. Já a falta de curiosidade é uma desistência de viver.
P — A vida é curiosidade?
GMT — Sim, a vida tem muito que ver com a curiosidade, pelo menos com a curiosidade do dia seguinte. É isso que muitas vezes impede que nos matemos.
P — E porque também temos esperança.
GMT — Até pode não ser uma esperança, naquele sentido de que vem aí algo melhor. Mas no sentido de que vem aí algo que é diferente. Isto deveria bastar.
P — Acha que na sociedade há espaço para as pessoas desenvolverem aquilo que trazem como suas qualidades inatas?
GMT — É difícil falar sobre a sociedade no geral. Podemos pensar na sociedade e nos meios educativos, nas escolas (há escolas interessantes e menos interessantes), nos professores… Acho que o entusiasmo é uma doença contagiosa que se transmite ou não. Há professores que o conseguem transmitir, outros não.
P — Com que olhos vê a escola hoje em dia?
GMT — Acho que a escola ainda vive muito num mundo do século XIX, onde as pessoas estão dentro de um espaço fechado, sentadas em cadeiras de costas umas para as outras. Isto é violentíssimo. Começa-se já a falar em outras formas de se ensinar, de se sair para a rua, de um ensino que parte de um problema (em vez de se aprender informações e conhecimentos sem um problema) e que ensina em busca de uma solução. Mas o sistema de ensino é muito conservador.
P — E aquela ideia já velhinha dos alunos estudarem os clássicos da literatura por via de materiais e sebentas de apoio, que muitas vezes substituem a leitura dos textos ?
GMT — Sempre achei que se deve ler um livro clássico diretamente, sem intermediários. Claro que conseguir isso hoje é difícil. A Internet está cheia de comentários, de reflexões, de resumos… Talvez isto seja das coisas mais difíceis do século XXI. Pensando no teatro ou no cinema, é muito difícil a pessoa estar sozinha diante da obra de arte sem ter já um pré-conhecimento ou sem ter uma reflexão prévia de alguém sobre aquilo que vai ver. Em relação aos clássicos acho que o melhor é estar diante do livro, ler o livro e só depois ir buscar as análises ao livro. A análise a um livro é sempre um ponto de vista. Esse ponto de vista vai viciar o olhar do leitor.
P — Acabamos a entrevista com um dos autores que admira. Em Um Escritor Apresenta‑se, Vergílio Ferreira escreve: «Escrever é para mim […] uma espécie de orientação na direção de um apelo vindo de algures […] Escrever é pois esclarecer e fixar uma inquietação.» Quais são as suas mais recentes inquietações?
GMT — Em primeiro lugar, gosto mesmo muito de Vergílio Ferreira. É um autor de referência. O primeiro livro da série «Mitologias» é realmente a primeira publicação ligada a uma inquietação minha. Até que ponto as histórias tradicionais e os mitos perderam ou não a sua validade no século XXI? E quais são os nosso mitos atuais? Talvez a minha maior inquietação se prenda com a questão: Como é que nós colocamos a máquina ao lado do lobo na floresta? O que é que a máquina tem a ver com os nossos medos? O que é que a máquina tem a ver com o medo do escuro ou com o medo lobo, que são medos ancestrais? O que é que a máquina tem a ver com isso? Aquilo que os séculos XX e XXI deram de novo foi a tecnologia. E a tecnologia inventou novos desastres, recriando e pondo em movimento novos mitos, novos medos e novas inquietações. O que tento investigar agora são as inquietações que a máquina introduziu. Há inquietações que são antigas, que são as de sempre, mas nestes dois séculos surgiram, de facto, novas inquietações.

P — Dessas suas investigações já concluiu alguma coisa?
GMT — Pensando, por exemplo, nas redes sociais… Surgiu uma tensão nova criada por algo que está ausente. São as tensões do presente/ausente. Na maior parte das tensões clássicas o corpo do outro está presente. Se vir um lobo à minha frente fico assustado. A máquina veio introduzir o medo do ausente. Hoje, os maiores medos não são os medos presentes, são os medos de algo que está ausente. Há tensões que surgem de alguma coisa que não posso tocar naquele momento. Essa violência do que está muito afastado de nós é uma violência muito nova. Há um século atrás se um familiar nosso viajava ou ia para longe, e não tínhamos notícias dele, sentíamos a tensão de ele não estar presente. Hoje, a tensão base das pessoas é diferente. Neste século XXI, e numa sociedade super tecnológica, quando é que as pessoas se chateiam a sério? Quando é que se aborrecem e ficam furiosas a sério? Era curioso haver (não sei se há) uma estatística sobre isto. Provavelmente, as pessoas que se zangam a sério ou ficam furiosas a sério com a outra pessoa presente constituem uma percentagem mínima em relação àquelas que se zangam ou ficam furiosas a sério com a pessoa ausente. Ausente fisicamente mas presente em termos tecnológicos. Quando é que os nossos bisavôs ficavam irritados ou zangados a sério? Ficavam zangados quando havia uma chatice, ali, naquele momento, à frente deles. Hoje há muito maior número de foco nas tensões ausentes mas presentes tecnologicamente. Claro que as redes sociais também trazem um foco de coisas boas, de relações afetivas e amorosas positivas mas interessa-me pensar como é que a tecnologia muda os nossos medos e gere as nossas tensões. É esta a minha inquietação atual e que me atira para as mitologias.
Lisboa, julho de 2017
Publicações Relacionadas
-

José Régio
02 Fevereiro 2021
-

-

-

«In memoriam» Maria Helena da Rocha Pereira
10 Abril 2017
-
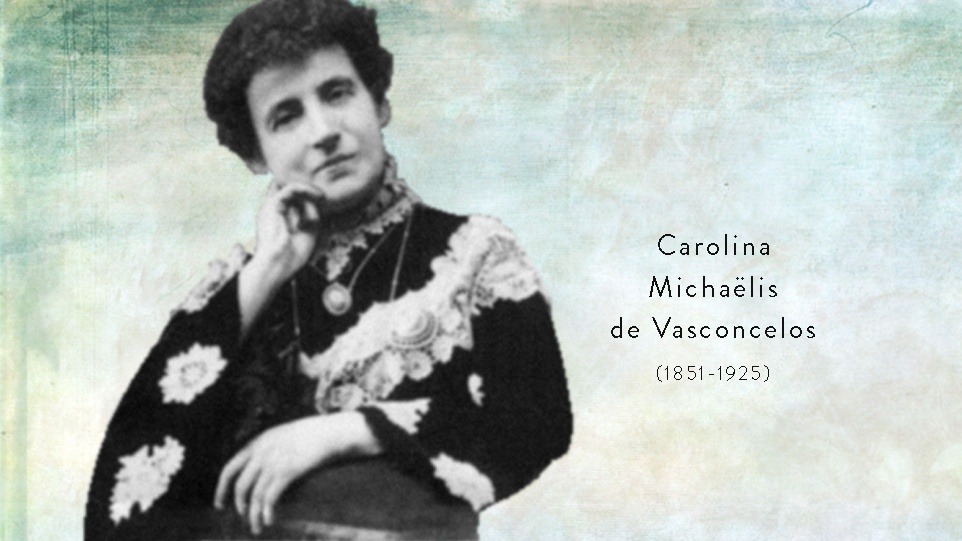
Carolina Michaëlis de Vasconcelos
15 Março 2019














