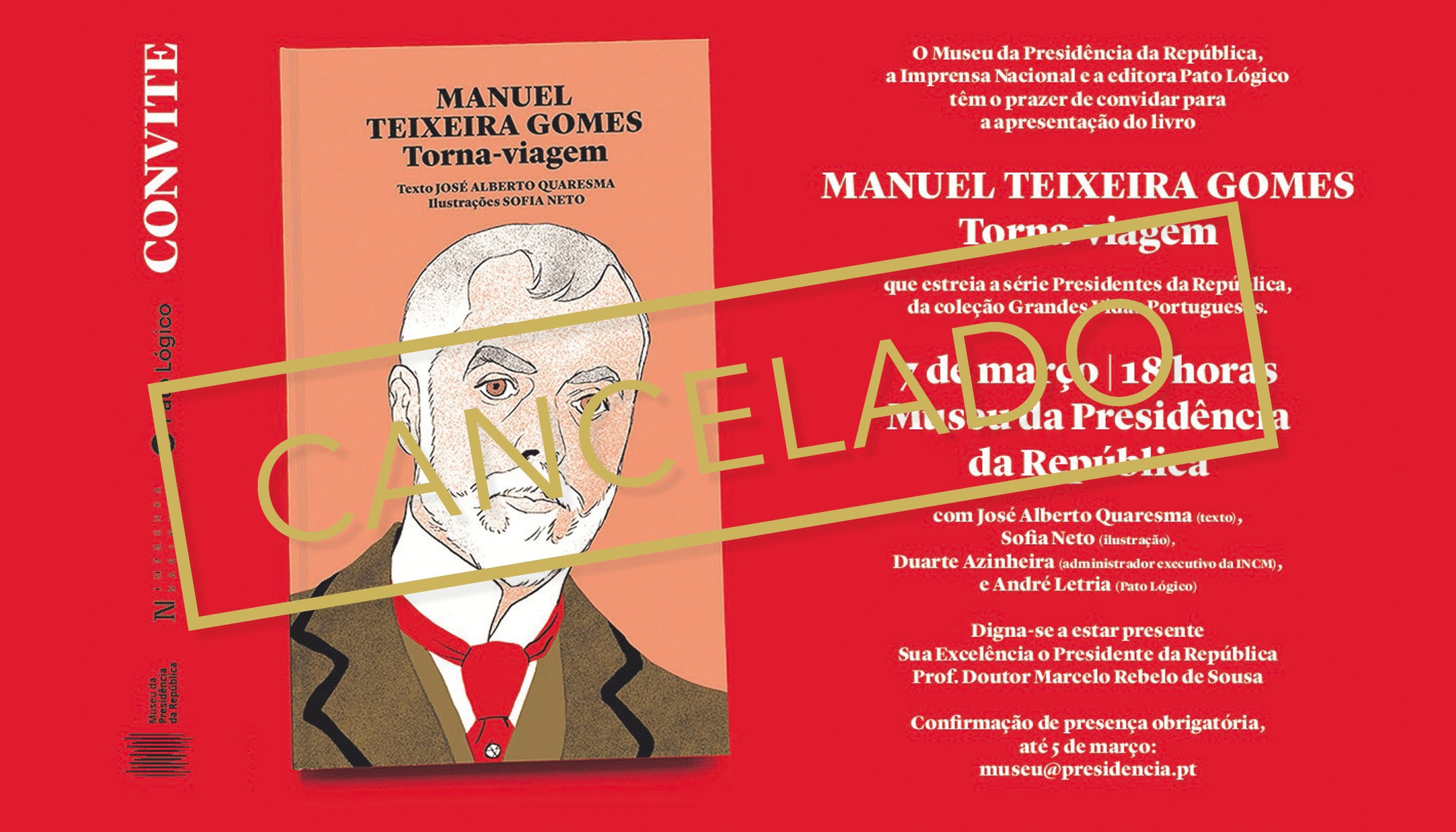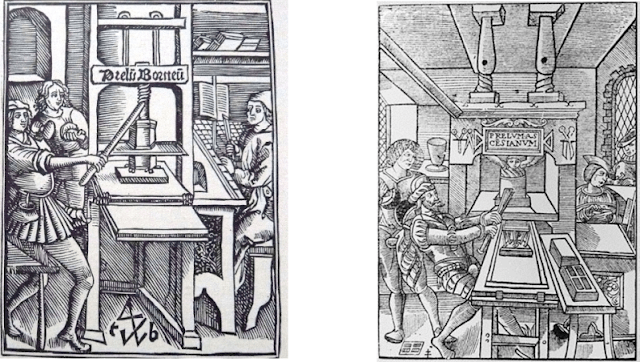por Manuel Ferreira Patrício
por Manuel Ferreira Patrício
1. É com pesar que aqui evoco Fernando Gil. Evoco, antes de tudo, a pessoa. Evoco, depois, a figura, que foi grande. Evoco, finalmente, o colega e o compatriota.
Fernando Gil foi uma pessoa admirável. Conheci-o tarde, há meia dúzia de anos. Refiro-me ao conhecimento pessoal. Aconteceu isso no Conselho Editorial da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Afável, modesto, atento, utilizador moderado mas eficiente da palavra, a sua presença era marcante, pesava no colégio a que pertencia. Pesava por si mesma. Provocava naturalmente o reconhecimento da sua qualidade científica e da sua grandeza humana.
Conheci-o, como figura da cultura e da filosofia, muito mais cedo, desde a época de 60, da leitura do livro Sinais (Signes) de Maurice Merleau-Ponty, que traduziu para a Minotauro. Mais tarde, em Évora, creio que na década de 80, vi-o e ouvi-o num evento científico promovido por professores de Filosofia da Escola Secundária André de Gouveia, sucessora do Liceu Nacional de Évora — lembro-me, sem querer ser injusto para ninguém, da Dr.a Ana Barbosa, do Dr. Celestino David e do Dr. Marcial Rodrigues —, numa sessão que teve lugar no Anfiteatro do Colégio do Espírito Santo da Universidade e que contou com a presença de figuras do mundo filosófico internacional, trazidas até nós por Fernando Gil, em que avultava a figura de Jean Petitot. Não conhecendo bem, à data, o percurso e a obra de Fernando Gil, dele me ficou então a imagem de um filósofo e professor de Filosofia cujas atenções estavam centradas na epistemologia e na filosofia da ciência. Fui entretanto tomando conhecimento dos seus livros e de outros textos que iam sendo publicados entre nós, todos posteriores a essa data, e a imagem que havia formado foi-se confirmando. A essa imagem se foi sobrepondo solidamente outra, afirmativa de superior qualidade do seu trabalho filosófico. Foi dentro do Conselho Editorial da Imprensa Nacional-Casa da Moeda — cenáculo institucional onde o grupo de individualidades-conselheiros procura servir responsavelmente a cultura portuguesa através de uma correta e clarividente política editorial— que me foi dado conhecer do lado de dentro o homem, o intelectual, o filósofo, o professor, o cidadão, o colega, de forma «compreensiva», para me exprimir na atmosfera espiritual e na linguagem de Dilthey. Todas as imagens que havia formado foram não apenas confirmadas mas elevadas a uma altíssima potência. Foi o tempo de dar graças a quem elas são devidas pelo privilégio de ter podido partilhar um pouco da convivência com aquele homem notável.
Descobri então, nesse afectuoso e laborioso convívio, que o mundo da epistemologia e da filosofia da ciência era apenas uma parcela do mundo filosófico de Fernando Gil. Eu que me inclinaria, à partida, para ver nele mais um residente no plano do intelecto que no plano da sensibilidade, por outro lado decerto um «estrangeirado» ou mesmo um «desnacionalizado», no mínimo indiferente ao esforço por pensar autonomamente em português como desde o início foi o da história, e pré-história, do movimento da «filosofia portuguesa», descobri um homem vivo, fremente, sério, corajoso, sensível à realidade sob todos os seus aspectos e em todas as direções, aberto mesmo ao plano das ultimidades e do mistério. Esse fenómeno da transfiguração humanista da sua imagem foi reforçado pelo melhor conhecimento das suas preocupações e posturas políticas, reveladoras do seu compromisso profundo e inapelavelmente sério com o bem da comunidade, sem preocupação com o detestável «politicamente correto» e apenas com a preocupação com o «eticamente correto», respeitando o discurso da genuína realidade da primeira à última sílaba. E tudo, sempre, com um respeito infinito pelo outro, que é a comunidade, que é cada um de nós. Lembro, neste ponto, a sua tomada de posição sobre a intervenção norte-americana e seus aliados no Iraque, em que a recorrente inquisição nacional e europeia desde logo silenciosamente o inscreveu no livro dos afinal «malditos», numa demonstração inequívoca de deslealdade, inimizade, má-fé, intolerância e desrespeito. Mas há ossos duros de roer. Fernando Gil, com a sua impecável personalidade ética e a sua imaculada existência pessoal e pública, era um osso impossível de roer.
2. Julgava eu que todas as surpresas a seu respeito já me tinham sobrevindo quando me cai nas mãos o livro A 4 Mãos — Schumann, Eichendorff e Outras Notas, editado, precisamente, pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Estávamos em Abril de 2005. Fernando Gil já se encontrava gravemente doente, lutando serenamente pela vida. Li de imediato o seu ensaio «Exemplos musicais». Que poderia esperar dele? Tendo como referência o meio filosófico português, esperaria um texto «considerativo» —como diria Agostinho da Silva—, recheado de informação, de inteligentes raciocínios e apreciações, numa boa hipótese «musicológico» — ou seja, sobre a Música… —, mas nunca um texto que mergulhasse diretamente na música propriamente dita, escrito por alguém que conhecesse a música na sua intimidade. Ora foi a melhor hipótese possível aquela que afinal se verificou. É a música, em mergulho direto, que Fernando Gil vai pensar. Confessa ele ter hesitado em «dar esta conferência», dizendo com a sua timidez e modéstia: «não sou musicólogo». O texto diz outra coisa: mostra-o perfeitamente conhecedor da música, ou seja, nas condições a meu ver indispensáveis para falar dela e sobre ela. Mário Vieira de Carvalho, na «Apresentação» que faz do livro, confirma esta dimensão da personalidade cultural e filosófica de Fernando Gil: «Há muito que admiro o seu conhecimento em extensão e profundidade da música, e não só da europeia ou da chamada ‘erudita’ europeia.» (Op. cit., p. 7.) Que um filósofo conheça a música em extensão e profundidade já é algo de muito bom, mas Mário Vieira de Carvalho vai mais longe e mais fundo, declarando que Fernando Gil se lhe «afigura um raro exemplo de que não há conhecimento da música sem filosofia» (ibidem). Por mim, estou inteiramente de acordo. Na história da música, é em Beethoven que encontro a mais alta consciência desta realidade. Na história da Filosofia, encontro-a em Schopenhauer e em Nietzsche. No mundo filosófico ibérico, até agora só tinha topado com essa consciência em Juan David Garcia Bacca. É honra e satisfação para nós que Fernando Gil se inscreva nesta escassa galeria. Tive, na altura, a oportunidade de o felicitar por esse facto, declarando-lhe a minha admiração e ambos conversando um pouco sobre a sua competência musical. Todavia, desde muito longe a filosofia se relaciona com a música e a sustenta pelo seu pensamento. Vem de Pitágoras e dos pitagóricos esse casamento. A escala musical foi criada por Pitágoras, a partir das suas experiências com o monocórdio e o desenvolvimento que lhe deu o seu discípulo Aristóxeno. O problema dos sons enarmónicos, decorrente da utilização milenar dessa escala, só foi resolvido no século XVIII, por J. S. Bach, com o seu «cravo bem temperado». O teclado do piano é a expressão visível desse longo percurso, em que a música, a ciência e a filosofia estão entrelaçadas desde o século vi a. C.
3. Como sinteticamente afirma Mário Vieira de Carvalho, o «tema nuclear» do ensaio de Fernando Gil é o seguinte: «o Liederkreis op. 39 de Schumann e o universo poético de Joseph von Eichendorff» (ibidem). Todavia, inspirando-me em Ibn Arabi, direi que o núcleo desse núcleo é uma profunda meditação sobre a própria essência da Música e seu espantoso poder espiritual.
A legenda que antecede o ensaio de Fernando Gil diz tudo com a sua relação com a Música e aponta desde logo para o núcleo do núcleo. Trata-se de uma breve citação de Shakespeare, extraída de The Merchant of Venice, V, 1. Ei-la:
The man that has no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is Jit for treasons, stratagems and spoils.
The motions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as Erebus.
Let no such man be trusted. Mark the music.
A música é, como desde Kant ficou estabelecido, uma «arte do tempo». Todavia, é ela que permite, na visão de Fernando Gil, a experiência da eternidade, «registo fora da vida e da duração», «transfiguração», «beleza», «transporte» (ibidem, p. 14). Referindo-se a um dos Miroirs de Ravel — Uma Barca no Oceano —, na interpretação de Sviatoslav Richter, escreveu Paul Valéry, citado por Fernando Gil (P. V., Cahiers, II, Plêiade, éd. Gallimard, Paris, 1988, p. 981): «Concerto notável. Com o raro e total efeito da obra divinamente executada — que é não ter qualquer duração e se estabelecer fora do regime da vida mediana. Sem nenhuma relação com as condições comuns. Transportes. Transfigurações. Beleza do momento» (ibidem). É de uma experiência quase mística que fala Valéry. De qualquer modo, de uma ascese estética, de uma ascese total por via musical. Ascese instantânea, subida sem escada de Jacob. Eis a expressão fulgurante do pensamento-sentimento (ou sentimento–pensamento?…) de Fernando Gil: «Aquilo que Valéry diz é abissalmente justo, o mais essencial que há a dizer sobre a música» (ibidem).
Nos anos 60, era eu estudante de Estética, aconteceu-me tomar conhecimento de várias sebentas de Étienne Souriau, que na altura pude adquirir na então Livraria Universitária. Afirmava ele, a dado passo, que a culinária não é uma arte porque o objecto artístico se esgota no ato do consumo. Lembro-me de ter imediatamente discordado, precisamente a pensar na Música. Não é verdade que também esta se esgota no ato do consumo, que é o ato da audição e da escuta? Pensei eu que Étienne Souriau não estava a considerar que o que na música é a partitura é, na culinária, a receita. A música executa-se a partir da partitura, ou diretamente a partir do instrumento emissor de som. O cozinhado, ou o doce, executa(m)-se a partir da receita, ou diretamente a partir dos ingredientes. No fundo, é assim com todas as artes, em especial com as artes ditas «do tempo». É assim com a poesia, que é executada mentalmente todas as vezes que é lida, simplesmente lida, ou sempre que é dita, recitada, declamada. O texto escrito funciona neste caso como partitura, ou receita.
Vem isto a propósito da expressão de Valéry: «obra divinamente executada». Não escapa esta expressão à acribia analítica de Fernando Gil, que se apressa em dizer na palavra «sobre o requisito da ‘divina execução’» (ibidem). Vê ele na necessidade da execução uma marca da afectação da música «por uma indigência e uma precariedade intrínsecas» [ibidem, pp. 14-15). Em aparente coincidência com Étienne Souriau, vê a primeira razão disso no facto de que ela «requer ser executada», o que «singulariza-a absolutamente» (ibidem, p. 15) «mesmo depois de ser registada em partituras» (ibidem). A segunda razão da precariedade é a condenação da execução musical «a ser divina» (ibidem). Se o não for, a música banaliza em vez de transfigurar, de instalar no eterno. Fernando Gil quer mostrar que é assim com a apresentação da obra na circunstância da conferência que escolheu para seu apoio: o Liederkreis op. 39 de Schumann com poemas de Eichendorff. Possuindo e conhecendo várias versões, ou interpretações, deste ciclo, só um lhe aparece como preenchendo «o requisito da ‘divina execução’»: a de Dietrich Fischer-Dieskau, acompanhado por Christoph Eschenbach [1975, DGG] (ibidem). Está assim a partitura, algo como a música, em estado de hibernação ou em potência, absolutamente dependente, absolutamente nas mãos, da interpretação? Apesar de tudo, Fernando Gil dá o primado a Schumann, mas a Schumann «como o entende», o que significa que existe para si «a tonalidade Schumann», e é essa tonalidade no fundo expectada que finalmente encontra em Dietrich Fischer-Dieskau. E o encontro dessa tonalidade é tão importante que ele vai ao ponto de se perguntar «o que seria o mundo se não existisse» (ibidem). É que há uma «natureza pessoal da escuta»: entre o ser da música e o ser daquele que a ouve e escuta existe um misterioso laço ontológico. Lá voltamos à questão do mergulho na eternidade, do salto para além do tempo que a escuta musical propicia: «A música constitui-se no tempo, é a escuta da beleza que salta para fora dele» (ibidem, p. 16). Nós próprios saltamos para fora de nós, os escutantes: «Falar de música implica despossuirmo-nos, perdermo-nos um pouco, por razões que são metafísicas» (ibidem).
Mas esse salto para fora de nós, para o mais que nós, para o Todo que nos absorve enquanto identidades pessoais, pode vir a proporcionar-nos a fulguração máxima da identidade, precisamente na morte. E aqui as razões são mais que metafísicas, são religiosas. Um dos exemplos musicais apresentados no festival, consagrado a Beethoven, em que Fernando Gil deu a conhecer o texto sobre que nos debruçamos, foi o de um kaddish, cantado pelo chantre búlgaro Alberto Meir Pinkas na grande sinagoga de Berlim, em 1929. Explica Fernando Gil: «O kaddish é uma curta prece de santificação do Nome de Deus (kiddush hashem) entoada na ocasião de uma morte. As pessoas enlutadas associam-se ao canto do oficiante. As últimas palavras do kaddish anunciam: ‘Aquele que faz reinar a harmonia nos céus fará também florir a paz sobre nós, sobre Israel e sobre a humanidade inteira. Dizei: Amen. Amen, ou seja: confio em que aquilo que me dizes é a verdade. O kaddish é música programática, não é música pura. Aquilo de que fala: a morte. Aquilo que diz: a esperança, ‘promessa utópica de reconciliação’» (ibidem, p. 19). É caso para dizermos de novo: Amen.
4. Escreveu Eduard Hanslick, em 1854: «O conteúdo da música são formas sonoras em movimento» (ibidem, p. 20). Pergunta ingénua, ou talvez não: não poderemos dizer o mesmo da poesia? Ainda E. Hanslick: o que o material sonoro exprime são «ideias musicais» (ibidem). Há ainda a considerar o silêncio. A música, com efeito, é um tecido feito de som e de silêncio. O movimento do som, das «formas sonoras», pressupõe o silêncio, não seria possível sem ele. Entre um som e outro som há sempre um infinitésimo de silêncio. Só que, de novo, o mesmo se pode dizer das «formas verbais em movimento», que constituem a linguagem articulada e são a condição de possibilidade das «formas poéticas em movimento», estas constitutivas do poema. A relação entre a música pura e a música programática não é fácil de apreender. De qualquer modo, esta relação está presente de maneira especial no Lied.
Decerto que desde sempre o músico que criou canções se viu confrontado com a relação entre a «forma sonora» e a «forma verbal». Conheço, já perto de nós, uma reflexão de W. A. Mozart sobre o problema. A 9.ª sinfonia de Beethoven é no andamento final coral-sinfónico uma reflexão sobre o problema (1) e uma sua superação. E o problema no Lied? Perplexo e sincero, confessa Fernando Gil, ele que se insinua razoavelmente distante de estima pela «música programática»: «Contudo, como; negar que o Lied (e a ópera, e toda a música ligada a um texto) é música e significação?» (ibidem, p. 21). Eis como responde: «A resposta será que é preciso ouvir o texto como música» (ibidem). E isso o que é? Vimos nós que também o texto (o texto?!… nós ouvimos o texto, ou as «formas verbais», que são sonoras?…), que também as formas verbais proferidas correspondem ao essencial da explicação de Eduard Hanslick, «o grande teorizador formalista da ‘música pura’» (ibidem, p. 20). Vemos como Fernando Gil toca num nervo sensível da questão da essência da música (e da poesia… e da linguagem articulada em geral…) e como tem consciência da presença do problema do Lied. A música e a poesia exprimem, dizem. Ambas dizem. São dois modos de dizer. O Lied, a ópera, «toda a música ligada a um texto», dizem. E podem dizer juntos. E dizem juntos. Dizem?… Fernando Gil não é tão linear na resposta. Começa mesmo por afirmar que «só o discurso diz algo» (ibidem, p. 21). A música dirá também, mas não diz algo. O algo que a escuta da música nos dá «não se pode dizer» (ibidem). Dá-se-nos, ouvimo-lo, «com a força da evidência» (ibidem, p. 22). Ora a evidência «é um modo não discursivo de conhecer» (ibidem). O real da poesia de Eichendorff vem às palavras, está nelas. O real da música de Schumann não vem às palavras, não está nelas. Pois que «o real da música é o que não há nas palavras» (ibidem). Eis porque nas palavras de Eichendorff é reenunciado «o tema do exílio dos deuses e da sua anamnese irrealizável», enquanto na música de Schumann «não há exílio — há mistério» (ibidem). Clarão final: «o sentido da música é abrir para o mistério» (ibidem). O mistério é a referência da música.
Porquê, então, casar a poesia de Eichendorff e a música de Schumann? É que, «na realidade, os valores expressivos dos poemas de Eichendorff são quase musicais, e por isso Schumann os escolheu» (ibidem).
5. Façamos neste ponto uma pequena deriva sobre a metafísica da Música elaborada por Schopenhauer. Creio que não perderemos o nosso tempo no intuito de melhor compreendermos a posição final de Fernando Gil sobre a essência e alcance supremo da Música.
Toda a arte, para Schopenhauer, utiliza determinados meios técnicos. Artes diferentes utilizam meios técnicos diferentes, conforme os graus de objectivação das forças naturais. Quais são esses graus? Os cinco seguintes: Forças da Natureza Inorgânica; Forças da Vegetação; Forças da Animalidade; Forças Humanas; Forças do Pensamento. A estas forças correspondem cinco classes de arte distintas, pela mesma ordem ascendente: Arquitetura e Escultura; Arte dos Jardins, Paisagens Pintadas; Escultura e Pintura; Pintura de Histórias; Prosa, Poesia e Música. Estas últimas são as artes correspondentes às Forças do Pensamento.
São estas as artes tomadas em consideração por Fernando Gil no seu texto, em particular a Poesia e a Música. Para Schopenhauer, o objecto exclusivo da Poesia consiste em traduzir exatamente o sentimento e o pensamento. O seu instrumento essencial é a linguagem verbal, articulada, que o poeta deve dominar completamente nos seus recursos e nas suas leis. Desse modo dará a conhecer, na sua essência, a natureza humana. A humanidade do homem enquanto Vontade é o que a poesia lírica dos autênticos, genuínos, poetas nos dá, traduzindo a vida interior da humanidade. Todavia, os débeis recursos técnicos da poesia não lhe permitem exprimir com suficiente clareza a intimidade da vida da humanidade.
É a Música a arte, a única, que dispõe desse poder. A Música é uma objectivação e uma imagem da Vontade toda, inteira, tão imediata como o próprio Mundo ou como as Ideias. A Música é a arte metafísica por excelência. Ela fica, não apenas para além das palavras, ela não depende das palavras.
A estrutura dos sons, quanto à sua altura, corresponde aos quatros primeiros graus de objectivação das Forças Naturais: o baixo, o tenor, o contralto, o soprano. A mesma correspondência vê o filósofo nos graus principais da escala: a tónica, a terceira, a quinta, a oitava. Ainda a mesma correspondência é reafirmada no fenómeno da ressonância, cujo conhecimento foi tornado possível a partir das experiências pedagógicas com o monocórdio, feitas pelo próprio Pitágoras e pelo discípulo Aristóxeno. Como toda a Natureza sai do Mundo Universal, os sons graves correspondem aos graus inferiores de objectivação, sendo todos os outros harmónicos destes. A harmonia e a melodia são, evidentemente, objecto da teorização metafísica do filósofo. A expressão musical da harmonia é o acorde. O acorde consonante é a resposta à exigência da Vontade da coincidência das vibrações. O acorde dissonante exprime a não satisfação dessa exigência da Vontade, correspondendo assim ao Sofrimento e à Dor, à Vontade não satisfeita. Quanto à melodia, ela é a tradução de um pensamento único, de um mesmo desenvolvimento da Vontade. Por mais que se afaste o tom fundamental, ela acaba por ser sempre encaminhada para o acorde de sétima, de onde cai para o tom fundamental, a que regressa.
Na senda de Schopenhauer caminhou Ricardo Wagner, mau grado a sua poderosa originalidade, coincidentes os dois na convicção de que a Música exprime o fundo da Realidade, da Realidade enquanto Vontade, destino, paixão e luta. Pela Música a alma humana pode encaminhar-se para a libertação e a superação da Dor. Acima da Música, para Schopenhauer, só a Moral.
A Moral de Schopenhauer inspira-se no hinduísmo. A Vontade universal arrasta consigo o Mal e a Dor. Como pode a alma humana vencer o Mal e a Dor? Pela Sabedoria — responde Schopenhauer. O grau mais elevado da Sabedoria é o que permite ao homem o acesso à Vida Universal, superando o princípio de individuação. Que quer dizer «superar»? Quer dizer aniquilar?, nadificar? É o niilismo, realmente, a última resposta de Schopenhauer, a sua posição metafísica final? Albert Rivaud pensa que não: «Schopenhauer reclama não o aniquilamento, mas a vida eterna» (Albert Rivaud, Histoire de la Philosophie, V-2, PUF, Paris, 1968, p. 725). É o mergulho decisivo no Grund, no Abismo da mais antiga tradição alemã, de um Mestre Eckhart ou de um Tauler.
6. O ensaio de Fernando Gil que me apelou intimamente para me associar à homenagem colectiva que neste espaço se insere é de uma riqueza extraordinária: musicológica, musical, literária, técnica, estética, filosófica, histórico-musical, histórico-cultural, política… O apelo foi irrecusável para mim. A elaboração do meu próprio texto, de intenção afectuosamente evocativa, levou-me para longes terras, algumas das quais não vislumbráveis no que aqui é publicado. O núcleo central é, todavia, o que aparece. É este um problema que me preocupa — posso dizer, com verdade, que me obsidia… — desde há dezenas de anos, desde os anos dobrados da adolescência, em que me entreguei apaixonadamente à aprendizagem e alguma modesta prática da música: O que é a Música? Dou, de cor, a resposta de Beethoven, que profundamente me impressionou: A Música é uma revelação mais alta que a religião e a própria filosofia. É esta resposta que ouço em Fernando Gil. Por exemplo aqui: «A música não diz o ser, nem diretamente nem por um simulacro de ontologia negativa» (ibidem, p. 23). Ou aqui: «será uma hermenêutica errada pensar que a música tem por objectivo acentuar o sentido das palavras» (ibidem). Ou aqui: «O mais importante aqui é a tese de que os sentimentos originários ‘primordiais’ não dispõem de uma expressão artística fora da música» (ibidem, p. 29). Ainda aqui: «Que o segredo se exprime diretamente pela música, e em particular pelo canto colectivo, aparece à humanidade como uma evidência. Ouvimos um kaddish» (ibidem, p. 31). Finalmente, aqui e assim: «O som excede o sentido» (ibidem).
Obrigado, querido amigo, pelo que nos deste e nos deixaste. Não sei se te ouvimos bem. Pela música, podemos ouvir-te melhor. Mais alto. Lá no sítio da transfiguração, do transporte, da transmutação do tempo em eternidade.
NOTAS
1 Fernando Gil, Tratado da Evidência, ed. cit., p. 217. Sublinhados do autor.
2 Idem, ibidem, p. 204.
3 Idem, ibidem, pp. 204-205.
4 Fernando Gil e Hélder de Macedo, Viagens do Olhar. Retrospecção, Visão e Profecia no Renascimento Português, Porto, Campo das Letras, 1998. O seu outro livro deste ano, Modos da Evidência, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998, explora igualmente o tema da evidência, como o título o indica.
in Prelo, n.º 1, 3.ª série, janeiro-abril de 2006,
Lisboa: Imprensa Nacinal-Casa da Moeda, 2006
(texto editado segundo o AO90)