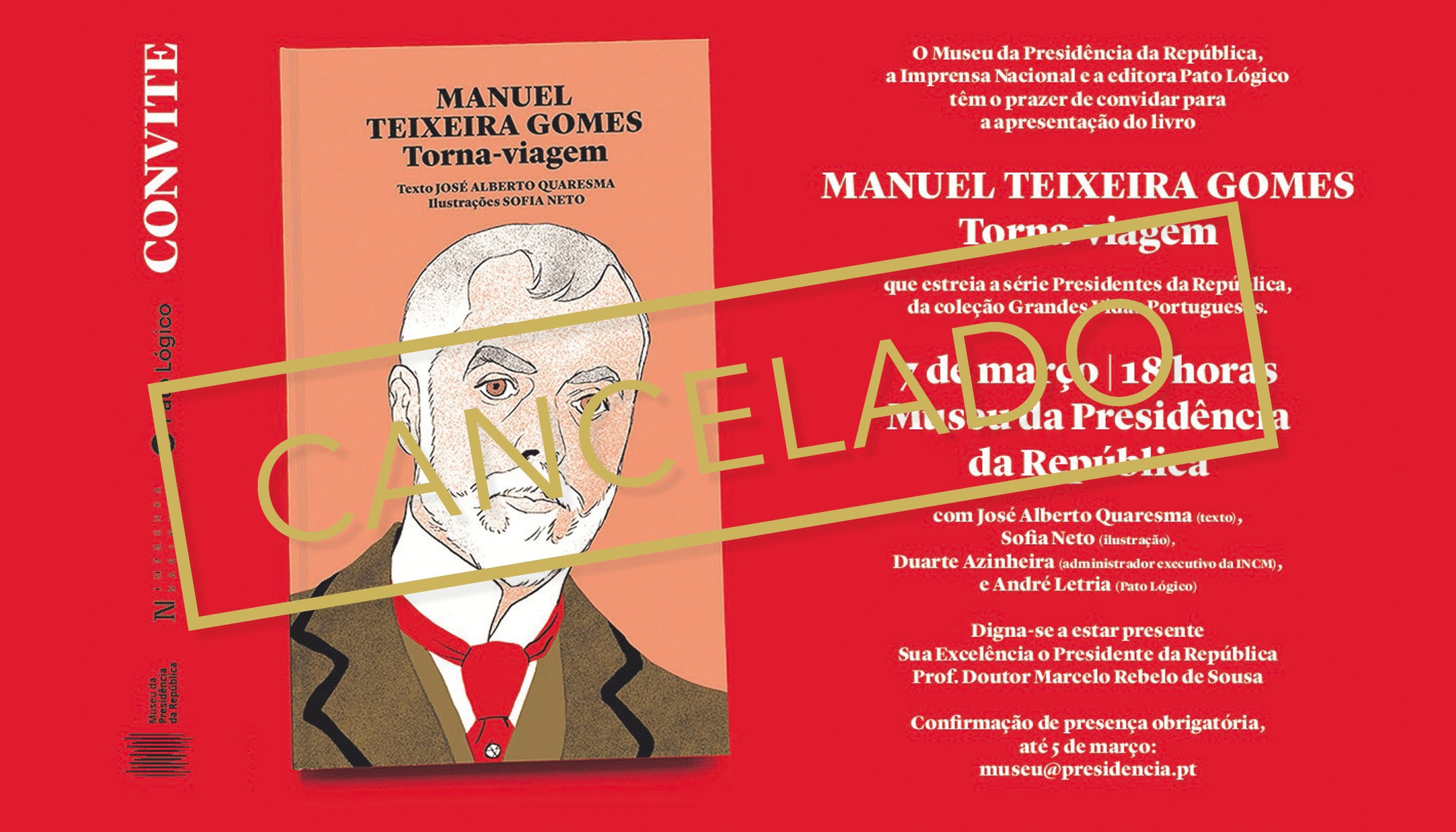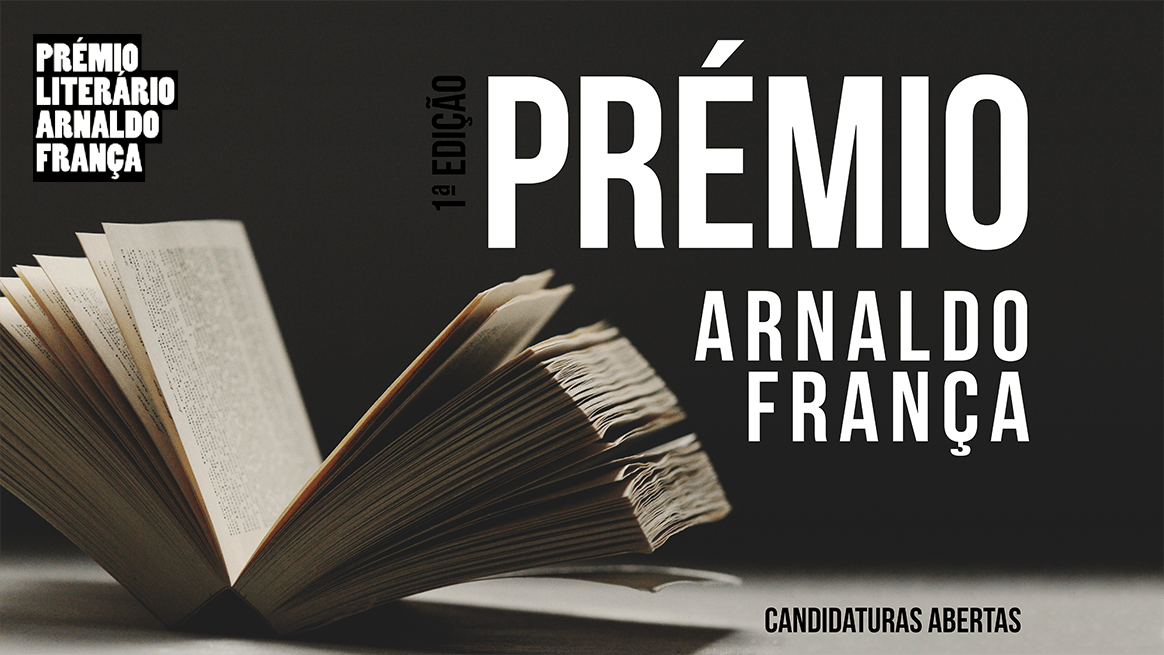«Entre nós, tem-se hoje medo da linguagem límpida e transparente, que se teme seja tomada por ‘simplória’. De aí os contorcionismos complicados que passam por pensamento profundo e inacessível. E logo nos apetece atirar-lhes ao rosto com as palavras do clássico que António Sérgio gostava de citar: ‘porque vendem a sua ignorância por mistério, e como ninguém quer mostrar que ignora o que o outro mostra que sabe, fica-lhes mais perto aprovar a parvoíce alheia que descobrir a própria.’ O nosso político sofisticado ou intelectual bem faisandé fogem da linguagem clara como da peste e substituem a profundidade ou subtileza do pensamento, que não possuem, pelo compacto pretensioso da escrita, que não dominam. Psicólogo ferinamente arguto dos alçapões da mente humana, Nietzsche observava já que ‘aquele que sabe que é profundo esforça-se por ser claro; o que o quer parecer diante das turbas, esse procura a obscuridade.’ É-se complicado por incapacidade de se ser complexo. […]
Assassinato, portanto, da clareza de pensar, de observar e de apreciar. Assassinato. Mas então, digo eu, trata-se de um crime que tem vindo a cometer-se com uma lentidão perfeitamente lúgubre: há bem pelo menos seiscentos anos que ele dura. Nós queixamo‑nos com ênfase: estão a assassinar o Português! Mas o rei D. Duarte também já era dessa opinião; tanto, que se preocupava com arranjar receitas de bem escrever que impedissem os seus contemporâneos de assassinarem o português. No Leal Conselheiro, por exemplo, aconselha a ‘que escreva coisas de boa substância claramente, para se bem entender, e formoso o mais que ele puder, e curtamente quando for necessário (…)’. Pede também ‘que não ponha palavras que, segundo o nosso costume de falar, sejam havidas por deshonestas’.» […]
(…) o apocalipse que hoje se anuncia como pendente sobre a língua portuguesa é apenas mais um de entre vários apocalipses periódicos que ao longo dos anos os nossos alarmados puristas têm vindo a anunciar como sendo, todos eles, decididamente terminais…* A morte de uma língua é um pouco como a morte de um romance — um tema com que se costumam entreter os especialistas, que gostam de a anunciar e lhe analisar, eruditamente, as causas e os efeitos. O romance, no entanto, vai sobrevivendo à sua anunciada extinção. A língua também. Os anjos anunciadores é que são passageiros e vão tendo que se substituir uns aos outros, a bem da persistência do tema. (…)
Dito o que acima dissemos, resta-nos acrescentar que achamos realmente preocupante, neste momento que atravessamos (deixemos em paz o passado e o futuro), o acelerado da erosão. O remergulho periódico na nossa paróquia linguística estonteia-nos. O ‘invasor’ brasileiro substituiu o francês de outros tempos, com a agravante de que a abundância e a rapidez dos meios de comunicação agravam a intensidade do assalto. Não que pugnemos por uma conservação rígida da língua. Na prática da escrita, mesmo (mesmo, porquê?) ensaística, a reinvenção da língua, a criação de termos novos e de formas novas parecem-nos de obrigação. Não há como fugir-lhes. Mas parece-nos também que um certo equilíbrio entre o que se conserva e o que se acrescenta é igualmente necessário. O ponto em que esse equilíbrio vai estabelecer-se é que é o nó do problema. João de Araújo Correia sugere esta regra de ouro: ‘Não concebas neologismos inúteis. Podes morrer de parto.’ A palavra-chave, nesta norma, é o adjetivo ‘inúteis’. Há neologismos que são mais do que úteis, são indispensáveis para mantermos a língua em movimento. Mas a proliferação anárquica e cancerosa do neologismo desnecessário e inoperante pode levar a língua para descaminhos que nos façam pensar no que disse Breton, embora com intenção diferente do que aqui lhe damos: ‘A linguagem foi dada ao homem para que ele faça dela um uso surrealista.’
Antes de terminar, gostaria de sublinhar uma vez mais um ponto a que já anteriormente aludi e me parece mais importante até do que a importação de estrangeirismos ou qualquer eventual heresia gramatical. Refiro-me à sinceridade linguística, se assim lhe podemos chamar: nos contorcionismos, no entupimento de colarinhos engomados, naquilo a que Sérgio chamava ‘frenéticos caprichos deliriosos de fantasmagórica anarquia’, nessa prosa pretensiosa e nebulosa que hoje abunda e se eriça nas páginas dos nossos jornais, revistas e livros, estão os sintomas, quanto a nós, de uma falta de integridade intelectual que claramente nos assusta.
Mas, em suma, e para voltarmos ao nosso discurso, fico-me com Correia Garção e com ele, repetindo-o, eu fecho:
Mudam-se os tempos, mudam-se os costumes
Camões dizia imigo; eu, inimigo.
O ponto está em que ambos expliquemos
Aquilo que pensamos (…)
Londres, Abril de 1981»
* Eugénio Lisboa refere-se aqui a autores cujas posições públicas cita uns parágrafos mais atrás, como José Ferreira de Vasconcelos, D. António Pinheiro, bispo de Leiria (séc. XVI); Duarte Nunes de Leão, Rodrigues Lobo (séc. XVII); Correia Garção (séc. XVIII); Francisco Manuel do Nascimento (Filinto Elísio), José Agostinho de Macedo, Frei Francisco de São Luís (sécs. XVIII-XIX); mas também António Feliciano de Castilho, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental (séc. XIX); Ramalho Ortigão, Cândido de Figueiredo (sécs. XIX-XX); e Afonso Lopes Vieira (séc. XX).
Eugénio Lisboa, «Mudam-se os Tempos, Mudam-se os Costumes»,
in Estão a Assassinar o Português! 17 Depoimentos.
Coleção «Temas Portugueses», Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983