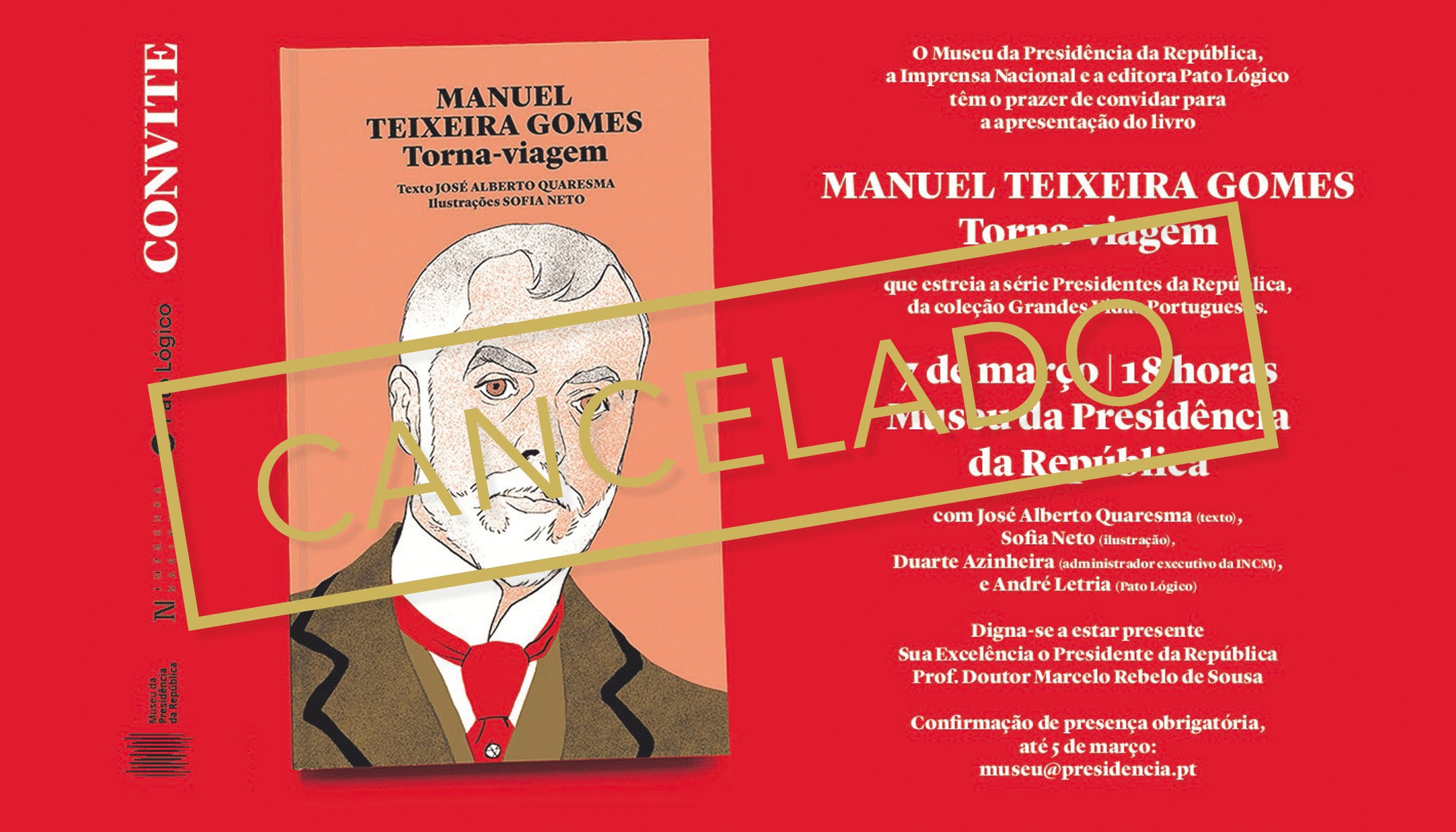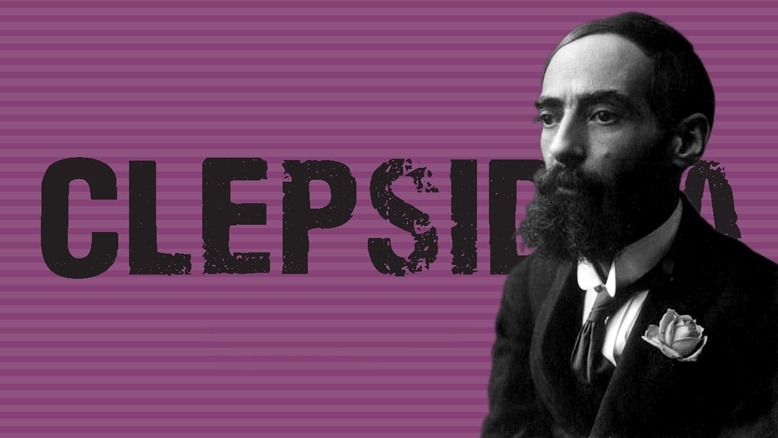(continuação da 1.ª parte)
MOMENTOS-CHAVE DA LITERATURA PORTUGUESA
Prelo (P) — Existe uma época de ouro da literatura portuguesa?
Carlos Reis (CR) — Existem duas ou três. Depende daquilo que estivermos a falar. A expressão tem muito que ver também com a expressão consagrada do século de ouro da literatura espanhola. A meu ver, a nossa poesia tem dois séculos de ouro: o século XVI e o século XX. É lá que estão figuras como Camões e Fernando Pessoa e outras mais. A nossa ficção em prosa tem um século de ouro que é o século XIX, onde estão o Eça, o Garrett, o Camilo… Estas coisas nem sempre são fáceis, sendo que o século XIX é a meu ver o grande século da ficção narrativa mas está lá um grande poeta chamado Cesário Verde. Isto não é absoluto. O século XX é o grande século da poesia portuguesa — está lá o Pessoa, Carlos de Oliveira, Sophia de Mello Breyner, estão muitos outros que agora não refiro para não cometer nenhuma injustiça – mas está lá também [José] Saramago, está lá o [António] Lobo Antunes… Estas coisas são sempre muito relativas mas servem como imagens fortes para acentuar dominantes em certos tempos históricos.
A LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA
P — E o século XXI? O que acha que vem aí?
CR — O século XXI já tem 15 anos, já é adolescente mas ainda não chegou à maioridade. A meu ver, ainda vive muito de escritores do século XX, alguns que já citei e outros: Lídia Jorge, Mário Cláudio, Mário de Carvalho e o José Cardoso Pires, que ainda morreu no século XX mas que devemos continuar a ler. No século XXI, há toda uma geração de gente jovem que eu não vou agora mencionar para não cometer injustiças. Penso que a Literatura Portuguesa está de boa saúde e recomenda-se.
P — Consegue descortinar algum futuro Eça nesta nossa nova geração?
CR — [risos] Gostava de falar não da nova geração, mas sim de escritores que estão aí e de livros que estão aí. É uma questão de tempo e de um certo distanciamento também. Se quisermos fazer história cultural, social e política do século XIX não podemos passar sem o Eça, não é um historiador mas está lá muita coisa. Costumo dizer que se quisermos fazer história social, cultural, política e mental do fim do século XX e princípio do século XXI, não podemos de deixar de ler [António] Lobo Antunes, por exemplo.
P — A questão da guerra colonial…
CR — Da guerra colonial, do período pós-colonial, da descolonização… Não podemos deixar de ler, por exemplo, o olhar extraordinariamente ácido, irónico e sarcástico do Mário de Carvalho, não podemos deixar de ler a forma como a Lídia Jorge observa a questão da memória, da memória mais recente, a questão da mulher… A Agustina [Bessa‑Luís] é fundamental para entendermos a forma como depois de 1974 se passou a viver, do ponto de vista das mentalidades. Há certos escritores que dão esse testemunho. Não o darão no estilo do Eça porque cada época tem o seu estilo.
O ESTUDO DO ESPÓLIO DE EÇA DE QUEIRÓS
P — Com a sua colega Maria Rosário Milheiro trouxe a lume A Construção da Narrativa Queirosiana — O Espólio de Eça de Queirós. Qual é que foi a grande revelação que obteve deste estudo?
CR — Esse estudo caiu-me no colo quase por acaso, aqueles acasos que mudam ou condicionam muito a nossa vida. Para contar rapidamente a história, o Estado tinha incorporado nos fundos da Biblioteca Nacional o espólio de Eça de Queirós, que tinha sido disponibilizado para esse efeito pela família. Então, o diretor ou presidente do Instituto Português do Livro, o meu saudoso amigo António Alçada Baptista, propôs-me fazer um estudo do espólio de Eça de Queirós, coisa que me deixou, ao princípio, completamente perplexo: foi a maior oferta que alguma vez fizeram na minha vida, não os papéis mas a possibilidade de os estudar!
P — Estamos a falar de quantos documentos?
CR — Estamos a falar de mais de uma centena de documentos, estamos a falar de muitos manuscritos que já estavam publicados: os d’A Capital, do Alves & Companhia, estavam lá. Estamos a falar também de muitos papéis que eram rascunhos, listas de palavras, listas de personagens: os papéis da oficina de um escritor. Nessa altura, ainda não se falava disso em Portugal – estamos a falar dos fins dos anos 70, inícios dos anos 80 — mas aquilo que estava em causa era a crítica genética – que é um ramo autónomo, não é exatamente a crítica textual — que podia facultar maneiras de nós tentarmos perceber como é que o Eça escrevia narrativas. Entrar no laboratório do escritor. Entrar na sua oficina de trabalho. E foi isso que eu tentei fazer com essa minha colega.
P — E descobriu?
CR — Há algumas explicações no livro. Se estão certas ou erradas não sei, mas há algumas explicações. Por exemplo, a função que desempenhava uma lista de cinco personagens que Eça fez antes de tentar escrever uma novela que, de resto, acabou por não escrever. Outro exemplo: quando estava a escrever supostamente A Ilustre Casa de Ramires, munido de um léxico ao lado, fez uma lista por ordem alfabética de palavras medievais, «alcáçova», por exemplo. Foram, digamos, estes métodos e rotinas de trabalho que nós procurámos perceber nesse livro. Por sugestão do meu grande mestre Ernesto Guerra da Cal entendemos também que só devíamos avançar para a edição crítica do Eça, depois de conhecermos bem a oficina de trabalho do escritor.
A PROSA DE EÇA NÃO ENVELHECE
P — «Então, perante este Céu onde os escravos eram mais gloriosamente acolhidos que os doutores, destracei a capa, também me sentei num degrau, quase aos pés de Antero que improvisava, a escutar, num enlevo, como um discípulo. E para sempre assim me conservei na vida.» Escreveu Eça de Queirós em Um Génio que era um Santo. O Carlos Reis, outrora estudante, agora catedrático de Coimbra, senta-se aos pés de Eça, como um discípulo?
CR — Não tenho, infelizmente, dimensão para isso. Gostava de ter, mas não tenho. O Eça escreveu esse texto muito tempo depois de ter vivido isso. O Eça viveu isto no princípio dos anos 60 e escreveu acerca disso em meados dos anos 90, passados mais de 30 anos. Escreveu isso para um amigo que se tinha suicidado, o Antero de Quental, e construiu também uma imagem do Antero, que provavelmente era uma imagem literária e ficcional. O Eça, em 1896, quando esse texto foi publicado, era já um escritor incomparavelmente mais destacado de que o Antero. Mas nessa época o Eça ficou fascinado com a capacidade de liderança que o Antero tinha. Eu gostaria muito de escrever como o Eça, mas não sei. Agora, sou discípulo constante do Eça no sentido em que encontro, a cada momento, a cada passo, resposta para aquilo que são as inquietudes, as dificuldades, as crises da nossa vida pública — como se fosse necessário lermos o Eça com muita atenção para não cometer erros que no tempo do Eça se cometeram.
P — Para si, onde é que reside a genialidade de Eça de Queirós?
CR — Vou dizer uma expressão que vai parecer banal, em que retomo uma coisa que ouvi dizer uma vez ao Professor Eduardo Lourenço. Primeiro que tudo, é a graça do Eça. O Eça escreve com graça, é agradável. Mas não é só a graça do ponto de vista de ter piada, é a ironia, é o olhar às vezes desencantado perante a vida, é a grande inteligência para perceber as coisas que muitos outros, na época, não tinham, não percebiam. De resto, costumo sugerir que façam a contraprova: vamos ler um texto do Eça e depois vamos ler um texto dos contemporâneos, por exemplo, do Abel Botelho ou do Teixeira de Queirós. Essa prosa é uma prosa que envelheceu e a prosa do Eça não envelheceu.
P — Continua com o mesmo fascínio por Eça de Queirós como aquele que tinha aos 14 anos, quando leu A Capital? Eça ainda o surpreende?
CR — Completamente. Eça ainda me surpreende. Ainda há pouco tempo, fiz com duas colegas a edição crítica de A Correspondência de Fradique Mendes. Para se fazer uma edição crítica tem de se ler o texto palavra a palavra e somos surpreendidos com a pertinência de uma vírgula, pela razão de ser da mudança de um adjetivo…
UMA QUESTÃO DE «POSE»
P — No final d’Os Maias podemos ler: «(…) Depois Carlos, outra vez sério, deu a sua teoria da vida, a teoria definitiva que ele deduzira da experiência e que agora o governava. Era o fatalismo muçulmano. Nada desejar e nada recear… Não se abandonar a uma esperança — nem a um desapontamento. Tudo aceitar, o que vem e o que foge, com a tranquilidade com que se acolhem as naturais mudanças de dias agrestes e de dias suaves. E, nesta palidez, deixar esse pedaço de matéria organizada, que se chama o Eu, ir-se deteriorando e decompondo até reentrar e se perder no infinito do Universo… Sobretudo não ter apetites. E, mais que tudo, não ter contrariedades (…).» Na sua opinião, isto é uma lição de um sábio? Ou de um vencido da vida?
CR — É uma lição de um vencido da vida. Sem dúvida! Não é por acaso que isso aparece no episódio final d’Os Maias, quando Carlos da Maia regressa a Lisboa e no tempo da história em 1887. Os Vencidos da Vida começam a reunir-se por volta de 1891/1892. Isso, portanto, é uma atitude de desencanto de alguém que viveu uma grande tragédia pessoal (a tragédia do incesto), de alguém que viveu o falhanço de uma carreira, que viveu o falhanço dos seus projetos e que, de certa forma, incorpora em si um país em decadência e que depois desiste… Apesar do extraordinário encanto com que isso é dito, é por essas e outras que há gente que critica o Eça e a sua visão às vezes um pouco derrotista da existência do país.
P — Se bem me lembro, logo de seguida, o Carlos e o João da Ega correm para o elétrico….
CR — Sim, sim, correm para o carro: o americano…
P — Isso quer dizer mais qualquer coisa?
CR — Quer dizer que tudo isso é uma pose, mas que enquanto estivermos vivos vamos ter de lutar pela vida. É inevitável! E esse Carlos da Maia nessa atitude blasée, cética, um pouco arrogante é já um pré-Fradique Mendes, que vai depois aprofundar esse tipo de atitude perante a vida, mas que no fundo nunca desiste de correr… nem que seja, com o desejo falhado de comer um prato de paio com ervilhas!
(continua)
TPR