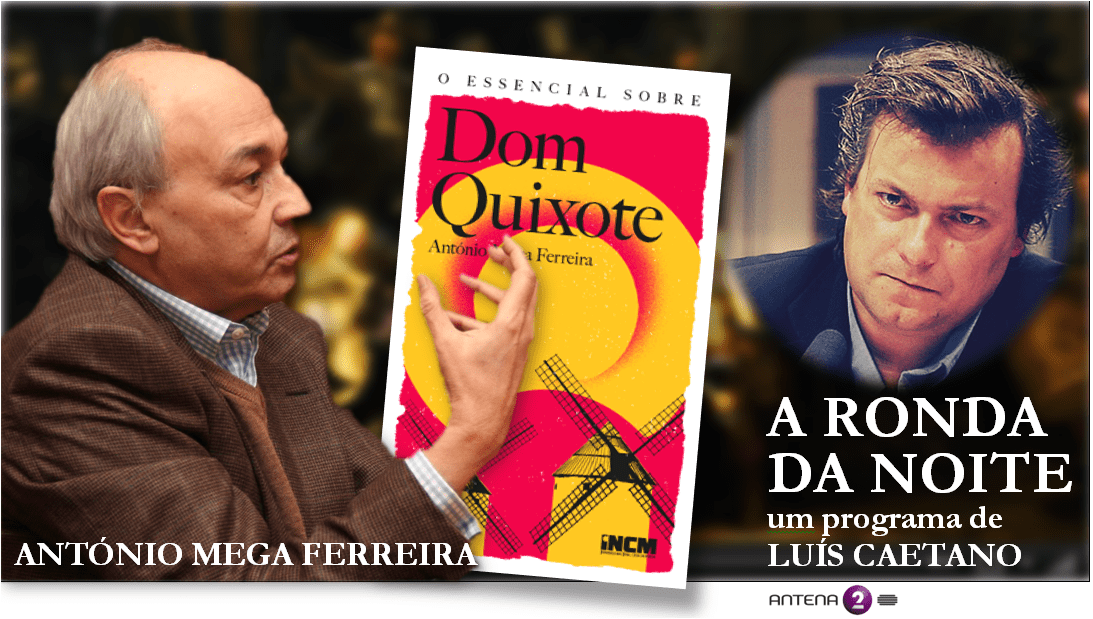«Quando ele nasceu, todos nós nascemos», disse Fernando Pessoa a propósito de António Nobre (1867-1900).
Poeta português do século XIX, António Pereira Nobre nasceu no Porto em 1867 e faleceu a 18 de março de 1900 na Foz do Douro, vítima de tuberculose.
De Verlaine António Nobre herdou o simbolismo francês e de Almeida Garrett o neogarretismo.
Apesar de morrer jovem, com apenas 33 anos, António Nobre deixou uma marca indelével na poesia nacional e uma referência obrigatória de toda a Literatura Portuguesa. Quem não conhece, por exemplo, o seu poema «Lusitânia no Bairro Latino»?
Em maio de 2001, a Imprensa Nacional dedicou-lhe um «Essencial Sobre», de autoria de José Carlos Seabra Pereira e no ano seguinte, em 2002, a editora pública publicou O Ritmo na Poesia de António Nobre, a tese de licenciatura em Filologia Românica que Luís Filipe Lindley Cintra apresentou à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1946.
António Nobre viveu como um enigma. Morreu faz hoje cem anos. Escreveu um dos livros maiores da literatura portuguesa, ‘‘Só’’. Há qualquer coisa de arrepiante nessa palavra tão curta a ocupar, isolada, toda a capa de um livro.
Quantos livros produziu a poesia portuguesa do século XIX que coubessem sem hesitação numa escolha exigente da literatura universal? Não mais do que dois ou três.
O ‘‘Livro de Cesário Verde’’, sem dúvida, e talvez os ‘‘Sonetos’’ de Antero. Se arrumarmos a ‘‘Clepsidra’’ de Pessanha no século XX, resta apenas o ‘‘Só’’, de António Nobre.
Cem anos decorridos sobre a morte do poeta – a 18 de Março de 1900 –, já não serão muitos os que lhe recusem lugar ao lado dos maiores. Mas se o reconhecimento começa a ser consensual, nem todos o admiram pelas mesmas razões. Alguns glorificam-lhe o saudosismo nostálgico, outros apreciam a paleta impressionista dos seus retratos do Portugal provinciano, agrário e piscatório; uns sublinham a força inovadora do seu tom coloquial e dos seus versos recheados de nomes próprios, outros preferem ver nele o poeta maldito, ostentando o seu provocatório narcisismo na pátria parisiense do ‘‘mal de vivre’’ finissecular.
Mas talvez a prova mais segura da perenidade de Nobre seja, afinal, o modo como a sua lição foi sendo reinventada por poetas posteriores, numa linha nem sempre fácil de rastrear, mas que, passando certamente por Vitorino Nemésio e Pedro Homem de Mello, é ainda visível em autores só recentemente revelados, como Jorge Gomes Miranda. Todavia, há pouco mais de vinte anos, Alexandre Pinheiro Torres ainda podia escrever, a propósito de Nobre, estas linhas indignadas: ‘‘em 1892 publica o ‘Só’, um dos maiores livros da literatura portuguesa, que continua, porém, a ser largamente incompreendido ou desvalorizado pela infinita cretinice dos juízes das letras nacionais’’.
E Vergílio Ferreira abre com estas palavras um texto publicado, em 1992, na Colóquio Letras: ‘‘Coitado do Lusíada. Toda a diferença é um estigma e há que pagar por isso o devido preço. Toda a qualidade é ofensiva e há que esperar, se possível, que ela se perdoe pela própria qualidade. Depois de cem anos de muita injúria, a diferença de Nobre ainda não está paga e ainda se lha não perdoou.’’
Talvez haja um certo exagero neste diagnóstico. Por um lado, os leitores de Nobre nunca cessaram de engrossar, como o confirmam as sucessivas edições do ‘‘Só’’, que se contam já por dezenas. E se a publicação do livro originou, à data, paródias e escárnios, não foi preciso esperar muitos anos para que lhe prestassem a devida homenagem dois especialistas na arte de serem incompreendidos pelo seu próprio tempo: Pessoa e Sá-Carneiro. Sobretudo o segundo, que lha prestou indirectamente em muitos dos seus próprios versos, e expressamente no poema a que deu o título de ‘‘Anto’’.
Pessoa, esse, escreveu: ‘‘De António Nobre partem todas as palavras com sentido lusitano que de então para cá têm sido pronunciadas’’. Mas neste elogio, como em tudo o resto que escreveu sobre o poeta, pressente-se a sua incompreensão dos mais profundos contributos de Nobre para a renovação da linguagem poética portuguesa. Nos seus breves 32 anos de vida, António Nobre escreveu o ‘‘Só’’ – ainda viu sair a segunda edição revista, em 1898 – e deixou inéditos um considerável número de poemas, postumamente publicados em ‘‘Despedidas’’ (1902), cuja edição original foi prefaciada por Sampaio Bruno, ‘‘Primeiros Versos’’ (1921) e ‘‘Alicerces’’ (1983).
Nobre começou a escrever muito novo. Os seus primeiros poemas datam, tanto quanto se sabe, dos 14 anos. E nada há, nessa produção juvenil, que traia uma especial disposição para a tristeza ou a melancolia. Em Fevereiro de 1885, com 17 anos, dirige mesmo a um amigo estas salutares recomendações: ‘‘aconselho-te a leitura das obras modernas, daquelas que não levam às idealizações metafísicas do romantismo; mas sim às que nos dominam por meio de sentimentos novos, que são a sinceridade, a alegria, a honestidade, enfim, todos aqueles que resultam duma alma bem formada, e dum organismo rijo, forte, sadio’’. A nós, que já fomos espreitar o fim da história, só pode comover-nos a confiança viril destas palavras. Sete anos mais tarde, em Abril de 1892, publica o ‘‘Só’’.
Há qualquer coisa de arrepiante nessa palavra tão curta a ocupar, isolada, toda a capa de um livro. Mais do que um título, soa como uma divisa, equiparável, na sua poderosa brevidade, ao célebre ‘‘Désir’’ do malogrado D. Pedro. O jovem poeta, embora não suspeite da terrível doença que o destino lhe reserva, introduz o volume com este aviso à navegação, expresso nos versos finais de ‘‘Memória’’: ‘‘… tende cautela, não vos faça mal / Que é o livro mais triste que há em Portugal!’’ Os primeiros sintomas da tuberculose chegam nesse mesmo ano. Sentido-se ‘‘muito abatido’’, consulta um médico parisiense, que apenas lhe encontra uma forte anemia e lhe receita pílulas de ferro, vinho Delalonëe e pulverizações com ‘‘Eaux-bonnes’’.
Mas três anos mais tarde, Nobre está já a dar entrada no reputado sanatório suíço de Davos-Platz. É a primeira etapa de uma longa e penosa peregrinação, a que só a morte irá pôr termo. Mas voltemos ao início, a esse ‘‘menino António’’ que, segundo reza um bilhete manuscrito por seu pai, ‘‘nasceu em 16 de Agosto de 1867’’ num prédio do centro do Porto. Filho de um comerciante enriquecido no Brasil, Nobre frequenta bons colégios, alternando os estudos com temporadas nas propriedades rurais da família. E quando os pais se mudam para Leça, uma praia próxima do Porto frequentada pela colónia britânica, descobre o fascínio do mar – esse ‘‘Prof. Oceano’’ referido em ‘‘Carta a Manoel’’ – e, também, as loiras raparigas inglesas, com destaque para Miss Charlote, uma jovem preceptora com quem se corresponde durante dois anos.
É ela que lhe encurta o nome para ‘‘Anto’’, diminutivo que o poeta assumirá e que evoca nos ‘‘Males de Anto’’, título do poema que encerra o ‘‘Só’’. Conhecendo a vida de Nobre, é difícil não ler os ‘‘Males de Anto’’ como a pungente autobiografia de um poeta amaldiçoado. Mas quando escreveu o poema era ainda um jovem e saudável estudante da Universidade de Coimbra. E é consciente dessa perversa ironia que, pouco antes de morrer, faz notar em carta a um amigo: ‘‘Deus castigou-me. Quando era feliz e apenas tinha arranhaduras dos 19 anos, escrevia os Males de Anto, exagerando tudo. Agora é que eu os sinto, depois de os ter expresso em literatura.’’