Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
Ofélia Paiva Monteiro em entrevista — «A Literatura é um elemento perturbador»
Texto: Tânia Pinto Ribeiro
Fotografias: Rita Assis Santos
Nasceu no Porto, em 1935, numa família «normalíssima da burguesia». A infância foi despreocupada entre livros e brincadeiras, muitas das quais com a cumplicidade da sua irmã. Desses tempos, recorda o entusiasmo com que leu Júlio Verne. Inteiro e a eito. No final do liceu, o mundo da pequena Ofélia estremece: a morte prematura do pai traz à família «complicações várias» que viriam a refletir-se «forçosamente» no seu percurso académico. Chegou depois o tempo das hesitações. As Ciências ou as Humanidades? Aí, valeram-lhe as «excelentes professoras» do Liceu Carolina Michaëlis que, além das matérias escolares, lhe deram a visão e a postura de abertura para o mundo. Afinal, «a presença humana de um bom professor exerce uma influência muito grande sobre os discípulos». E aos 16 anos a jovem Ofélia já sabia muito bem o que queria: ir para Coimbra estudar Filologia Românica — «no Porto, naquela altura, não havia Faculdade de Letras» — frequentar atividades culturais, ver ballet e ouvir música clássica. Animava-a a liberdade. Aluna brilhante e aplicada licenciou-se na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra com uma tese sobre D. Francisco Xavier de Menezes, «uma figura um tanto obscura do século XVIII». Foi o passaporte de que precisava para começar a lecionar Literatura na faculdade, sendo assistente do Prof. Costa Pimpão. Estávamos em 1959. Dez anos antes, Simone de Beauvoir publicara o seu ensaio feminista Le deuxième sexe. Na Faculdade de Coimbra e em tempos de Estado Novo «ainda não era muito comum» uma mulher nos comandos da sala de aula. Mas Ofélia nunca notou que houvesse, pela circunstância de ser mulher, qualquer obstrução à sua carreira. «A não ser em lugares institucionais.» De lá para cá as coisas mudaram. E muito. «Hoje, penso que na Universidade a situação de mulheres e homens é mais ou menos paritária.» Também a Literatura mudou, enveredando «por uma busca muito extensiva de criatividade, de formas inéditas de se dizer as coisas». Em 1972, seguiu-se-lhe o doutoramento que tentou conciliar com a meninice dos seus dois filhos. Passou-o com louvor e distinção. Mais uma vez valeu-lhe a ajuda de «um marido conciliador» que percebeu sempre as exigências da sua vida profissional. Entretanto, na estrada que foi palmilhando, a vida foi‑lhe bastante sequente. «Não sou uma pessoa muito corajosa no campo das realizações existenciais. Também não sou rotineira, nem procuro ser. Também nunca fui ambiciosa. A ordem natural das coisas foi-me inclinando para o exercício da docência.» Um exercício amplo e plural. Dar aulas é, afinal, «apenas uma dimensão de se ser professor». E, ao longo de mais de 40 anos de docência, a jovem Ofélia passou a ser a Professora Ofélia Paiva Monteiro: a intelectual empenhada que descobre e repensa Garrett; a investigadora que também é editora crítica; a ensaísta notável várias vezes premiada; a matriarca ao serviço dos estudos literários portugueses (e também franceses); a agitadora de pensamentos e debates na aula; a professora de referência, agora jubilada, que inflamou o coração de gerações e gerações de alunos, muitos deles notabilíssimos, que lhe continuam a admirar a garra, o discernimento, a competência, o inexcedível domínio da língua, a humanidade e a humildade e também o seu romantismo, sempre presente nas entrelinhas. Como aquele de quando fala da cidade que deixou para trás há mais de 60 anos: «Se me perguntar com que cidade me identifico, essa cidade é o Porto (…) alguma coisa me relaciona com a cidade… aquelas ruas, a presença do granito, os azulejos, aqueles ambientes.» Ofélia Paiva Monteiro é «em primeiro lugar tripeira». Mas foi em sua casa, na Coimbra que a acolheu e adotou, com o não menos romântico Mondego aos pés, que Ofélia Paiva Monteiro, a maior garrettiana da atualidade, nos recebeu. As folhas ainda não caíam e era verão no calendário. Íamos só para falar de Garrett. E falámos. Se não fosse o horário impiedoso do comboio de regresso a Lisboa, continuaríamos… E havemos de continuar.
PRELO (P) — Ofélia é um nome muito literário. O seu percurso foi destinado logo no berço?
OFÉLIA PAIVA MONTEIRO (OPM) — Não muito. Sou em primeiro lugar tripeira. Nasci no Porto, numa família normalíssima da burguesia. Fiz todo o meu percurso primário e liceal na escola pública, no Porto. Só quando enveredei para as Letras é que tive que vir para Coimbra, uma vez que no Porto, naquela altura, não havia Faculdade de Letras. Tinha havido, mas depois tinha sido extinta. E, por conseguinte, querendo fazer-se Letras, era necessário optar por Coimbra ou Lisboa, e eu vim para Coimbra. Devo dizer que era aluna razoável, quer em Letras quer em Ciências, e hesitei muito. A minha primeira matrícula foi na área de Ciências. Só depois é que enveredei definitivamente pela área Humanística. Não foi propriamente um percurso marcado à nascença. Aliás, a minha família tinha tradição de leitura, através do meu pai, mas não académica. Não tinha propriamente uma predisposição para uma carreira na área universitária dos estudos humanísticos.
P — Que memórias guarda desses tempos de meninice?
OPM — Felizmente, boas memórias. Acho que tive uma boa escola, o que me parece importante em qualquer formação por que se passe. Frequentei um bom liceu, o Carolina Michaëlis; tive algumas más professoras, mas felizmente um número grande de bons professores e em particular na área da Literatura, que me ajudaram bastante. Tive uma infância despreocupada, entre livros e brincadeira, o normal. Fui uma criança razoavelmente feliz. Infelizmente, a adolescência foi perturbada pelo falecimento muito prematuro do meu pai, no final do liceu. Isso, claro, trouxe à minha família, que não era muito abonada, algumas complicações que se refletiram forçosamente em todo o percurso académico. Mas tive boas ajudas.
| Retrato de Ofélia Paiva Monteiro e da irmã junto à mãe, na casa da família nos arredores do Porto. |
P — E qual foi o detalhe que a fez enveredar pela Literatura e deixar as Ciências?
OPM — A leitura sempre me suscitou muito interesse, em criança. Li muito, o que era próprio da pequena infância e depois da infância mais avançada. Li muitos contos infantis, o Júlio Verne… Acho que li o Júlio Verne todo. Foi o meu primeiro clássico, e foi uma leitura muito entusiasta. Já numa fase posterior a ficção: gostei muito de passar por Júlio Dinis, por Eça, por Torga, que também li quando estava no liceu. Fazia-me falta essa componente. Hesitei muito porque gostava de matemática, de física. Eram ciências que me atraíam muito. Mas sentia que alguma coisa faltava nesse caminho. Depois acabei por optar por Filologia Românica (na altura chamava-se assim). Devo dizer que devo muito, nessa opção, às tais excelentes professoras que tive no liceu, além das matérias escolares, abriam o olhar para o mundo. A presença humana de um bom professor exerce uma influência muito grande sobre os discípulos. Sob a influência dessas professoras, comecei a frequentar atividades culturais, espetáculos de ballet, a ouvir música clássica.
 |
| Júlio Verne (1828-1905) é um aclamado escritor francês cuja obra foi das mais traduzidas em toda a história, com traduções em cerca de 150 línguas. |
P — Já na faculdade houve algum professor que a tenha marcado especialmente?
OPM — Talvez menos. Na faculdade também tive bons professores. Fui assistente do Dr. Costa Pimpão, que era uma sumidade em matérias medievais e do século XVI, mas muito orientado para a historiografia «dura». Era um tipo de ensino da Literatura que os professores de um modo geral praticavam. Estavam relativamente pouco focados no texto em si.
P — Faz parte de uma geração para a qual a História e a Literatura se constituíam como dominantes. Acha que essa componente ainda existe hoje em dia, para quem estuda Literatura?
OPM — Forçosamente, tem de existir um pouco. Um estudante de Literatura tem de entender que o texto literário se inscreve num tempo; está até certo ponto conformado pelo tempo em que é construído. Até mesmo pela circunstância de quem escreve. A História está sempre presente. Hoje já não com aquela dimensão que teve na minha formação: por vezes, o texto esquecia-se em função das circunstâncias do texto. Lembro‑me de se percorrer a figura de Camões e, a dada altura, debatia-se muito se Camões era de Coimbra, se era de Alenquer, quem era a amada de Camões… Andávamos à volta do texto e não mergulhávamos nele, o que me fazia alguma impressão.
P — O seu trabalho de pesquisa de recolha e de teoria da obra de Garrett é imenso. É hoje considerada a maior especialista em Garrett em Portugal. Como é que chegou até ele?
OPM — O facto de ter enveredado por Garrett também tem o seu circunstancialismo. A figura era sedutora para mim. Além da fase liceal, comecei a contactar com Garrett através dos grandes textos. Eu era do Porto e Garrett também era do Porto. O vulto de Garrett era-me simpático. A minha decisiva escolha de Garrett, como matéria de investigação, teve muito a ver com a minha própria situação universitária. Entretanto, tinha casado, tinha tido filhos, que na altura do doutoramento eram muito pequeninos, a minha família era escassa e radicada no Porto, não tinha grandes ajudas. O facto de Coimbra ser o grande centro garrettiano no nosso país fez-me pensar que, estudando Garrett, reuniria uma parte que me era sedutora e, ao mesmo tempo, a utilidade de estar in loco, no local garrettiano por excelência que é Coimbra, com circunstâncias muito especiais para quem se dedique ao seu estudo.
P — Que circunstâncias eram essas?
OPM — O facto de o espólio — o conjunto da documentação que se reuniu à volta de Garrett, na altura em que ele morreu — ter vindo parar à Biblioteca Geral da Universidade, por aquisição, depois de ter passado por vários possuidores. É um espólio enorme, riquíssimo. Estão lá não só as primeiras edições da obra publicada, mas estão também os «borrões» sucessivos das obras principais, estão inéditos, estão fragmentos que ele largou, umas vezes retomando-os outras vezes não, está a correspondência… É um imenso espólio que estava por explorar. E estava aqui em Coimbra. Além disso, um investigador «garrettófilo» (porque tinha uma verdadeira paixão por Garrett) que se chamava Henrique de Campos Ferreira Lima, que foi quem fez o inventário desse enorme espólio para a Biblioteca Geral, ao falecer, quis doar a sua biblioteca à Faculdade de Letras — uma biblioteca que tem manuscritos de Garrett, uma enorme coleção de publicações do século XIX do tempo de Garrett e não só. Chegou-nos essa grande biblioteca por doação à Faculdade de Letras, através da filha. De maneira que eu tinha aqui, à minha disposição, os grandes acervos documentais para trabalhar sobre Garrett.
P — Estamos a falar aproximadamente de quantos documentos?
OPM — Ai, são milhares! Na altura, quando preparei o meu doutoramento, não dispunha de fotocopiadoras, e muito menos de computadores, que hoje facilitam muito o trabalho de investigação. Praticamente copiei à mão, não direi a totalidade do espólio, mas uma boa parte. Tive de ler, retirar notas e copiar pela minha mão esses documentos. Foi um esforço muito grande e que demorou muito tempo, claro.
P — E qual foi o resultado final do seu trabalho de doutoramento?
OPM — Sem falsa modéstia, foi ter conseguido trazer à tona aspetos da criação garrettiana que tinham sido esquecidos, que eram desconhecidos, de que se não falava porque, pura e simplesmente, se desconheciam. A minha tese de doutoramento não é sobre a totalidade da obra de Garrett, mas incide sobre a obra até ao regresso definitivo do exílio. Parei em cerca de 1830 e tal, quando Garrett, após a sua experiência de diplomata na Bélgica, regressou definitivamente ao País e não voltou a sair.
P — Lembra-se da sua nota?
OPM — Na altura… foi [pausa]…
P — Foi a máxima!
OPM — Foi [risos].
P — Curiosamente, a sua dissertação de licenciatura não é sobre Garrett mas sim sobre D. Francisco Xavier de Menezes.
OPM — A minha tese de licenciatura não foi sobre Garrett [pausa]… ainda. Foi sobre uma figura um tanto obscura: D. Francisco Xavier de Menezes, 4.º Conde da Ericeira. E porquê? Porque também ele era uma figura desconhecida, embora dela se falasse sempre com apreço.
P — Que figura era esta?
OPM — Foi um homem que no século XVIII incentivou muito a renovação cultural do nosso país. Foi um dos primeiros apóstolos, se assim posso dizer, da renovação ideológico-científica e também literária, no sentido das Luzes. Foi isso que me interessou em D. Francisco Xavier de Menezes. Tive de trabalhar muito e passar por muitas bibliotecas, por muitos fundos manuscritos.
P — Também nunca deixou de visitar outros nomes da nossa literatura.
OPM — Passada a fase de D. Francisco Xavier de Menezes, voltei a trabalhar muito sobre o século XVIII. Trabalhei Bocage, Filinto Elísio, mas não foi uma área prioritária. Consagrei-me bastante a Eça de Queirós. Sobre ele fiz vários estudos.
P — E também visitou nomes da Literatura Francesa. Que nomes são esses?
OPM — É verdade. Na área da Literatura Francesa também percorri muitos autores porque ensinei Literatura Francesa durante muito tempo, abrangendo um período largo da história da Literatura Francesa. Trabalhei sobre os clássicos do século XVII, do tempo de Luís XIV, os clássicos do teatro: Corneille, Racine, Molière. Depois, passei pela ficção com Madame de La Fayette. Do século XIX ensinei Stendhal, Balzac. Ainda do século XVIII, Voltaire e todos aqueles nomes associados às Luzes como Jean-Jacques Rousseau – passei muito tempo à volta de Rousseau! La nouvelle Héloïse, Les confessions, Les rêveries du promeneur solitaire foram textos sobre os quais me debrucei bastante. Esta era uma época que me interessava muito pela mudança de mentalidade e pela própria escrita. O conto filosófico de Voltaire é uma delícia! Depois, ensinei também André Gide — autor sobre o qual fiz a lição do concurso para professora extraordinária — Malraux, Camus. Dediquei-me também aos poetas, como Baudelaire, por exemplo.
 |
| Henri-Marie Beyle, mais conhecido como Stendhal, retratado por Olof Johan Södermark, 1840 |
P — Dos franceses, tem algum preferido?
OPM — Talvez um dos preferidos seja Stendhal com o Le rouge et le noir, a La chartreuse de Parme… Fiz cursos vários sobre Stendhal e gostei muito.
P — Iniciou a sua carreira profissional em 1959. Dez anos depois de Simone de Beauvoir publicar o seu ensaio existencialista e feminista Le deuxième sexe [O Segundo Sexo]. Como era ser uma mulher assistente na Universidade de Coimbra nesses anos?
OPM — Não era muito comum ainda. Hoje, penso que na Universidade a situação de mulheres e homens é mais ou menos paritária. Em determinadas Faculdades talvez sejam mesmo mais as mulheres do que os homens, como é o caso da Faculdade de Letras de Coimbra. Nunca notei que houvesse, pela circunstância de ser mulher, qualquer obstrução à minha carreira. A não ser, um pouco, em lugares institucionais, isto é, para chefiar uma secção, para ser representante junto dos órgãos académicos numa determinada área da Faculdade. Aí, sim, preferia-se a presença masculina à feminina.
P — Acha que essa «preferência» está superada, hoje em dia?
OPM — Sim, sim! Hoje, está completamente superada. Desapareceu essa fratura entre mulheres e homens.
P — Fez uma carreira brilhante, de reconhecimento público, e continua. É mãe, esposa, mulher. Qual é o segredo para se conciliar todas essas dimensões?
OPM — Não foi fácil. Não tive grandes ajudas familiares. Concentrei a meninice dos meus dois filhos com o meu doutoramento. Felizmente, tive um marido conciliador que percebia as exigências da minha vida profissional. Também sempre tive boas ajudas domésticas, não da família que não estava cá, mas de empregadas. Já estou como o Garrett, que fala sempre muito das criadas da sua infância que lhe transmitiam os romances, as chácaras, os contos… Esse fundo lendário e autóctone português! Eu tive, de facto, pessoas que me ajudaram muito na criação dos meus filhos, na parte material da educação dos rapazes. Mas reconheço que é difícil conciliar tudo. Se tivesse outras circunstâncias podia ter feito mais. Se não o fiz foi porque não tive hipóteses. O papel da estrutura familiar é importantíssimo! Estou reformada desde 1999 por razões familiares. Aí tive de abandonar a vida docente por completo. As mulheres são eternas cuidadoras e, a uma determinada altura da minha vida, a hierarquia dos valores colocou à minha frente esse papel.
P — Em Correspondência Familiar, numa das cartas que escreve à filha, Maria Adelaide, vemos o pai extremamente carinhoso mas sempre atento à época — «não te quero para doutora», escreve. Em Folhas Caídas questiona: «Mas que anjo és tu / Em nome de quem vieste / De Jeová ou Belzebu?». Como é que Garrett via o papel da mulher na sociedade?
OPM — Pois… esse é um aspeto interessante. Garrett conhecia as duas facetas da mulher. Conhece-se um pequeno núcleo de cartas à Viscondessa da Luz. Não se conhecem as respostas, mas consegue ver-se que era uma paixão violenta e muito sensual, sem dúvida.
P — Há até aquele famoso poema de Folhas Caídas «não te amo, quero-te»…
OPM — … «o amor vem da alma»…
P — … «e eu na alma tenho a calma»…
OPM — «…do jazigo»! [Risos] Exatamente! Essa senhora, a Viscondessa da Luz, era casada com um amigo de Garrett. Era uma andaluza. Estou convencida de que Garrett era um homem religioso, tinha uma vivência religiosa relativamente intensa. Não muito canónica, mas intensa. Garrett sentia-se mal com ele próprio relativamente à forma como essa paixão era vivida. Era um amor que lhe consumia a substância interior. Garrett não saía dessa vivência passional, tão intensa, com absoluta tranquilidade de alma. «Esse inferno de amar como eu amo» [Folhas Caídas]. Garrett sentia-se despossuído de si próprio, com aquele amor tão intenso que nutria por aquela mulher. Era um amor necessariamente furtivo, que não se podia realizar claramente à luz do dia por ser um amor adúltero. Era um amor que se alimentava de encontros fortuitos, escondidos, aqui e acolá. Tudo isso angustiava muito Garrett.
P — E como é que a Professora Ofélia foi vendo, com o passar dos anos, a evolução do ensino e da própria Instituição da Universidade de Coimbra?
OPM — De um modo geral, e felizmente, os alunos interessavam-se pelas matérias ensinadas. Não tive grandes problemas nesse capítulo. Embora fossem muito pouco criativos, por vezes. Isto é, reproduziam muito a matéria ensinada.
P — Falta de reflexão?
OPM — Falta de reflexão, falta de dinamismo, falta, também, na Universidade mais antiga, de um certo estímulo à criação individual. Com o 25 de Abril tentou-se, e vai-se tentando ainda mais agora, motivar o aluno a fazer uma investigação mais personalizada através de trabalhos, de pequenos ensaios, de dissertações. Mas, na velha universidade, era muito pequena a percentagem dos alunos que terminavam com uma dissertação a sua carreira académica; antes, havia ainda o exame de Licenciatura. E tudo isto era um percurso muito difícil de superar. Mas desenvolveu-se muito este critério de propor ao aluno que tivesse iniciativa na sua própria investigação. Agora, a nossa Faculdade de Letras enveredou por uma organização curricular que dá uma grande liberdade ao aluno. De certa forma, o aluno pode compor a sua própria estrutura curricular.
P — Está a falar da reforma pedagógica de Bolonha?
OPM — Exato, é isso. Hoje, o aluno, para obter uma licenciatura em uma determinada área, tem de ter um certo número de unidades letivas obrigatórias. Depois o leque que conclui o rol das unidades disciplinares a frequentar é, em larga medida, da escolha pessoal do aluno.
P — E acha que esta reforma é positiva?
OPM — Talvez ainda seja demasiado cedo para se fazer a avaliação final. À primeira vista, parece que há aspetos positivos, na medida em que o aluno pode ir ao encontro dos seus gostos pessoais. Por exemplo, se quiser fazer estudos de cinema, ou de teatro ou de música… Por outro lado, há menor convergência de matérias. Dá ideia de que o risco é a dispersão, é a fragmentação. Mas de facto é um bocadinho cedo para se tirarem conclusões.
P — Das teses que foi arguindo e que acompanhou ao longo da sua carreira, há alguma que se recorde de ter tido um papel importante, que tenha dado um contributo significativo para o estudo da Literatura?
OPM — Passaram pela minha mão — isto é, acompanhei, ou estive em atos de conclusões de finais de ciclos — pessoas como os Doutores Aguiar e Silva e Carlos Reis. Ambos foram alunos marcantes. O Doutor Aguiar e Silva é, entre nós, o grande nome do lançamento da Teoria da Literatura. Aliás, a sua Teoria da Literatura é já um livro canónico. O Doutor Carlos Reis notabilizou-se nos estudos sobre a narrativa, dedicando‑se sobretudo à ficção de Eça de Queirós.
P — O professor de Literatura tem de ser em primeiro lugar um investigador de Literatura? Isto é, um profundo conhecedor dos mecanismos da(s) língua(s)?
OPM — Ajuda muito o trabalhar ao vivo. Por exemplo, quem trabalha numa edição crítica, como aquela que coordeno sobre Garrett, penetra na oficina do escritor, através do contacto ao vivo com manuscritos, com as correções sucessivas dos manuscritos… que permitem ver as hesitações, as opções feitas num dado sentido; daí conseguir-se penetrar muito no trabalho que é a escrita, que não é um ato que sai gratuitamente de uma iluminação criativa. Regra geral, há uma boa parte de trabalho de secretária à volta de um texto, mesmo quando esse texto pretende dar uma sugestão de espontaneidade, que é o caso de Garrett e das Viagens na Minha Terra. Parece que o livro sai de um jato, de uma escrita espontânea, e não é assim. Quem trabalha com os textos vê que não é assim. Tudo leva a ver que há um trabalho de montagem, um trabalho de organização interna, de coerência textual, que a investigação permite apreender com maior acuidade. E isso ajuda naturalmente o ensino.
P — E acha que é essa a realidade atual para os professores de Literatura?
OPM — Em relação aos tempos em que fui aluna, à universidade do meu tempo, penso que não. Hoje os alunos são convidados, são solicitados pelos professores, a penetrarem mais na fabricação dos textos. E isso é importante, acho eu, para se poder gozar o texto e descortinar os sub sentidos que ficam nas entrelinhas; para ver quais os vetores de orientação do texto. Isso ajuda muito no exercício da leitura.
P — Acaba de referir que coordena as edições críticas de Garrett editadas pela INCM. Quando é que começou a sua relação com a editora pública?
OPM — Escrevi um pequenino ensaio, do qual até gosto bastante, que é O Essencial sobre Almeida Garrett. Creio que no ano de 2001. E, entretanto, iniciou-se a Edição Crítica que a INCM aceitou editar. É fundamentalmente Garrett que tem sido o vínculo entre mim e a INCM.
P — E coordenar a edição crítica do Garrett é um projeto muito envolvente?
 OPM — Felizmente tenho uma equipa grande de pessoas com quem trabalho nesse projeto. Sozinha não o poderia fazer. Nós estabelecemos as grandes linhas de orientação — e quando eu digo «nós» falo num plural em que me envolvo a mim e a uns tantos colegas mais ligados a esse núcleo que gere globalmente a edição. Depois distribuímos por um grupo numeroso de colaboradores a edição dos textos. Saíram poucos textos ainda, porque é um trabalho muito moroso. Iniciámos a ideia da edição crítica no ano em que se comemorou o bicentenário do nascimento de Almeida Garrett, em 1999. Apresentámos, então, à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) um projeto de investigação que consistia fundamentalmente na edição da obra completa de Garrett. Porque Garrett, sendo uma figura nuclear do nosso âmbito literário, não tem uma tradição editorial rica, à parte aqueles textos canónicos que são estudados no liceu, sobretudo o Frei Luís de Sousa, as Viagens e um pouco as Folhas Caídas. Tirando estes grandes títulos, o resto estava ainda muito limitado às edições do tempo de Garrett ou a edições isoladas. Houve projetos de edições completas mas que ficaram pelo caminho. Sentia-se muito a necessidade de se recuperar Garrett para o convívio mais seguro com o estudo da Literatura.
OPM — Felizmente tenho uma equipa grande de pessoas com quem trabalho nesse projeto. Sozinha não o poderia fazer. Nós estabelecemos as grandes linhas de orientação — e quando eu digo «nós» falo num plural em que me envolvo a mim e a uns tantos colegas mais ligados a esse núcleo que gere globalmente a edição. Depois distribuímos por um grupo numeroso de colaboradores a edição dos textos. Saíram poucos textos ainda, porque é um trabalho muito moroso. Iniciámos a ideia da edição crítica no ano em que se comemorou o bicentenário do nascimento de Almeida Garrett, em 1999. Apresentámos, então, à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) um projeto de investigação que consistia fundamentalmente na edição da obra completa de Garrett. Porque Garrett, sendo uma figura nuclear do nosso âmbito literário, não tem uma tradição editorial rica, à parte aqueles textos canónicos que são estudados no liceu, sobretudo o Frei Luís de Sousa, as Viagens e um pouco as Folhas Caídas. Tirando estes grandes títulos, o resto estava ainda muito limitado às edições do tempo de Garrett ou a edições isoladas. Houve projetos de edições completas mas que ficaram pelo caminho. Sentia-se muito a necessidade de se recuperar Garrett para o convívio mais seguro com o estudo da Literatura.
P — Nessa altura ainda havia muitos inéditos?
OPM — Ainda hoje há inéditos de Garrett no espólio. É verdade! O último volume da edição crítica intitula-se Fragmentos Romanescos e foi publicado no ano passado. Desses fragmentos, uma boa parte estava inédita. São textos curtos, incompletos mas muito interessantes e que representam ideias que Garrett tinha no seu espírito mas que não desenvolveu. Algumas delas, muito inovadoras! O último texto que Garrett tentou escrever (não terminou porque simplesmente morreu) é um fragmento romanesco chamado «Helena», que teve publicação póstuma. Garrett morreu em 1854 e «Helena» teve uma primeira edição em 1871. Trata-se de um fragmento e não de um texto completo, mas que revela aspetos de Garrett pouco conhecidos. Por exemplo, parte da ação decorre no Brasil, e vemos ali um Garrett defensor dos escravos. Foi uma pena, uma pena mesmo!, Garrett não ter terminado aquele livro.
P — Nesse privilégio que é o contacto direto com os manuscritos de Garrett, que outros aspetos menos conhecidos da figura e da obra de Garrett consegue desvendar?
OPM — Há muitos projetos que ele não levou a bom termo. Sabe-se lá porque razões! Há uma parte da obra de Garrett — julgo que já não vou ser eu a fazer isso, já não vou ter vida para isso — que precisa de atenção, que é a oratória parlamentar. Garrett foi parlamentar tanto na Câmara dos Comuns como, depois, na Câmara dos Pares. Toda essa produção consta no Diário da Câmara dos Deputados e no Diário da Câmara dos Pares, mas ainda não está compilada. Aquilo que se conhece dessa imensa oratória parlamentar são os quatro ou cinco discursos que tiveram publicação logo na altura. O resto está disperso ou por jornais, ou pelos diários das Câmaras, ou pelas páginas das Memórias Biográficas de Garrett, de Gomes de Amorim.
P — E esses quatro ou cinco discursos foram editados na altura?
OPM — Esses quatro ou cinco foram editados. Se pegar na edição das Obras Completas de Garrett de Teófilo Braga, de 1904, encontra-os lá. A questão é que eles são centenas ou mais, se é que não atingiram o milhar. Estão nas publicações da época, sobretudo no Diário da Câmara dos Deputados, onde pode ler-se: «Intervém o Sr. Garrett», seguindo-se o discurso. Por vezes, são discursos de páginas e páginas, onde se vê o contacto de Garrett com o quotidiano da política portuguesa da altura. Ora, essa produção é uma pena não estar disponível para um trabalho mais atento, que seria bastante renovador sobre a própria vida cultural e ideológica portuguesa de meados do século.
P — Com tal empenho na vida política do país, de que maneira coexistia o diálogo entre o escritor e o cidadão?
 |
|
Obra Fragmentos Romanescos, de Almeida Garrett,
|
OPM — Era um diálogo muito intenso. Garrett foi sempre um poeta-cidadão. Ele próprio o disse, e com plena razão. Garrett foi sempre um escritor empenhado, um escritor engagé. Tinha da Literatura uma ideia de serviço público. Aliás, isso está muito bem dito por ele na Memória ao Conservatório sobre Frei Luís de Sousa. Para Garrett, o escritor tem de falar para o seu tempo de forma a ser entendido pelos seus contemporâneos, podendo servir, àquele que lê, para se entender melhor a si e ao seu tempo. O papel do escritor é esse: ajudar a coletividade nacional a olhar-se e a interpretar aquilo que decorre à sua volta com mais acuidade. Garrett teve sempre esse papel muito consciente de escritor responsável.
P — Se vivesse nos nossos dias, consegue calcular de que partido político Garrett seria militante ou simpatizante?
OPM — [risos] Na sua juventude académica seria MRPP… [risos]
P — Que no fim de vida acabou visconde…
OPM — Sim, acabou visconde mas isso tem de ser visto a uma dada luz. Admiro em Garrett — há quem não admire, mas eu admiro — a capacidade que teve em não se fechar perante uma posição do seu tempo. Garrett foi capaz de olhar, de interpretar e, se necessário, de recuar ou de avançar consoante via o bom ou o mau resultado de determinadas medidas. O primeiro triunfo liberal é em 24 de agosto de 1820 e, passados dois anos, em 1822, surge a primeira Constituição Liberal. É uma Constituição muito ousada para os programas da época. Muito pouco tempo depois, Garrett dizia: «Esta Constituição não é para nós, é para um país com uma liberdade mais madura.» Dizia ainda que era preciso moderar as nossas expectativas. Julgo que ele seria um homem do centro, de um centro democrático, liberal, monárquico (o pensamento dele era monárquico) mas partidário da justiça, partidário de um equilíbrio tanto quanto possível das classes sociais, de progresso das estruturas de base do país que permitissem uma maior justiça. Julgo que Garrett seria de um centro avançado, mas de um centro. Garrett não era um homem de excessos.
 |
| Passos Manuel, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e José Estêvão de Magalhães nos Passos Perdidos, da Assembleia da República Portuguesa, pintura de Columbano Bordalo Pinheiro. |
P — Oliveira Martins considerou Garrett o «maior artista que tivemos depois de Camões». Concorda?
OPM — Estou a pensar no Eça que se perfila aqui, e, que como agora se diz, é uma figura incontornável. Mas que Garrett tem uma consciência da língua fora do comum é um facto. Foi muito renovador, num sentido curioso, porque a nossa língua estava anquilosada por hábitos de escrita que Garrett desarticulou. As Viagens na Minha Terra são um exercício feito à rebours da Literatura. O que Garrett pretende é desliteratar a expressão literária de maneira a colocá-la mais ao nível da leitura do homem médio, e fazendo ingressar na expressão literária as expressões coloquiais, as palavras em calão, os estrangeirismos, por exemplo. Garrett exerceu sobre a língua um papel muito renovador na medida em que a tornou mais ágil. Garrett não padecia de pouca autoestima, e ele próprio louva, no prólogo de as Viagens — que suponho ser da sua autoria, mas que ele atribui aos editores a sua «ductilidade de estilo espantosa». E realmente é verdade porque ao longo da obra são tantas as tonalidades linguísticas naquela enorme conversa com o leitor de que o livro é feito, que vemos ali um escritor ágil, brincalhão, irónico, quando necessário, e incisivo também.
 |
| Litografia de Almeida Garrett por Pedro Augusto Guglielmi. |
P — Se Garrett ocupa um lugar maior na literatura portuguesa, podemos dizer que esse lugar é o da modernidade?
OPM — Sim, sim! Na medida em que com Garrett se desfazem as fronteiras, se quebram os tabus. Garrett exerce sobre a língua esse grande papel.
P — E se Garrett teve um papel determinante para a Literatura, também o teve para outras artes. Está na génese do Conservatório Nacional, do Teatro Nacional Dona Maria II… Garrett é também um dramaturgo.
OPM — Sim. Garrett encerrava em si, às vezes, comportamentos muito teatrais. Vivia muito o teatro. Diz algures, num texto ainda da juventude, que quando imaginava uma ficção, uma história, a via realizada teatralmente. «Eu converto em teatro qualquer situação para mim espicaçante.» Ele diz isto. No teatro, Garrett combateu claramente os estereótipos em prol de uma realização, por parte dos atores, mais natural, mais próxima do que era a prática social. Como orientador do Conservatório e como Inspetor-geral dos Teatros lutou para que o Teatro se aproximasse da vida, para que falasse pelos temas e pelas formas ao espectador coetâneo. Há textos muito interessantes, que constam do espólio. Há, por exemplo, o manuscrito de O Cativo de Fez, de Silva Abranches — uma peça muito retórica, escrita em tiradas que não convenciam ninguém, que não se aproximava da linguagem comum e que não agradava a Garrett — para a qual propôs correções. São muito interessantes todos esses textos onde Garrett, no fundo, faz censura teatral.
P — No fundo, fazia-o para imprimir qualidade aos textos e não para cercear pensamentos.
OPM — Garrett fazia-o para melhorar o texto de teatro, valorizando muito o espetáculo. Porque, efetivamente, o teatro permite a conjugação de vários tipos de linguagem. Desde a montagem do cenário, à movimentação cénica, aos gestos, ao tom de voz, etc. O papel de Garrett como militante e educador de público e autores foi precisamente nesse sentido.
P — A tragédia Mérope, de Garrett, esteve na base de uma ópera homónima de Joly Braga Santos, estreada em 1959.
OPM — Não me lembrava. É engraçado porque Garrett manteve a Mérope sem ser publicada praticamente até quase aos anos vizinhos do termo da sua vida. A Mérope, tendo sido concebida pouco depois de 1820, só teve edição em 1841. E foi muito remodelada. Garrett modificou muita coisa na Mérope inicial. Aqui está um caso em que as edições críticas são fundamentais. Ao lado da Mérope cita-se sempre Catão. São tragédias próximas em datas, da época vintista. Catão é uma tragédia de exaltação da liberdade contra o imperador César, e conhecem-se duas versões: uma de 1821 e outra do tempo do exílio de Garrett em 1830. A versão de 1830 é muito diferente da versão original até mesmo na forma como é questionada a posição da personagem Bruto, que é o assassino de César. Quando escreveu a segunda versão, Garrett já tinha visto muita coisa. Nomeadamente, o resultado do excesso de certas reclamações liberais a tenderem para a União Ibérica, algo que Garrett não queria que acontecesse.
P — É precisamente a Vilafrancada, o golpe militar de D. Miguel, em 1823, que acaba com a primeira experiência liberal em Portugal e leva Garrett ao exílio. Qual a importância do exílio na vida e na obra de Garrett?
OPM — Tem uma importância grande. Foi o sair das nossas fronteiras. Foi também um enriquecimento muito grande do ponto de vista cultural e um fator muito grande de mudança. Até aí, Garrett nunca tinha ouvido falar de Byron, não tinha lido os romances de Walter Scott, não conhecia Victor Hugo, não conhecia Alphonse de Lamartine. Tudo isto lhe chega na altura do exílio em Inglaterra e em França. A conversão romântica de Garrett é em grande parte fruto da permanência dele no exílio. Foi um período de sofrimento, naturalmente, porque via o país naufragar através do regresso a tempos que ele não queria que voltassem — os tempos do Absolutismo. Garrett assistia também aos dissídios entre os liberais. Aliás, como muitas vezes sucede. Entre nós, aconteceu nos tempos de Salazar, todos unidos contra o salazarismo mas depois, desfeito o inimigo comum: multiplicam-se as orientações. Garrett assistiu a isso no exílio. Viu os liberais a guerrearem uns contra os outros. A imprensa no exílio foi muito divergente também — jornais num sentido, jornais noutro sentido. Viu também o espírito de seita a surgir. Garrett foi sempre contra o espírito de seita, o espírito de fação. A isto juntou-se também muito sofrimento pessoal, o estar longe do país, com uma experiência familiar complicada, com morte de filhos. Do único casamento legítimo e efetivo de Garrett com Luísa Midosi, de quem se separou, teve quatro ou cinco crianças nadas-mortas ou falecidas em idade muito baixa. Depois, já de regresso ao país, teve uma ligação marginal a uma jovenzinha, pouco mais que adolescente, de quem também teve filhos que morreram. Garrett teve uma experiência familiar muito complicada, e conheceu ao vivo o que é ter uma filha em situação marginal.
P — Frei Luís de Sousa ressente-se bastante disso.
OPM — Sim, naquele drama da Maria. Essa jovenzinha que se entregou a Garrett, Adelaide Pastor, é a mãe da única filha que lhe sobreviveu: Maria Adelaide de Almeida Garrett. Garrett tinha essa filha ilegítima. Atrás, falava-me do título de visconde… Garrett luta muito por esse título, em parte para proteger esta filha. Se ele tivesse um título que pudesse ser transferido para a sua filha, era uma proteção social para ela. Ele recebeu o título de visconde mas não conseguiu fazê-lo transitar para a filha.
P — Falava-me de Byron, Walter Scott, Victor Hugo. Que influência bebe, o escritor, dos grandes nomes do romantismo europeu?
 |
| Lord Byron num retrato por Thomas Phillips. |
OPM — Na poesia, o ter passado por Byron e Lamartine mostrou a Garrett que a senda da poesia romântica ia, como ele diz no prefácio de Camões, «de pós o coração». Isto é, libertar-se das regras de género para ir, por exemplo, atrás do próprio coração, para seguir os seus ditames interiores. Depois, o romantismo europeu também o fez ter a noção da cor epocal, da cor histórica, nomeadamente através dos romances de Walter Scott. Garrett escreve O Arco de Santana, que não é um romance histórico mas que não deixa de participar de alguns aspetos do romance histórico. O pitoresco histórico, por exemplo, de Notre Dame de Paris de Victor Hugo, Garrett admirou-o. Ele escreve a um amigo, na altura em que se entrega à ideia d’O Arco de Santana, e diz-lhe: «Se leu Notre Dame de Paris, é um pouco neste género o meu romance». Os ambientes soturnos do Porto medieval e o ambiente linguístico que procura recriar marcam presença. Sempre com muita novidade. Ao mesmo tempo, parece quase um romance paródico do próprio romance histórico romântico. No decurso do romance e num estilo muito digressivo, como também, acontece nas Viagens, Garrett mistura a época contemporânea com a medieval. Vai fazendo o diálogo entre o comportamento medieval e o comportamento contemporâneo e estabelece um paralelo. Nesse aspeto é até um romance híbrido. Tem aparência de romance histórico pela reconstituição histórica que vai fazendo nos seus objetos, nos seus comportamentos e no seu linguajar e, ao mesmo tempo, é feito de insinuações contemporâneas. São muito engraçados, os desníveis que acontecem na ação entre um plano e outro plano. É um livro muito sedutor.
P — Acabou de referir o prefácio de Camões onde o próprio afirma: «Não sou clássico, nem romântico». Nas Viagens também balança muitas vezes entre os itens românticos e os clássicos. Afinal, e se tivermos de o datar, a nível literário, onde se situa Garrett?
OPM — Apesar de tudo e olhando no seu conjunto, Garrett é uma figura romântica. Está integrado no seu tempo mas sem cair em quaisquer estereótipos. Garrett foge muito ao convencional e o tipo de problemas que suscita são problemas de todos os tempos, são intemporais. Nesse aspeto é também uma figura muito sedutora.
P — Que outros aspetos a seduzem em Garrett?
OPM — Outros dos aspetos que mais me seduz em Garrett ficcionista é a criação de personagens ambíguas, ou seja, personagens que vivem da evanescência da mobilidade do ser interior. É o caso do protagonista da novelazinha integrada nas Viagens. Carlos é capaz de amar duas mulheres ao mesmo tempo e, por vezes, interrogando-se sobre os seus próprios sentimentos.
P — Não será uma personagem autobiográfica, essa de Carlos das Viagens?
OPM — Tem aspetos autobiográficos sim, não completamente, mas tem, de facto, muito do próprio Garrett. Principalmente no tergiversar e no sentido da modificação íntima que se dá na passagem do tempo. Em Garrett, o tempo não é nada de estável. É algo que evolui. Veja-se, por exemplo, no Frei Luís de Sousa a figura de D. João de Portugal, que regressa após quase 20 anos de buscas. Quando regressa encontra tudo mudado. D. João de Portugal é realmente um fantasma. É o retorno de um fantasma. Aquilo que constituía a vida de D. João de Portugal deixou de existir: Dona Madalena de Vilhena voltou a casar, nasceu uma menina, a Maria, o próprio aio de D. João de Portugal, Telmo, a dada altura, sozinho com ele próprio diz mais valera que aquele homem não tivesse voltado a aparecer, porque faz desabar uma família. Isto quer dizer que D. João não só não é capaz de reconstituir um passado como destrói o presente. Em Garrett o tempo é uma contínua passagem; muda e faz mudar e isto é um aspeto muito inovador. O engraçado é que, às vezes, esse processo é quase inconsciente. Outro aspeto interessante em Garrett é o de ele captar como essas mudanças, por vezes, são impercetíveis para quem passa por elas. O Telmo, essa figura muito interessante de Frei Luís de Sousa, julgava ser fiel à memória de D. João de Portugal, a essa memória que ele tinha criado. Mas depois surgiu Maria e houve na sua vida interior um transtorno muito grande. Maria passou à frente de D. João de Portugal e Telmo não se apercebeu. Só se apercebe verdadeiramente de como está mudado quando D. João de Portugal reaparece. Telmo vê tal transtorno e tais repercussões negativas sobre aquela menina que passa a ser uma criança ilegítima, que diz: mais valera que este homem não tivesse surgido. D. João de Portugal ouve e conclui que realmente está morto. Tinha desaparecido do cenário. D. João de Portugal tinha desaparecido da vida e, como tal, é uma figura de morte, esquecida, espectral.
 |
| Cartaz do filme Frei Luís de Sousa de António Lopes Ribeiro, 1950. |
P — Garrett não está esquecido. Mas a verdade é que, junto da opinião pública, Garrett não alcança a mesma projeção de Eça ou Camilo. Porquê?
OPM — No meu entender, porque o Garrett é muito difícil de ler.
P — Mas é um autor cujo primeiro contacto é feito logo na escola.
OPM — Lê-se na escola, é um facto. Mas é um autor que exige uma certa maturidade. Bem, o Eça também exige. É evidente! Mas os alunos têm muita dificuldade com Garrett. Tive essa experiência bem viva. É difícil para os alunos aceitarem certos textos de Garrett. Não só porque a linguagem está muito marcada mas também é difícil pela sua organização interna: aquela mistura de coloquial e não coloquial, o recurso ao termo pitoresco ao lado do termo culto… Os alunos ficam um pouco despistados. Uma peça como Frei Luís de Sousa sempre motivou reações muito adversas quer em alunos nacionais quer em estrangeiros.
P — E porquê?
OPM — Porque não entendiam a problemática do texto. Os estrangeiros, por exemplo, conheciam mal a posição católica sobre o casamento e não entendiam. Para eles aquilo resolvia-se com a separação. Era simples. Não entendiam aquela problemática toda, aqueles sustos interiores de D. Madalena de Vilhena que se inculpa de ter amado Manuel de Sousa Coutinho quando ainda era vivo D. João de Portugal, o seu marido efetivo.
P — Depois do secundário, quem o volta a ler?
 |
| Carlos e Joaninha, personagens de Viagens na Minha Terra, por Paulo Ferreira, 1946. |
OPM — São muito excecionais os alunos que se interessam por Garrett à saída do secundário. Porque não entendem certas problemáticas. Nas Viagens, por exemplo, há toda aquela problemática que transporta para a sociedade portuguesa o frade e o barão, que é a problemática do materialismo e do espiritualismo. Na idade em que leem as Viagens, os alunos não entendem, é uma outra dimensão. Por exemplo, a história de Carlos e Joaninha integra todas essas dimensões que foram colocadas em outros níveis no livro. Carlos, no início da novelazinha, é um liberal que se exila por motivos um tanto ambíguos (desilusões familiares?); depois entra na grande civilização que o corrompe e desgasta interiormente; e, a dada altura, abdica da luta contra o espírito da época, cede e transforma-se em barão. Todos nós sabemos que uma coisa é a realidade e outra coisa é o desejo, e muitas vezes cede-se à pressão da realidade e acaba-se caindo naquilo que nós próprios censuramos interiormente. E é isto que acontece um pouco com o Carlos. É demasiado complexo para uma criança de 15 ou 16 anos entender isto. Quando o narrador das Viagens, no fim do livro, encontra a personagem, tem piada, de facto; mas é muito complexo! É o que chamamos em crítica literária «analepse». O autor escondido no narrador encontra-se com uma personagem – faz lembrar o Woody Allen na Rosa Púrpura do Cairo. Então, o narrador encontra-se com Frei Diniz e pergunta-lhe «O que é feito do Carlos?». E Frei Diniz responde-lhe «Carlos engordou, enriqueceu, é barão e qualquer dia vai ser deputado». Os alunos não percebem isto. É preciso ter muita maturidade para entender isto. É preciso distanciarmo-nos para vermos que aquele Carlos abdicou quando escreve a Joaninha e diz-lhe «tenho um coração grande demais, não sei mais amar, dispersei-me, caí no indiferentismo». E tudo isto é dito muito contraidamente, não é nada explicitado. No fundo, Carlos segue a onda social e tenta obter proveito disso. Com aquela idade os alunos ficam despistados.
P — Que decisões é que um editor crítico de um texto de Garrett tem de tomar para que ele se torne um autor do público?
OPM — Faz o que pode, mas não pode fazer muito. Nós optámos por modernizar a ortografia, na medida do possível. Isto já facilita muito, porque o texto não é rebarbativo no aspeto ortográfico. Porém, mantivemos no estabelecimento do texto a coloração garrettiana de certos termos. Fazia parte do código garrettiano escrever «ingenho» em vez de «engenho», «incher» em vez de «encher», por exemplo. Quando tal sucede optamos sempre por manter as formas que são visivelmente da opção garrettiana. Nas Viagens, cuja edição é da minha responsabilidade, procurei, pensando no público e na acessibilidade do público a um livro tão cheio de referências históricas, tão cheio de simbologia buscada na história, torná-lo inteligível para o leitor médio através de notas explicativas. Acho que isto se deve fazer minimamente. Uma edição crítica deve ser centrada sobre o estabelecimento do texto num texto que poderá vir a servir para futuras edições se basearem nele, num texto filologicamente cuidadoso. Todavia, não nos demitimos de fazer anotações de certa forma culturais. Garrett precisa disso, sobretudo em determinados textos: nas Viagens era forçoso. Ele brinca tanto com a história, com o contexto europeu, que pareceu interessante fazer-se as notas relativas ao estabelecimento textual e também notas esclarecedoras daquele ambiente cultural, daquele ambiente epocal. Estou convencida de que a edição crítica pode vir a dar azo a edições mais acessíveis ao público. Mas Garrett nunca vai ser um escritor popular. É demasiado difícil, a meu ver.
P — Sobretudo do ponto de vista linguístico, como tem estado a referir, ou também pela complexidade do texto, pelas remissões para outras esferas, por exigir muitos pré‑conhecimentos?
OPM — Exatamente, por exigir muitos pré-conhecimentos. Garrett nos textos que elabora vai jogando com o seu tempo, vai brincado… Como disse há pouco sobre O Arco de Santana, a sua ação histórica é no tempo de D. Pedro I, mas Garrett brinca com o seu próprio tempo. E uma criança de liceu que leia O Arco de Santana não vai entender, não tem capacidade cultural para decifrar aquele texto. Nesse aspeto, ler uma ficção do Eça é mais simples.
P — Para si, qual é a marca de exceção de Garrett, o homem?
OPM — É um ser bastante contraditório. Simultaneamente é um homem que pensa, espiritualista, a meu ver, desejando ser consciente, desejando obter metas de perfeição e melhorias sociais e, ao mesmo tempo, caindo no dandismo, na vaidadezinha social. Penso que nesta sua multiplicidade é atraente. Todos nós, como dizia Pirandello, somos «uno, nessuno e centomila». Nós somos assim. Umas vezes, a horas boas, aceitáveis; noutras horas, menos aceitáveis; umas vezes sujeitos à queda em aspetos menos lisonjeiros. Garrett passou por isto tudo. O engraçado é que se vai rindo dele próprio. Esse exercício de alta ironia é uma marca singularizante e, a meu ver, atraente.
P — O que é que ainda lhe falta desvendar sobre esta figura?
OPM — Muita coisa! Quando nos encontrarmos lá no outro mundo teremos muita coisa para conversar [risos].
P — Quando o encontrar «lá no outro mundo», o que lhe gostaria de perguntar?
OPM — Para mim o período mais enigmático é talvez o de meados do século. Garrett perante a Regeneração. Vê-se que ele caminhou para um centro-liberal mas ao mesmo tempo opôs-se ao Cabralismo.
P — Porque é que Garrett se opôs ao Cabralismo?
OPM — Com Costa Cabral, Garrett fez marcha atrás. De facto, para mim, o período da Regeneração é um período um pouco confuso, quando ele aceitou uma carreira muito efémera de ministro, pouco depois teve de se afastar do Governo. São confusas as tomadas de posição dele neste período. Praticamente, a Constituição Liberal de 1838 é, em grande parte, fruto dele próprio. É uma Constituição que procura contrabalançar as posições mais extremistas do Setembrismo, com as posições menos avançadas do Cabralismo. É um período para mim complexo e que gostava de perceber melhor. Depois, julgo que era um homem religioso e também gostava de o interrogar sobre as suas convicções religiosas.
P — E a Senhora, Professora Ofélia, é religiosa?
OPM — Procuro ser, no meio de muitas incertezas e de muitas angústias! [risos]
P — Zola escrevia no Figaro, em 1879, que «os governos desconfiam sempre da Literatura porque a Literatura é uma força que lhes escapa». Acha que tinha razão?
OPM — Acho que tinha.
P — Acha que a afirmação continua a ser atual?
OPM — Continua. A Literatura vive de um mergulhar nos interiores, desconstrói o construído, retira a força da afirmação convencida que procura ser convincente… A Literatura desarticula muito. A Literatura brota do nosso mundo interior – a não ser que seja uma Literatura muito militante, muito voltada para uma atuação direta sobre a realidade circunstante. Se a Literatura vier dos nossos fundos é uma literatura de interrogações sempre, de interrogações existenciais cuja resposta não é simples. O que se pensa da morte? De onde se vem? Para onde se vai? Todas estas questões fundamentais fazem viver a Literatura. E estas questões incomodam, desarticulam, retiram a confiança. A Literatura é um elemento perturbador.
P — Se não tivesse sido professora, o que gostaria de ter sido?
OPM — Se não tivesse sido professora… [risos] … Não sei… A minha vida foi bastante sequente, foi correndo… [pausa]… Não sou pessoa muito corajosa no campo das realizações existenciais. Também não sou rotineira, ou melhor, procuro não ser. Também nunca fui muito ambiciosa. A ordem natural das coisas foi-me inclinando para o exercício da docência, que é muito variado. Todos os anos se renova. Dar aulas é apenas uma dimensão de ser professor. Porque há muitas outras. Tive a sorte de ter um núcleo de alunos que se tornaram bons amigos e com quem fui conversando muito. Durante os muitos anos em que lecionei Literatura Francesa, tinha no meu programa Rousseau, que era alvo de grande disputa nas aulas, com aquelas ideias utópicas de que o homem é naturalmente bom e a sociedade é que o degrada. Isto dava origem a inúmeras discussões, trocas de impressões. Fui fazendo grandes amigos nessas discussões. Isto é apenas o professor dentro da sala de aula. Depois, há ainda as conversas de corredor, há o encontro no gabinete e há a orientação dos trabalhos… É uma atividade muito plural. A dada altura, o professor pode ser uma espécie de orientador de consciências. É uma profissão muito mutável. Nunca me senti numa situação de constrição e de limitação no ato de ser professora. Ser professor tem dimensões muito amplas e muito variadas. E isso é gratificante.
P — A Senhora Professora recebeu já este ano a menção honrosa referente ao Prémio Grémio Literário 2015, pela edição crítica da obra Fragmentos Romanescos, de Almeida Garrett. Fale-nos um pouco desta obra, chancela INCM.
OPM — Nós reunimos nesse volume uma série de pequenos textos garrettianos. O mais longo é «Helena», esse tal último romance que ele começou a escrever. Alguns desses textos são fragmentos mesmo muito pequenos, mas todos muito interessantes pelos aspetos temáticos e estilísticos que levantam. Através desses fragmentos conseguimos ver as tentativas de romance histórico. Está lá um fragmento intitulado «As Três Cidras do Amor», que é um fragmento de romance histórico, e que poderia ter sido um grande romance se tivesse sido levado a bom termo. Outras tentativas de sendas de romance oitocentista estão também previstas nesses fragmentos. Por exemplo, o romance indianista, um romance muito frequente na época romântica, onde está presente o confronto, o debate e o diálogo entre a natureza e a civilização através da ação colocada, no caso de Garrett, no Brasil. Há lá um início de novela indianista interessante. Há também um texto muito engraçado que é uma retomada do romance picaresco, um caso muito singular em Garrett. Chama-se «Memórias de João Coradinho». É um texto muito interessante, com muitos tópicos rousseaunianos pelo meio. Vamos lançar agora um volume idêntico para os fragmentos dramáticos que são muito abundantes no espólio. Não direi todos, mas muitos deles são inéditos. Os que já tiveram publicação tiveram publicação póstuma. Já temos muito material reunido e vamos começar em breve. Mas, antes disso, está a sair um volume de correspondência de Garrett para Rodrigo da Fonseca Magalhães, precisamente desse período que para mim é um bocadinho confuso. É um volume feito pelo meu colega Sérgio Nazar David. E também já entregámos na Imprensa Nacional um Auto de Gil Vicente numa edição de um colega nosso inglês, Tom Earle. Já saíram cinco volumes e estão entregues mais esses dois volumes. Estamos agora a enveredar pela parte dramática, que em Garrett é muito importante. A ficcional está praticamente toda concluída.
 |
| Fac-símile da carta de Garrett a Rodrigo da Fonseca Magalhães, BNP. |
P — Em 2014 também recebeu o Prémio Vergílio Ferreira. Pergunto-lhe, agora, qual é a importância do reconhecimento, através da atribuição de um prémio, para quem cria?
OPM — É gratificante. Apesar de tudo, significa que alguém viu interesse naquilo que se escreveu e que se fez. Isso reconforta um pouco, não é? Na verdade, eu não me acho muito merecedora de um prémio de ensaio, como aquele que me foi atribuído, mas agradeço. Procuro sempre, naquilo que tenho escrito, que a componente ensaística de interpretação, inquirição esteja presente. E que não se cinja apenas à verificação documental (tais factos ou tais circunstâncias), mas que haja uma tentativa de levantamento e de perscrutação de sentido naquilo que se está a trabalhar. Nessa medida, talvez se justifique terem pensado atribuir-me um galardão relativo a ensaio.
P — É professora jubilada, mas continua a ter em mãos projetos vários, como o Centro de Literatura Portuguesa que, julgo, também coordena.
OPM — Não, não! O grande coordenador atual do Centro de Literatura Portuguesa é o Doutor Carlos Reis. Eu faço parte e coordeno, no interior do Centro de Literatura Portuguesa, uma linha de investigação garrettiana. O Doutor Carlos Reis é que é o polo pensador e organizador da estrutura complexa do Centro de Literatura Portuguesa, que tem vários projetos de investigação.
P — A nível internacional quem são a seu ver os grandes promotores da língua portuguesa?
OPM — Os professores de língua portuguesa no estrangeiro, por exemplo. Acho que são coordenados pelo Instituto Camões. Julgo que os leitores do Instituo Camões têm um papel muito importante a desempenhar. Li recentemente que em França o português tem vindo a adquirir uma dimensão maior dada a presença muito significativa de luso‑descendentes na população escolar francesa.
P — Na rede escolar pública francesa já há muitas escolas que consagram o português como língua estrangeira, fruto também do trabalho incansável de Marie Solange Parvaux.
OPM — Sim, sim. Solange Parvaux teve um papel muito importante, também a ela se deve o facto de o ensino da língua portuguesa estar disponível nas escolas e liceus franceses. Antes, a Fundação Calouste Gulbenkian desempenhava também um grande papel em França, como entidade promotora dos estudos da língua portuguesa. Tinham uma enorme biblioteca, tinham cursos de português, promoviam atividades culturais, concertos, colóquios, conferências… Fui várias vezes ao Centro da Gulbenkian em Paris, a convite do Professor José-Augusto França. Teve um grande papel promotor, mas creio que tem vindo a diminuir. Não tenho grande autoridade para o dizer, visto que já estou afastada da vida quotidiana universitária há alguns anos, mas devo dizer que deve haver circunstâncias que favorecem, através dos locais onde se ensina o português, o interesse pelo nosso país. A minha Faculdade de Letras, já não a reconheço muito. Às vezes, parece-me uma faculdade estrangeira, tal o número de estudantes de Erasmus que vêm, e também estudantes orientais, chineses, japoneses, brasileiros…
P — Esses alunos serão, depois, estrangeiros que importarão a nossa cultura e língua para os respetivos países.
OPM — Sem dúvida. Há de facto um intercâmbio muito grande. A presença de estrangeiros na vida da Faculdade de Letras é imensa. Tem vantagens e tem desvantagens. Tenho colegas que não podem dar aulas em português porque parte da população académica que têm em frente ainda não conhece suficientemente a língua portuguesa para poder seguir aulas em português. Depois, as proveniências dos alunos são as mais diversas. Desde o espanhol que entende bem a nossa língua até ao japonês que não percebe nada da nossa língua. É uma dificuldade. Ensinar neste momento é um bico-de-obra!
P — Noutras universidades será mais fácil porque o inglês é uma espécie de esperanto.
OPM — Tenho uma amiga que é professora de Literatura Francesa mas que já não tem local para ensinar Literatura Francesa, porque a França perdeu muitos adeptos na nossa cultura. A minha amiga leciona também umas aulas de estudos de teatro, e é lá pelo meio que consegue enfiar o Racine ou o Molière. Mas tem de indicar sempre os textos em traduções; porque os alunos não dominam o francês e dominam mal o português… É um sarilho! Os meus colegas veem-se atrapalhados, neste momento, para lecionarem. Agora vou pouco à faculdade, mas a impressão que tenho sempre que lá vou é que entro numa escola estrangeira. São quase mais os alunos estrangeiros que os nacionais. Se o contingente de alunos brasileiros diminuir, alunos que vêm cá fazer os seus mestrados e doutoramentos, a faculdade vai ter dificuldade em sobreviver. Digo isto para determinadas áreas: a literatura e, de um modo geral, as Humanidades.
P — Por outro lado, isso só revela interesse pela nossa língua, pela nossa literatura…
OPM — Sim, revela interesse. O problema é que esse contingente de estrangeiros que chega tem de ser submetido ao ensino intensivo da língua para poder, numa primeira fase, começar a penetrar. Caso contrário é muito difícil. Todavia, mantemos ao longo do ano cursos de língua e cultura portuguesas para estrangeiros, que os alunos frequentam para poderem obter uma espécie de hall de entrada para os seus estudos cá.
P — Acompanha os novos autores portugueses?
OPM — Procuro acompanhar, mas confesso que a minha relação com a literatura recentíssima é, por vezes, um tanto conflituosa.
P — Porque é que diz isso? Não lhe vê qualidade?
OPM — Vejo qualidade. Mas estou tão habituada à escrita dos séculos XIX e XX, que a leitura destes recentíssimos autores deixou de ser prazenteira para mim. Leio bem até ao José Saramago, o [António] Lobo Antunes já não leio tão bem, e os recentíssimos acho-os demasiado complicados.
P — É uma questão de narrativa, de linguagem, de estrutura…?
OPM — É a estrutura, acho eu, que não me atrai. Tenho dificuldade em ver para onde aquilo caminha. Tenho dificuldade em entender. Tenho a sensação de que os autores se tornaram um pouco herméticos. Estou como Garrett: a Literatura faz-se para se dialogar, para nos entendermos a nós e ao nosso tempo.
P — E essa dificuldade estende-se às outras artes também?
OPM — Sim, estende-se à pintura, à escultura… A arte tornou-se demasiado desconstrutiva. Tenho dificuldade em lidar com as moderníssimas expressões artísticas.
P — Veremos o que o tempo vai ditar.
OPM — Não sei se a Arte e a Literatura enveredaram por uma busca muito extensiva de criatividade, de formas inéditas de se dizer as coisas. A verdade é que, no meu entender, a Literatura tem de ser um exercício de diálogo entre autor e público, e se a expressão não é transitiva, se não passa, alguma coisa há de estar mal.
P — Nos tempos livres, o que lhe dá mais prazer fazer?
OPM — Agora faço pouca coisa. Como me dizia o meu médico, no outro dia, a «carcaça», o «chassis» não me deixa fazer muito. Gasto muito tempo com as poucas coisas que faço. Gosto de ouvir música e de ler. Infelizmente, a estrutura física não me permite jardinar, que é uma atividade que gostava de fazer. Tenho os meus gatos que ocupam um certo espaço no meu tempo. Gosto de cinema, mas vou pouco ao cinema. Bem, agora temos oportunidade de ver cinema em casa. Mas, é a tal coisa: gosto de ver cinema que fale comigo. Não sou admiradora do nosso Manoel de Oliveira, não consigo. Quer dizer, gosto de muitas das suas imagens. Há que dizê-lo: Manoel de Oliveira tem uma fotografia notabilíssima, mas do que gosto é do Aniki bobó! [risos] Lembro-me de ir ao cinema ver Francisca e não consegui chegar ao fim. Era um filme inspirado em Camilo [Castelo Branco] e eu estava à espera de uma componente passional e emotiva… e não tinha. Tinha uma estrutura parada. Também no cinema tenho uma relação algo conflituosa com certos realizadores. Como João César Monteiro, que fez o Branca de Neve, um filme todo em negro. Provavelmente, sou uma voz completamente desautorizada, mas, de facto, não dialogo com formas como essa de expressão artística. Vamos ver o que sobrevive destas novas criações [risos].
P — Nasceu no Porto mas estudou, trabalhou e vive em Coimbra. A cidade dos estudantes e dos professores é a cidade da sua vida?
OPM — Não muito. Se me perguntasse com que cidade me identifico, em que cidade sinto estarem as minhas raízes, essa cidade é o Porto. É engraçado, não é? Saí do Porto muito novinha, com 15 ou 16 anos, e, todavia quando vou ao Porto alguma coisa me relaciona com a cidade… Aquelas ruas, a presença do granito, os azulejos, aqueles ambientes. O Porto é uma cidade com muita garra, com uma força anímica muito grande. Uma cidade, de facto, trabalhadora, contrastante e com formas muito vivazes de manifestação. As minhas ligações ao Porto agora são muito mais ténues por força das circunstâncias. Mas é uma cidade que marca muito. A mim marcou-me muito. Foi lá que despertei para a vida, para a literatura, para a música… Coimbra é uma cidade de adoção mas não é a minha cidade.
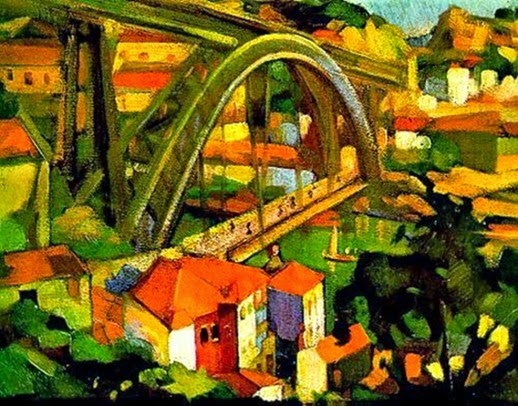 |
| Eduardo Viana, Ponte D. Luís, óleo sobre tela (década de 1920). |
P — Que música é que gosta de ouvir?
OPM — Gosto muito de Beethoven, de Mozart, de Chopin.
P — A seu ver, quais são os desafios atuais com que se deparam os seus colegas, além dos que já falámos?
OPM — Nem imagina como a vida dos meus colegas se complicou! Dir-se-ia que os meios informáticos de agora simplificam. Mas, afinal, parece que «complexificam» o trabalho de um professor. Um dos meus filhos é professor universitário. E agora, através do e-mail ou do Skype, o aluno contacta com o professor a qualquer momento do dia, não importa a hora, nem a fase do calendário escolar. Tudo passa pela informatização. Já quase não há trabalho de secretaria. Tudo é feito pelo próprio professor, através desses processos informáticos. Hoje em dia, ignorar os procedimentos informáticos é uma forma de iliteracia grave.
P — Essa é uma realidade transversal a todos os professores (do ensino básico, secundário…), que lhes vai roubar tempo à própria função de ser professor, uma função cada vez mais cumulativa.
OPM — É verdade. As minhas noras são as duas professoras. Uma no ensino secundário outra no ensino superior, e ambas estão assoberbadas de trabalho. E de trabalho que muitas vezes é feito por via computacional e que invade o espaço de casa. É que a pessoa está ligada 24 horas por dia…
P — A Senhora Professora parece estar muito à vontade com os recursos informáticos. Afinal de contas, todo o agendamento desta entrevista foi feito por e-mail. E já nos disse que é leitora do blogue PRELO…
OPM — Diria que estou minimamente informada dessas possibilidades. A macrogestão do computador, domino-a muito mal. Utilizo bem o e-mail. Agora, os recursos informáticos que os meus colegas utilizam eu não utilizo. Acho muito mais complicado ir consultar um número de telefone no computador do que ter uma agenda com ele apontado e ir lá verificar. Tenho colegas que já não se sabem libertar do computador. Vai‑se para uma reunião do Centro de Literatura Portuguesa, e lá vão eles com o seu computadorzinho ou com o seu telemóvel, mais ou menos volumoso. O conteúdo do que por lá se fez conserva-se logo no computador. Mas, sabe… Acho isto uma escravidão! Então o uso do telemóvel acho excessivo, um abuso mau. As pessoas criaram verdadeiramente dependência. Isto já passou para o domínio da adicção. Eu fico espantada! Uma vez por outra, estou em contacto com jovens que estão constantemente a matraquear no telemóvel.
P — Com prejuízos para o domínio da língua, a seu ver?
OPM — Penso que para a qualidade do domínio da língua isto é prejudicial, sim. Porque a comunicação que se faz por essas vias é sempre muito sumária. O que pode conter uma mensagem por telemóvel? «Bjs» escritos abreviadamente. Os alunos deixam de dominar a expressão escrita. Disto os meus colegas também se queixam.
P — Diziam alguns teóricos dos anos 1960/1970 que a linguagem é a própria matéria do pensamento. Se nós não a usarmos, também não pensamos…
OPM — Sim, sim. E se antigamente já havia dificuldades de expressão, hoje essa dificuldade de expressão, na maioria dos casos, é superior. Os alunos não estão habituados à expressão explícita por escrito. Os meus colegas queixam-se muito da falta de domínio dos alunos das estruturas escritas mas das orais também. Não sabem compor um texto com coerência, já não ponderando a questão ortográfica. Os alunos estão habituados à fragmentação da comunicação ultra-rápida e a precisarem daquele contacto constante que, afinal de contas, não conduz a uma troca de conteúdos. Parecem satisfazer-se com contactos muito lineares e superficiais. É um tempo esquisito, o nosso!
Coimbra, setembro de 2016
Publicações Relacionadas
-

-
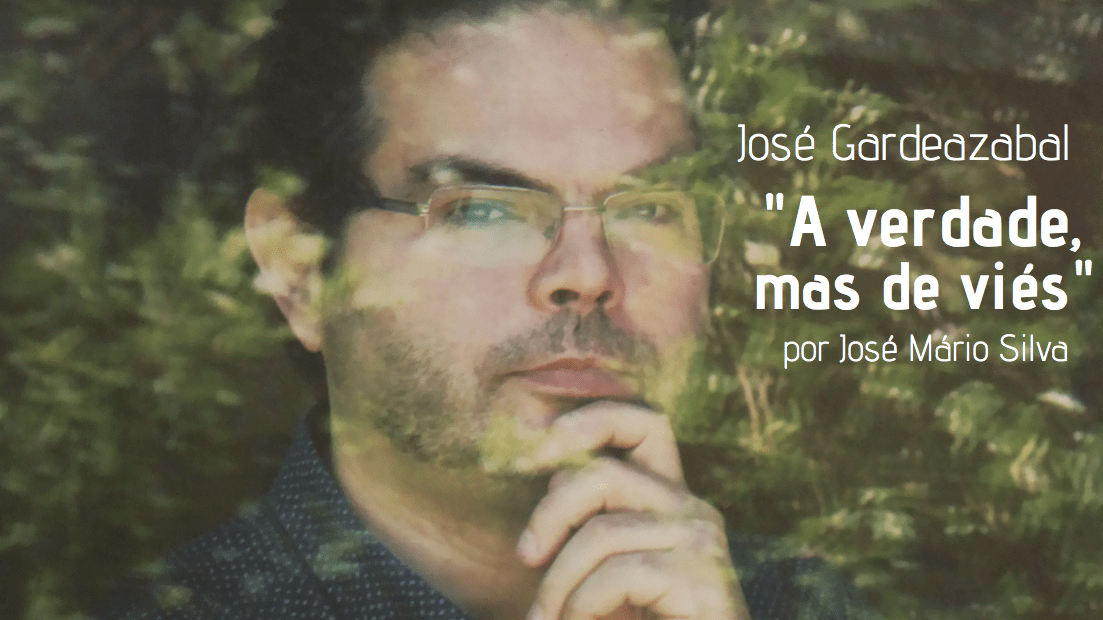
«A verdade, mas de viés» — José Gardeazabal
11 Setembro 2016
-
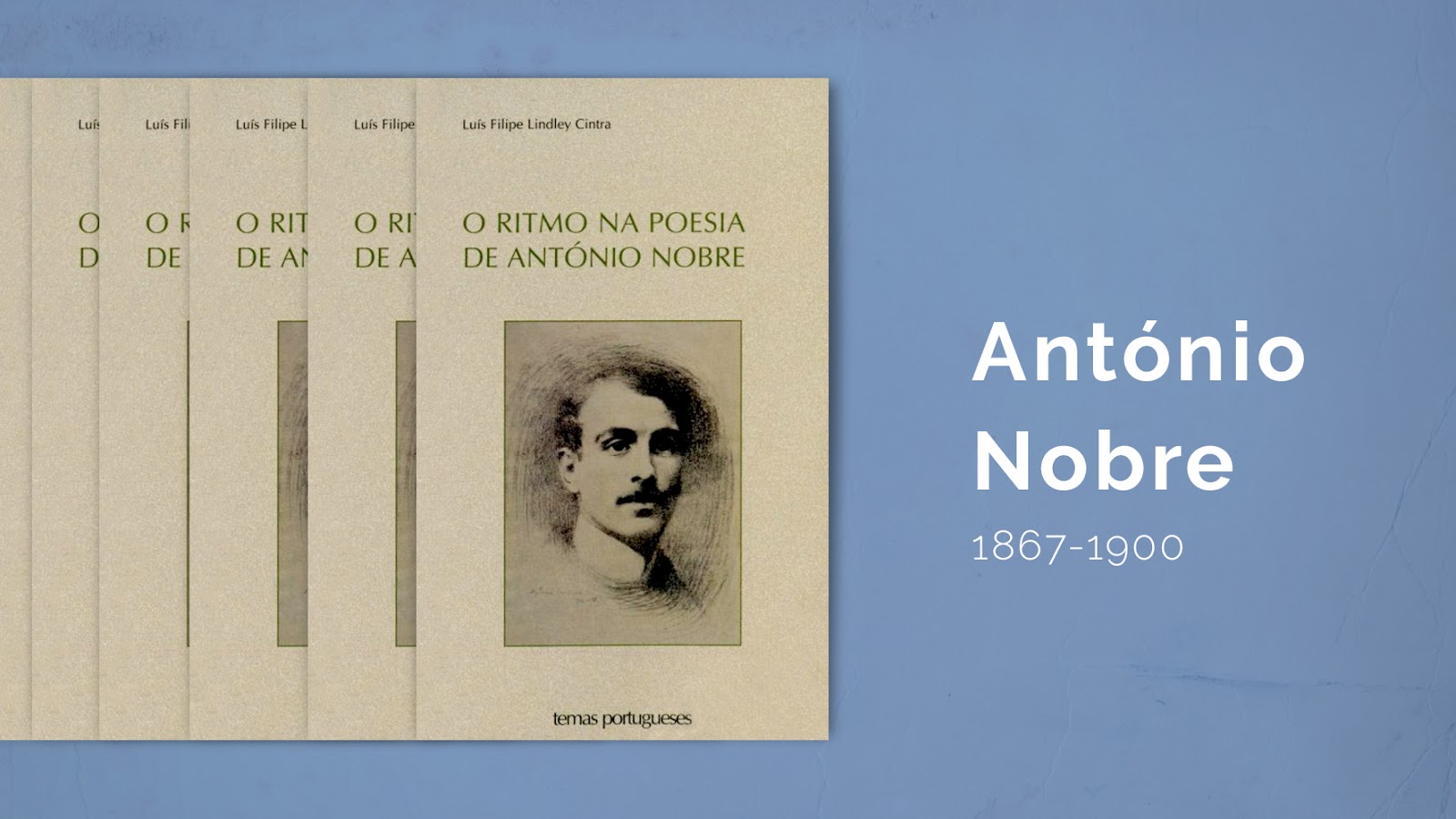
António Nobre (1867-1900)
18 Março 2019
-
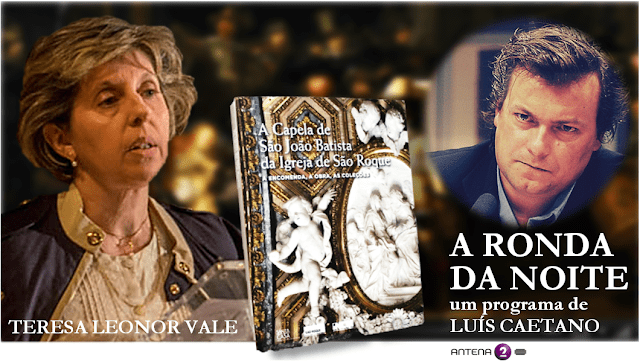
-
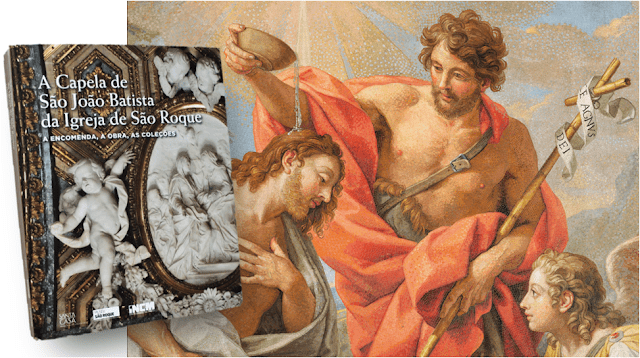
Publicações Relacionadas
-
António Nobre (1867-1900)
Há 2 dias











