Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
Mário Avelar em entrevista — «Barack Obama é também aquilo que Whitman construiu»
A vitalidade dos Estados Unidos da América, a ênfase na crença e nas capacidades pessoais, a abertura para o outro, a noção da responsabilidade em substituição da noção de culpa, a dimensão do desafio e o «just for a change» americano transformaram-lhe a vida. E o que começou por ser um Programa Fulbright na Universidade do Minnesota, em 1985, revelou-se uma viagem determinante para o seu percurso. Mário Avelar era então assistente estagiário, já com a nomeação definitiva, num dos mais prestigiantes departamentos da Academia portuguesa: Estudos Anglísticos da Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa. Depois, veio a vontade de experimentar desafios novos e fez «o que mais ninguém tinha feito até ali»: já doutorado e com a nomeação definitiva, trocou o certo pelo incerto e transferiu-se para a então embrionária Universidade Aberta.
Hoje, permanece por lá, onde ensina a relação entre a poesia e as artes visuais. Ora com poetas ingleses, ora com americanos. Motivos mais que suficientes para que fosse ele o escolhido para assegurar o lado anglo-saxónico da coleção «O Essencial sobre…», chancela INCM. Inaugurou-a, em 2012, com Shakespeare, o maior dramaturgo de todos os tempos. Durante a pesquisa que fez, surpreendeu-o a abundância de material à volta do poeta inglês que morreu há precisamente 400 anos. O que propicia, por vezes, a «alucinação» como aquela de se querer atribuir a autoria da obra shakespeariana à rainha Isabel I ou a Edward de Vere. Quanto à ideia de um Shakespeare «meio tonto, meio boçal», diz Mário Avelar, é completamente «irrealista». «Shakespeare é Shakespeare» e ponto final. É o «inventor da heteronímia», o humanista que «conseguiu explorar o ser humano na pluralidade de que todos nós somos feitos», é o autor que consegue «dar-nos personagens para os diferentes momentos da nossa vida», além de profundamente cinematográfico e musical. Verdi, Purcell, Welles ou Kozintsev souberam-no bem.
E se o bardo inglês pertence já ao património literário universal, como pertencem Cervantes ou Molière, por cá faltam programas mais integradores nas escolas para o fazer chegar mais cedo aos alunos. Já ao nível das traduções, Shakespeare «não vai de todo mal servido». O rei D. Luís I, Álvaro Cunhal, Carlos de Oliveira, Sophia, Vasco Graça Moura e mais recentemente António Feijó, sem descurar o trabalho levado a cabo pela equipa da Faculdade de Letras, da Universidade do Porto, asseguram a qualidade da obra do inglês na versão portuguesa. E, de Shakespeare, Mário Avelar passou para Walt Whitman, o poeta pai de uma nação que pôs todos os outros poetas a dialogar com ele. Pessoa também. Contemplado no Essencial n.º 124, trazido a lume em 2014, foi Whitman quem declarou a independência poética dos Estados Unidos e quem construiu pela primeira vez uma epopeia americana: Folhas de Erva. Uma epopeia do aqui e do agora, como nos explica o famoso verso de Song of Myself: «there was never any more inception than there is now».
Mais do que uma entrevista, o que vem a seguir é um verdadeiro roteiro pela Literatura inglesa e americana, com muito wit à mistura, essa palavra intraduzível mas que reúne perspicácia, inteligência, sagacidade, argúcia e humor. Paragem ainda obrigatória num certo bar de Minneapolis ao som de Bruce Springsteen com uma Harley Davidson estacionada à porta, e depois em todos os pecados capitais. Muito particularmente n’A Inveja, título de um dos romances de Mário Avelar e palavra término da epopeia nacional… Duas horas de conversa que passaram a voar. À boa maneira anglófona, «Time flies when you’re having fun»!
 PRELO (P) — É o autor de O Essencial sobre Shakespeare, obra da chancela INCM, trazida a lume em outubro de 2012. Deve ter sido um desafio enorme escrever em apenas 168 páginas o essencial sobre o maior dramaturgo — e poeta — de todos os tempos. Foi um desafio, Mário Avelar?
PRELO (P) — É o autor de O Essencial sobre Shakespeare, obra da chancela INCM, trazida a lume em outubro de 2012. Deve ter sido um desafio enorme escrever em apenas 168 páginas o essencial sobre o maior dramaturgo — e poeta — de todos os tempos. Foi um desafio, Mário Avelar?
Mário Avelar (MA) — Foi um desafio muito grande. Curiosamente, foi um desafio que eu coloquei a mim próprio. Quando o Duarte Azinheira me disse que pretendia reconfigurar o perfil desta coleção [Essencial] e abri-la para outros horizontes literários e culturais, convidando-me para assegurar o lado anglo‑americano, eu respondi-lhe que o primeiro livrinho teria de ser Shakespeare.
P — Estamos a falar de um Essencial sobre alguém que assinou 38 peças, 154 sonetos e vários poemas…
MA — Exatamente. Foi indiscutivelmente um desafio muito grande. Eu já tinha lecionado Shakespeare há muitos anos. Algures entre finais dos anos 1980 e início dos anos 1990. Simplesmente, Shakespeare é um autor que está a ser sistematicamente objeto de investigação e de produção de obras muito relevantes. Ainda há semanas no Times Literary Supplement faziam uma resenha de obras que tinham saído entretanto em Inglaterra, e eram na casa das dezenas. Portanto, a investigação sobre Shakespeare que eu tinha feito há vinte e tal anos para lecionar já estava parcialmente ultrapassada, e havia imensos dados novos. Nomeadamente, desde início do novo século surgiram uma série de novas obras particularmente importantes em termos da biografia. E aqui é que residia o problema em relação a Shakespeare.
O que significa que eu tive de ler uns milhares de páginas para poder atualizar os meus conhecimentos sobre este assunto, tendo em conta que a minha área de investigação, não só mas também, era a literatura americana. Estava, portanto, a entrar em terrenos que não eram os da minha investigação dura. Logo, foi um grande desafio, sim.
P — William Shakespeare morreu precisamente há 4 séculos, mas as suas obras continuam a ser muito analisadas pelos académicos, como acabou de referir. Para si, onde reside a intemporalidade e a modernidade da obra de Shakespeare?
MA — A modernidade, é, em certa medida, construída por ele próprio. Ele vive num tempo de transição da época medieval para a época renascentista. E isso pode ser percetível, por vezes, dentro da mesma peça, em circunstâncias tipicamente medievais, por exemplo, os augúrios, os presságios, um determinado tipo de universo mais determinista…

P — Vemos isso muito bem em Hamlet, por exemplo…
MA — Exatamente. E depois, e ao mesmo tempo, Shakespeare tem dimensões muito modernas, como por exemplo, os tipos de heróis que são já maquiavélicos. Caso concreto: Ricardo III. Ricardo III é, em certa medida, inspirado pelas personagens dos milagres medievais, onde há uma distinção clara entre o bem e o mal… Mas Shakespeare leva-o além disso: torna-o uma personagem humana e, nesse sentido, uma personagem maquiavélica, alguém que está a desenvolver um determinado tipo de estratégia para chegar ao poder e para se manter no poder. Portanto, vemos um Shakespeare que pega em coisas que pertencem ao passado mas que estão já a voltar-se para o futuro.
P — E Shakespeare vem colocar de modos novos a própria condição humana, não é assim?

MA — Exatamente. E essa questão é particularmente interessante. Por exemplo, numa peça de que eu gosto muito que é o Ricardo II. Nesta peça, há um momento em que ele está a ser objeto de um complô para o depor, numa altura em que se considerava que o rei era soberano por direito divino. E ele tem um solilóquio muito bonito, em que está a meditar e a ver-se ao espelho, e começa a questionar a sua própria humanidade, a sua própria fragilidade, e acaba por partir o espelho.
Este tipo de cena quase que faz antecipar Freud, faz antecipar muitas daquelas dúvidas que nós associamos ao século XX. Aquilo que era ideia de um monarca por direito divino, uma personagem quase transcendente, nesta peça é humanizada.
P — Shakespeare é já um humanista.
MA — É exatamente isso também.
P — Fala-me do Ricardo II, mas há tantas personagens marcantes. Otello, Hamlet, Lear, Macbeth, Ricardo III, Romeu… Consegue eleger uma preferida? Qual e porquê?
MA — Shakespeare dá-nos personagens para os diferentes momentos da nossa vida. E mesmo para os diferentes momentos do nosso dia. Nós não estamos sempre com o mesmo sentido de humor, não estamos sempre com o mesmo estado de espírito.

Há uma personagem de que eu gosto muito. É o Falstaff, um tipo folgazão, que gosta de beber, que gosta de se divertir, é um boémio. É engraçado, o Falstaff dá origem a duas obras que não são meras adaptações de textos shakespearianos e que são duas obras cimeiras nas suas formas de expressão artística: o Falstaff de Verdi e, aquela que alguns críticos consideram a melhor transposição de Shakespeare para o cinema, que é As Badaladas da Meia‑Noite, de Orson Welles. As Badaladas da Meia‑Noite é um filme que Orson Welles compôs a partir de várias peças de Shakespeare, e cuja personagem central é o Falstaff. É um filme absolutamente espantoso!
Mas há outros momentos do dia em que nós nos podemos sentir absolutamente Hamlet. E, para quem está próximo do poder, aí temos muitas personagens, desde o Rei Lear ao Júlio César… É difícil, podermos indicar uma personagem preferida tendo em conta que nós próprios somos reflexos prismáticos de muitas delas.
P — Não consegue, portanto, eleger uma personagem que lhe cause mais fascínio?
MA — Talvez, em última análise, o Hamlet.
P — Falou-me agora mesmo de cinema e, de facto, as peças de Shakespeare além de serem representadas no teatro inspiram também, e muito regularmente, o cinema. Só para relembrar mais algumas, temos o Romeu e Julieta, de Franco Zeffirelli (1968); Hamlet, de Laurence Olivier (1948); Macbeth, de Roman Polanski (1971); Rei Lear, de Peter Brook (1971); A Paixão de Shakespeare, de Jonh Madden (1998). Sabendo, à partida, que se pode perder sempre qualquer coisa da obra original, acha que Shakespeare é cinematográfico?
MA — Acho que Shakespeare é profundamente cinematográfico. E é-o, nomeadamente, através da própria palavra. Há uma adaptação do Hamlet, por parte de um cineasta soviético, o Grigori Kozintsev, dos anos 1960. É um filme absolutamente espantoso. Há uma referência, logo de início, no texto shakespeariano, ao barulho do mar. E toda a parte inicial do filme é feita exatamente junto ao mar, com o som das ondas sempre ali. Ou seja, uma palavra apenas — fala-se no mar — e este realizador pega exatamente neste aspeto para criar todo um determinado tipo de atmosfera — que é melancólica, que é tensa: e o mar torna-se banda sonora.
P — Shakespeare é cinematográfico, como é musical…
MA — Aliás, ele é o primeiro — reforço, ele é o primeiro — dramaturgo inglês a introduzir a música como elemento estruturante da peça. Também a esse nível há uma inovação da sua parte, e, ao mesmo tempo, pontos de contacto com estratégias cénicas atuais.
P — Apesar da intemporalidade e atualidade da obra, Shakespeare continua a ser um mistério para nós. É de tal maneira misterioso que serve a uma teoria da conspiração vastamente popular. Por exemplo, existe a teoria oxfordiana sobre a autoria de Shakespeare, que defende que Edward de Vere escreveu as peças e os poemas que são tradicionalmente atribuídas a um comerciante de Stratford upon Avon… Concorda com esta teoria?
MA — Uma das coisas que me impressionou, e de que eu não estava à espera, quando estava a fazer a investigação sobre ele foi o número de biografias, muito bem feitas, nos últimos quinze anos e a quantidade de informação que constatei que existia acerca dele.
P — Informações divergentes?
MA — Não. Complementares. Muito complementares. Há umas que ficam na dúvida. Em meados do século XVI o tipo de fontes que existiam não eram obviamente as que existem hoje em dia, e no entanto conseguimos saber, até o pormenor, o momento em que foi batizado e, por exemplo, quem é que o levou ao colo [risos].
P — E, em relação, àquela coincidência do dia de nascimento e morte: 23 de abril. Acredita que isto seja verdade?
MA — Isso é especulação. De facto, sabemos que ele morre a 23 de abril [1616]. Quanto ao nascimento há três datas possíveis, e o 23 de abril é uma delas. Os outros ou são os dois anteriores (o 21 e o 22) ou dois seguintes (24 e o 25). Há imensas referências nas peças: «Autoria de…» com o nome dele, William Shakespeare. As pessoas podem dizer: «Sim, mas não há textos manuscritos…» Temos de ter presente que o mundo do teatro naquele tempo era completamente diferente do dos dias de hoje. Aliás, completamente diferente do dos tempos de Molière, de Racine. São universos completamente distintos.
No teatro isabelino os autores escreviam para representações quase imediatas. Há, portanto, uma dimensão de imediatismo, e muitas das vezes não existe um texto único. Existem os tais rolos — e daí a palavra role em inglês — para cada personagem. Era tudo trabalhado em cima do momento. Portanto, eram condições de escrita completamente diferentes. E encontramos muitas referências, que eu fui assinalando ao longo de O Essencial…, relativamente a essas presenças e a pessoas que com ele foram convivendo.

E há depois um aspeto que costumo sempre referir, que é o seguinte: imagine-se que quando José Saramago morreu António Lobo Antunes tinha escrito: «Morreu o maior entre nós». Ora, naquela altura, o grande «rival» de Shakespeare era o Ben Jonson, que era mais novo do que ele e em cujas peças o próprio Shakespeare chegou a representar; há referências a isso em programas das peças. Sabe-se que personagens interpretou nas suas próprias peças, as reações que houve: uns diziam que era um ator razoável, outros diziam que não era muito bom. Alguém disse, mais ou menos a brincar, que o melhor papel que fez foi de fantasma no Hamlet. Aquando da morte de Shakespeare, Ben Jonson escreve: «Morreu o maior entre nós». Ora, era preciso uma teoria da conspiração tão elaborada que eu penso ser praticamente impossível que gente brilhante, como Ben Jonson, fosse atribuir a autoria das peças de Shakespeare a alguém que não fosse Shakespeare. Londres na altura era uma grande urbe — só Paris e Nápoles eram maiores que Londres —, mas aquela gente do mundo do teatro conhecia-se toda. Portanto, aquela ideia, que foi levada para o cinema, de um Shakespeare meio tonto, meio boçal acho que é completamente irrealista.
|
|
P — Há ainda quem atribua a autoria da obra à própria rainha Isabel I!
MA — Pois, é. Há, de facto, muita alucinação. E muito disso tem a ver com desconhecimento face à investigação muito séria, fundamentada, que tem vindo a ser feita ao longo dos anos. O que me surpreendeu na minha pesquisa não foi a ausência de coisas, foi a abundância. Por exemplo, nós em relação ao testamento até sabemos quantas libras é que ele deixou aos amigos dele, aos atores com quem ele trabalhava…
P — Shakespeare morreu rico?
MA — Ele não era propriamente rico, mas vivia desafogadamente. Tinha comprado para a família a segunda maior casa de Stratford upon Avon e possuía muitos bens em Stratford. Aliás, é curioso que ele nunca se preocupou em adquirir uma casa em Londres. Saiu de Stratford muito jovem e a família ficou por lá. Temos notícia de que ele regressaria a Stratford com alguma regularidade — há dados, que tem de ver com questões notariais, compras de terrenos, celeiros… Portanto, não era propriamente um indivíduo rico, mas era abastado.
P — Então, para si, não existem pretendentes válidos a serem o verdadeiro Shakespeare, a não ser aquele comerciante de Stratford upon Avon?
MA — Para mim Shakespeare é aquele Shakespeare. Por tudo aquilo que li ao longo dos anos e tudo aquilo que vai continuando a sair e eu vou continuando a ler. Há uns tempos, a propósito dos inúmeros estudos que se faziam, em Portugal dizia-se: «Tanto Pessoa, já enjoa». Uma das coisas impressionantes em Inglaterra é que quase todas as semanas saem livros novos sobre Shakespeare.
P — Acredito que para os estudiosos, como é o caso do Mário Avelar, estas teorias mais ou menos conspirativas não sejam muito importantes. O legado literário deve ser mais interessante. Mas o que é que gostaria muito de descobrir sobre William Shakespeare ou sobre a sua obra que ainda ignora?
MA — Haverá sempre uma curiosidade relativamente ao perfil dele. Penso que isso é legítimo, embora, de facto, Shakespeare seja uma personagem profundamente esquiva.
É difícil responder. Porque, quanto mais vamos estudando, lendo e vendo, mais coisas vamos querendo saber. Falou há pouco do cinema. O cinema é também um mundo, a esse nível. Há um novo filme sobre Macbeth, com uma nova leitura de Macbeth… Existe, de facto, uma riqueza a nível dos personagens e da sua capacidade de verbalizar as coisas — isto é um aspeto muito importante. E porquê? Naquela altura, praticamente não havia efeitos especiais. Bom, havia os efeitos especiais para a época (não tinham nada a ver com os de hoje), o que significa que tudo se estava a ocorrer em cena. Passava tudo pelo que os atores diziam e também pela capacidade de criar imagens, criar situações numa linguagem muito alusiva, que é algo muito anglo-saxónico. Nós, enquanto latinos, tendemos a ser muito literais; no mundo anglo-saxónico há uma outra dimensão: a sugestão, a palavra que sugere, a alusão, os trocadilhos… Ora, Shakespeare teve toda essa capacidade de explorar, através da riqueza da linguagem, o ser humano na pluralidade de que nós todos somos feitos.
P — Apesar de ser universal e dos autores mais conhecidos vindos de Inglaterra, porque é que Shakespeare continua a ser desconhecido nas escolas em Portugal?De facto, no ensino obrigatório os alunos não estudam Shakespeare, como não estudam Molière… Não acha bizarro?
MA — Penso que tem muito que ver com a complexa realidade em que nós vivemos hoje em dia, em que a própria cultura literária é olhada com alguma suspeição. O que interessa, muitas vezes, é que seja um texto. Nivelam-se os textos. Não interessa que seja um texto de Shakespeare ou um texto jornalístico. O que interessa é a comunicação. E as coisas, na minha opinião, não são assim. Há uma densidade, uma complexidade, uma capacidade de nos ajudar a descobrir a nós próprios e aos outros, que encontramos nos textos shakespearianos e que não encontramos (nem tínhamos de encontrar) num texto jornalístico, por exemplo. Dito isto, num tempo em que esta dimensão é muito esquecida, eu diria que é perfeitamente natural que Shakespeare seja uma ausência.
P — Efetivamente, no ensino obrigatório temos a disciplina de Português ou Literatura Portuguesa. E o tempo com certeza será pouco para ensinarmos os nossos autores, os nacionais. Mas pergunto-lhe, e tendo em conta a universalidade de Shakespeare — como a de Molière ou a de Cervantes — se não será uma falha?
MA — Poderiam surgir em programas mais integradores. Qualquer um deles pode surgir em programas de História, pode surgir em programas de Língua, em programas de Literatura. Quando estamos a estudar ou a ensinar Gil Vicente poderíamos e deveríamos sinalizar essas pontes. A dificuldade poderá surgir por parte de quem organiza esses programas, que não consegue lançar essas pontes, ou de quem leciona que não consegue superar essas lacunas.
Eu tenho um exemplo familiar muito interessante. O meu filho mais novo, quando estava no 11.º ano, foi para uma nova escola com um novo professor de Português. O meu filho era profundamente avesso à leitura. Um dia chego a casa e dou com o rapaz a ler uma Bíblia. Até era uma Bíblia mais decorativa, não aquela que eu uso para trabalhar. O certo é que o rapaz estava a ler a Bíblia e porquê? Na escola estava a estudar Gil Vicente, o professor tinha-lhe chamado a atenção para a pintura do Hieronymus Bosch e para determinados espaços bíblicos. Estabeleceu ali uma relação com essas três dimensões. Esse professor, que na altura não conhecia, é um jovem poeta que se chama António Carlos Cortez. O meu filho tinha uma amiga, que tinha permanecido na escola antiga, e ele brincava com ela porque ela estudava textos jornalísticos, enquanto ele estava a estudar Gil Vicente. Portanto, a maior parte das vezes, tem de partir de nós essa capacidade de relacionação, as coisas não têm de estar necessariamente no programa. É importante motivar os jovens a fazerem essas descobertas, esse exercício de relacionamento. Afinal, Shakespeare não é português…
P — É universal.
MA — Sim, é universal. Mas há determinadas formas de sentir que decorrem de uma determinada especificidade cultural. Por exemplo, os Monty Python não são portugueses, e nós portugueses temos muitas dificuldades em lidar com aquele sentido de humor. Nunca se fez humor em Portugal semelhante ao dos Monty Python. As pessoas dizem, às vezes, que os Gato Fedorento são semelhantes aos Monty Python. Isso é um disparate. Não são. Não é pelo facto de uma pessoa dizer uma piada com um ar sisudo que é idêntico aos Monty Python. Há um crítico norte-americano, o Harold Bloom, que diz que o princípio do Monty Python são algumas peças de Shakespeare. Com a dimensão do sentido de humor indireto, alusivo, que põe as pessoas a raciocinar. Está muito relacionado com a palavra wit. Nós não temos uma palavra para traduzir wit. Porque wit é humor, mas é também fineza, é também intelecto. Agora há séries muito boas na televisão, como o Inspetor Morse, que convivem muito bem com esta palavra wit. Ou seja, eu compreendo que Shakespeare não esteja cá, como não está Cervantes ou Molière. Não têm que estar. Mas podem, devem aparecer.
P — Não lhe pergunto como é que Shakespeare chegou até si, pergunto, sim, se se lembra de como é que chegou até Shakespeare?
MA — [risos] Não! Não me consigo lembrar. Começa na faculdade. As minhas memórias literárias antes da faculdade, curiosamente, têm sobretudo a ver com os romancistas russos. Dostoievski, principalmente. Eu li Shakespeare antes de entrar para a faculdade, mas não é daí que eu me lembro. Eu podia responder-lhe: «Li Shakespeare aos 16 anos; foi um encontro determinante e revelou-se.» [risos] Seria mentira. Os russos, sim, marcaram-me muito na minha adolescência. E alguns portugueses também: Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano, Eça de Queirós, Almeida Garrett. Toda esta gente me marcou muito. O Shakespeare, só depois e, muitas vezes, através de outros. E aí entra a literatura americana.
P — Para assinalar os 400 anos da morte do bardo inglês, várias são as iniciativas. Por exemplo, o Teatro D. Maria II e o São Luiz, entre julho e agosto, apresentam vários espetáculos portugueses e internacionais a partir da obra de Shakespeare, ocupando as suas diversas salas mas também o espaço público da cidade. Trata-se do Glorioso Verão — Festival Shakespeare. Acha as escolhas acertadas?
MA — Em relação ao ciclo de cinema, faz todo o sentido. Acho, apenas, que falta As Badaladas da Meia-Noite de Orson Welles. Quanto ao resto, quando se faz uma programação destas, fica tudo de fora. O que importa é que o que é selecionado seja coerente. E o programa deste festival parece-me perfeitamente coerente. Aliás, acho-o excelente.
P — Enquanto especialista de literatura inglesa, acha que a obra de Shakespeare está bem traduzida para português? Quem são para si os grandes tradutores de Shakespeare para português?

MA — É muito complicado dizer, nomeadamente porque está em curso, desde há muitos anos, por parte dos colegas da Faculdade de Letras, da Universidade do Porto, um projeto de tradução da obra completa de Shakespeare. São edições muito bem feitas, muito atualizadas em termos de informação, que eu, inclusive, utilizei para o Essencial. O que eu acho que será simpático dizer é que a tradução feita pelo rei D. Luís é muito considerada pelos poucos shakespearianos portugueses que existem, por exemplo, Rui Carvalho Homem. É uma tradução que envelheceu muito bem, apesar de ser em prosa. Esse é um dos problemas de sempre quando se está a traduzir poesia do inglês, que é uma língua muito monossilábica. A questão do pentâmetro jâmbico e a questão da própria cadência. Depois, a tradução que Álvaro Cunhal faz do Lear; as traduções particularmente complexas dos Sonetos de Vasco Graça Moura; as traduções de alguns, poucos (ele traduziu poucos), Sonetos feitas pelo Carlos de Oliveira, que são muito interessantes, nomeadamente em termos da captação da dimensão visual e daquele esforço de síntese de que o Carlos de Oliveira era capaz; as traduções dele são para mim do melhor. Uma das traduções mais recentes de que eu gostei muito foi a do Hamlet por António Feijó. A nível de tradução acho que não se pode dizer que Shakespeare esteja mal servido no nosso país.
P — E o Mário Avelar já se aventurou pelos caminhos da tradução de Shakespeare?
MA — Não, não. Não faz parte do meu programa! [risos]
P — Quando é que a obra de Shakespeare começou a ser conhecida em Portugal? Quem a divulgou?
MA — A obra de Shakespeare começa a ser conhecida em Portugal muito cedo. Aliás, há notícias de ele ter sido representado, ainda em vida, num barco, envolvendo marinheiros portugueses. O Hamlet…
P — Que curioso! Havia representações nas embarcações para entreterem os marinheiros.
MA — Exatamente. Mas o verdadeiro marco, quando ele começa realmente a ser conhecido, é o Rei D. Luís.
P — Que peça aconselharia a quem nunca leu, ouviu ou viu Shakespeare? Uma peça de iniciação, chamemos-lhe assim…
MA — Creio que muitas das pessoas pensarão de imediato no Hamlet. Mas temos de ter em conta uma série de fatores. As peças têm uma certa extensão. Há um filme muito curioso do Al Pacino de finais dos anos 1990. A tradução do filme para português é À Procura de Ricardo III, o título original é Looking for Richard. É curioso porquê? Em termos de género cinematográfico, podemos considerar os documentários e os mockumentary, isto é um «documentário simulado». E este filme é um mockumentary, mas o espectador só se apercebe disso a determinada altura. O «documentário» é sobre a tentativa do Al Pacino levar à cena Shakespeare — em particular Ricardo III — nos Estados Unidos da América. Como é que os americanos lidam com Shakespeare? Qual a dificuldade que o ator americano tem para representar Shakespeare? O Al Pacino vai entrevistando atores americanos, entrevista grandes atores ingleses, por exemplo a Vanessa Redgrave, Sir John Gielgud. A um determinado momento, o Al Pacino pergunta‑lhe: «Porque é que os atores americanos têm tanta dificuldade em representar Shakespeare?» E o John Gielgud responde-lhe com aquela pose algo snob: «Talvez seja porque não vão tanto a museus como nós». Enquanto está a fazer estas entrevistas, vai‑se reunindo com um grupo de amigos com os quais reflecte sobre o modo como hão de levar Shakespeare à cena. E a primeira questão é a edição que vai utilizar. E depois vão-se questionando sobre os mais variados aspetos hermenêuticos. Isto tudo para dizer que nós não estamos habituados a focar a nossa atenção (quando vamos ao cinema, mesmo quando lemos) na palavra. Mais uma vez, a questão alusiva, o que pode significar quão importante é a escolha da palavra certa. Nós não estamos habituados a isso. Consequentemente é difícil dar esse conselho. Depende da pessoa que está em causa. Macbeth é uma peça relativamente curta, tem lá aqueles ingredientes todos: traição, morte, sedução — é quase uma peça gótica. Depende também do temperamento. Pode ser uma comédia, por exemplo. Pode ser A Tempestade, uma peça completamente alucinante face à própria obra do Shakespeare. Vai também depender muito da faixa etária da pessoa, do meio sociocultural em causa também, até das questões raciais, o judeu em O Mercador de Veneza, o negro em Othello.
 P — Isso que me está a dizer só vem comprovar o quão transversal Shakespeare é. Escreveu também O Essencial sobre Walt Whitman, o poeta da revolução americana. O que é essencial saber-se sobre ele?
P — Isso que me está a dizer só vem comprovar o quão transversal Shakespeare é. Escreveu também O Essencial sobre Walt Whitman, o poeta da revolução americana. O que é essencial saber-se sobre ele?
MA — O que é que é essencial saber-se sobre Walt Whitman? Excelente pergunta! Portanto, fazer O Essencial do Essencial sobre Walt Whitman! [risos]
P — Isso!
MA — Quando eu e o Duarte Azinheira decidimos que o primeiro Essencial seria sobre Shakespeare, decidimos que o segundo seria sobre Walt Whitman. Porque ele é uma espécie de pai da poesia americana. Não vou, obviamente, dizer da literatura em geral, porque ele é basicamente poeta. O essencial sobre Walt Whitman é isto: ele vive também num tempo particularmente conturbado da vida dos Estado Unidos da América. Ele nasce quarenta anos depois de a nação ter sido fundada, e vive aqueles primeiros anos da construção da identidade americana. Na altura, os americanos, em termos estéticos, estavam ainda muito próprios dos ingleses: a poesia era escrita de acordo com os cânones ingleses, a pintura era muito inspirada nos mestres europeus; era, portanto, uma nação que ainda não tinha construído a sua identidade estética. E é aqui que entra o Whitman.
É muito curioso ver as reações escritas logo aquando da primeira edição de Folhas de Erva. As pessoas questionavam-se: «Isto é um livro de poemas? Um livro que não tem o nome do autor na capa mas que exibe uma fotografia do autor?» Com efeito, a fotografia — o daguerreótipo — inicial é particularmente exótica, porque não é, como habitual, uma fotografia que destaca a cabeça — o intelecto — mas que revela o corpo numa pose algo negligente. Aliás, Whitman contrata um artista para trabalhar o daguerreótipo de modo a diluir o corpo dando-lhe um ar algo esfumado, a imagem do autor é, deste modo, uma construção. Logo desde o princípio, Whitman começa a fazer uma coisa absolutamente singular: faz acompanhar a escrita da imagem, e da transformação da sua própria imagem ao longo das diferentes edições. No fundo ele reescreve um livro ao longo da vida, um livro que envelhece com ele, e as suas imagens evidenciam esse envelhecimento. Há depois uma outra dimensão, a de conseguir construir, de facto, pela primeira vez, uma epopeia americana.
P — Podemos então dizer que Folhas de Erva está para a literatura americana como Os Lusíadas estão para a literatura portuguesa?
MA — Absolutamente. Sim! Em termos de epopeia sim, apenas com uma diferença. É que Folhas de Erva é um texto fundador. Enquanto Os Lusíadas surgem na sequência de uma tradição, Whitman inaugura uma tradição. Além disso, ele escreve uma espécie de epopeia ao contrário. Enquanto normalmente a epopeia se situa num passado mítico, remoto, fundador, a epopeia dele é o aqui e o agora; é o tempo presente. Ele tem aquela expressão famosa «There was never any more inception than there is now» [Nunca houve mais início do que agora]. Portanto, é o agora.
P — Fernando Pessoa, admirador de Whitman, escreve também sobre a ambição de um Quinto Império na Mensagem… um projeto de futuro.
MA — Sim. Pessoa podemos e devemos ligá-lo a Walt Whitman.
P — Temos um Álvaro de Campos que saúda Walt Whitman na sua Ode Marítima. De que maneira podemos e devemos avaliar a relação entre Fernando Pessoa e Walt Whitman, através da análise do impacto que o autor de Leaves of Grass [Folhas de Erva] tem no heterónimo Álvaro de Campos?

MA — Uma das nossas reputadas scholars, Maria Irene Ramalho, da Universidade de Coimbra, é autora de estudos sobre o eco de Whitman em Pessoa que influenciaram a perceção que Harold Bloom apresenta em O Cânone Ocidental. Neste livro, quando Bloom escreve sobre Fernando Pessoa, ele está, afinal, a convocar sempre Maria Irene Ramalho. Aliás, reconhece-o. Importa referir que Fernando Pessoa é o primeiro grande poeta português de formação anglo-saxónica; algo que obviamente ecoa na sua poesia, como a dimensão heteronímica que Maria Irene Ramalho assinala com uma leitura muito singular. Com efeito, a heteronímia «surge» com Shakespeare, com todas aquelas personagens que referimos. A partir delas constrói‑se o tal «prisma» que nós somos. Por exemplo, o Iago — esperemos que não acha muito Iago dentro de nós, mas há de haver um bocadinho. Como há um bocadinho de Ricardo III, de Ricardo II, de Hamlet, de Falstaff… Enfim, dessa «rapaziada toda». Há um desdobrar em imensas personae que Walt Whitman verbaliza em o «Canto de mim Mesmo». Em determinado momento do poema, ele conclui: «mas este não sou o verdadeiro eu». Noutro instante dá voz àquilo que refere ser a sua alma. Ou seja, só em «Canto de mim Mesmo» ele revela três «máscaras», se quisermos; três facetas que vão aparecendo ao longo do poema, que vão conflituando entre si. A determinada altura interroga: «Do I contradict myself? / Very well then I contradict myself; / (I am large, I contain multitudes.)» Há pessoas até que, numa leitura mais redutora, associam esta polifonia tripartida à tipologia freudiana, ao ego — me, ao superego — soul, e ao id — the real me, the Me myself. Ora, Maria Irene Ramalho estabelece uma certa ligação com algumas das facetas de Fernando Pessoa. O «eu» celebratório corresponderá a Álvaro de Campos, o «Me myself» a Caeiro e a «soul» a Ricardo Reis. Todos estes ecos têm, portanto, muito a ver com a influência da cultura anglo-saxónica e de Walt Whitman, em particular.
P — Cultura essa que Fernando Pessoa vai adquirir nos anos da sua estada na Africa do Sul?
MA — Exatamente. Em tempos, a Professora Ivete Centeno contou-me que, quando ela era ainda uma jovem assistente, o Professor Eduardo Lourenço lhe falou do espólio de Fernando Pessoa e da sua Biblioteca, e que seria interessante consultá-la devido à presença de livros de Whitman; seria, por exemplo, interessante ver eventuais anotações de Pessoa. Os ecos formativos da cultura anglo-saxónica em Pessoa têm sido, afinal, objecto de uma constante investigação e descoberta.
P — Recuemos a Folhas de Erva, um livro reescrito ao longo de toda a vida de Whitman, que começou por ser um livro de 12 poemas e acabou como uma coletânea de 400 poemas, tornando-se num marco da história da literatura americana, como, aliás, acabou de referir. Qual é a importância de Folhas de Erva para a literatura e para a atualidade dos Estados Unidos da América?
MA — Há um aspeto muito curioso que é provavelmente único, em termos da literatura universal: a necessidade de dialogar com Whitman que os poetas americanos foram tendo ao longo dos tempos. É algo de absolutamente único. Whitman, num dos seus últimos poemas, diz «agora fico aqui à tua espera». E parece que houve sempre uma necessidade de os poetas responderem a isso, a esse convite. Hart Crane, com A Ponte, de alguma forma responde a esse convite. Wallace Stevens, com as Notas para uma ficção suprema, também, ou Allen Ginsberg, ou Gregory Corso… Foram muitos os poetas que foram tentando dar resposta a essa ideia de epopeia. É quase como se cada poeta americano escrevesse um canto dessa epopeia, que é a epopeia americana.
O que é muito curioso tendo em conta que a epopeia é um género poético que caiu muito em desuso no século XX. Nós temos, de facto, a Mensagem. Um colega já desaparecido, Manuel Ramos Ribeiro, disse-me, em tempos, que a Praça da Canção, de Manuel Alegre, poderia revelar traços épicos, mas isso é algo que emerge pontualmente, não faz parte da mundividência poética contemporânea. Nos Estados Unidos é diferente. Essa é a vitalidade que Whitman introduziu, que verbalizou, sinalizando a singularidade de cada um.
P — Um filme marcante para a minha geração — e, suponho, não só — faz alusão a um dos poemas de Whitman com a célebre frase «O Captain! my Captain!»…
MA — Pois, com certeza. O Clube dos Poetas Mortos! [risos]

P — Também aqui Whitman é atual e cinematográfico…
MA — Exatamente. No fundo faz referência a uma fase do Whitman de que eu gosto em particular, uma fase que o marcou profundamente: a da Guerra Civil. Esta fase dá-nos uma outra dimensão — e aqui, contrariamente a Shakespeare, temos muito mais informação sobre a pessoa, a distância no tempo é muito menor, e as fontes abundam. Os poemas que escreve nesta altura revelam o impacto que a guerra teve nele: a reiterada presença da morte, a vida e morte de Lincoln, que ele celebra nesse poema.
No entanto, não é para a desiludir, mas ele não gostava muito desse poema. Ele teve a perceção clara de que tinha escrito algo que teria um impacto imediato nas pessoas. E ele sabia que tinha escrito outros poemas melhores mas que não teriam nunca o mesmo impacto. E esse realmente teve. Tem aquele ritmo, aquela cadência, aquelas repetições; é tudo muito forte, e isso toca qualquer pessoa, como é lógico.
P — Whitman, ao contrário de Pessoa, é, portanto, reconhecido em vida. Correto?
MA — Sim, sim. Ele é reconhecido em vida. Era uma personagem que tinha um grande impacto. Era «um bárbaro» irreverente. Repare na própria maneira como se vestia: não aparecer de gravata ou laço, por exemplo, como na fotografia da primeira edição de Folhas de Erva, de camisa aberta e com um «chapéu à cowboy». Não era alguém que integrava o establishment literário, mas foi claramente reconhecido. Aliás, foi amiúde convidado para fazer conferências ao longo da vida. E, este aspeto é importante, ele é reconhecido pelo cidadão comum. Pense-se, por exemplo, uma vez mais na Guerra Civil, pois este é um momento particularmente relevante. Whitman vai à procura de um dos irmãos que tinha sido ferido em combate; não o encontra nessa altura — encontrá-lo-á mais tarde — mas acaba por passar toda a Guerra Civil a cuidar dos feridos.
P — Este ano, precisamente, uma carta escrita por Walt Whitman em nome de um soldado, o soldado Robert N. Jabo para a sua mulher, foi encontrada por uma voluntária nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos da América. Esta descoberta é relevante para quem estuda este poeta? Traz alguma informação nova?
MA — Uma das coisas que Whitman fazia era precisamente isso: os soldados ditavam-lhe as cartas que queriam enviar às famílias; ele próprio escrevia às famílias quando eles estavam incapacitados de o fazer; e acompanhava os soldados naqueles momentos. Aliás, aquando da sua morte — contrariamente ao que se diz, não era alcoólico, tinha até muito cuidado com a sua saúde — a autópsia revelou que um pulmão já não funcionava e o outro só parcialmente; tudo isso devido às agruras passadas nos anos de guerra. Embora não tenha combatido, esteve sempre perto dos que o faziam, sujeito às doenças mais variadas, pelo que a sua saúde ficou profundamente debilitada para sempre. Em tudo isto ressalta a sua humanidade, e também em episódios aparentemente banais mas tocantes, em gestos muito bonitos. Por exemplo, já velho e doente, foi bater à porta de uma vizinha, também ela idosa, no dia do seu aniversário, para lhe deixar um ramo de flores…
P — É professor de Literatura Inglesa e Americana na Universidade Aberta. Qual das duas prefere ensinar?
MA — Desde há muitos anos — no fundo, desde a dissertação de mestrado — que sempre trabalhei a relação entre a poesia e as artes visuais. A minha dissertação final de mestrado foi sobre a poesia final do Herman Melville, que é o primeiro poeta a escrever nos Estados Unidos um livro só sobre obras de arte. O que significa que, mais do que ensinar Literatura Americana ou Literatura Inglesa, aquilo que tenho feito ao longo do tempo é lecionar literatura que explora esta relação. E isso pode ser em determinados momentos com poetas americanos, e noutros momentos com poetas ingleses, porque o que me interessa muito é essa relação: poesia e artes visuais.
P — Se lhe pedissem um Essencial sobre a Literatura Inglesa, quais os nomes incontornáveis?
MA — Se me pedisse os cinco nomes incontornáveis da Literatura Inglesa seria mais fácil, senão corre o risco de nunca mais me calar [risos].
P — Vamos delimitar, então, a lista. Para si, Mário Avelar, quais são os cinco nomes incontornáveis da Literatura Inglesa?
MA — Então, incontornáveis são: Chaucer é fundamental, com Os Contos de Cantuária. Depois, Shakespeare; e aí acabamos por passar ao lado de todos os outros grandes nomes que Shakespeare ofusca completamente. Depois, o William Wordsworth e o Jonh Keats, isto ao nível dos românticos. Ah, temos o John Milton também. E já vamos em cinco nomes nesta altura do «campeonato»! [risos].
E depois, quando chegamos ao século XIX, temos uma quantidade de romancistas que são poderosíssimos. E a questão também é essa — os Monty Python fizeram um sketch sobre um jogo de futebol entre as seleções dos filósofos orientais e ocidentais. Ora, se nós tivéssemos de fazer uma seleção de autores europeus, ela incluiria uma grande quantidade de ingleses, e se calhar não teríamos nenhum português. De facto, no século XIX temos um número impressionante de autores; as irmãs Brontë, Charles Dickens… E eu sei que estou a deixar uma quantidade enorme para trás.
E no século XX também temos uma quantidade impressionante, quer na prosa quer na poesia.
P — Quer dar destaque a alguns?
MA — Há um (que era americano mas que se naturalizou inglês) que é o T. S. Eliot. Eliot continua a ser uma descoberta. Foi recentemente publicada uma edição dos Collected Poems — um livro absolutamente fascinante, cheio de anotações.
Também gosto muito da prosa do E. M. Forster, a Passagem para a Índia, Um Quarto com Vista sobre a Cidade… Também gosto muito do William Golding, O Senhor das Moscas.
Voltando à poesia, gosto muito de Ted Hughes. As Cartas (selecionadas) dele são fabulosas. E o ser humano que dá corpo àquela poesia é um ser humano que tem sido muito mal tratado por causa daquela relação dele com a Sylvia Plath. Também gosto muito do Philip Larkin.
Há ainda uma série de escritores mais próximos de nós que também aprecio muito. O Ian McEwan, o Malcolm Bradubury e o Martin Amis, por exemplo.
P — E quais incluiria se escrevesse um Essencial sobre Literatura Americana?
MA — Por ser uma literatura mais recente, é relativamente mais fácil. Começaria por dois poetas puritanos, dos séculos XVII-XVIII, que julgo serem muito importantes para nós conhecermos a mundividência deles, que são Anne Bradstreet e Edward Taylor.
Depois, saltava de imediato para o século XIX, e aí temos Ralph Waldo Emerson e Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Emilly Dickinson, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne e Mark Twain. E terminávamos por aqui.
Passávamos para o século XX, e temos F. Scott Fitzgerald, John Steinbeck, Ernest Hemingway, John dos Passos.
Depois temos os prosadores mais próximos de nós, como Don DeLillo.
Na poesia, ainda neste século, temos Ezra Pound, William Carlos Williams, Wallace Stevens, Hart Crane. Depois, passando para a fase do pós-guerra, temos Jonh Ashbery, Frank O’Hara, Mark Strand, e por aí…
P — E nesse salto temporal que deu aí, o que aconteceu à Literatura Americana?
MA — Aconteceram muitas coisas. Mas era ainda uma literatura muito colonial, no sentido em que aquilo ainda eram colónias e que aqueles escritores não eram americanos, ainda. Há coisas que podem ser interessantes em termos documentais: começam a surgir narrativas que têm a ver com a escravatura, questões que têm a ver com a própria música, com a poesia; a poesia que vai ser musicada para ser cantada, os Blues. Há uma riqueza muito grande a esse nível, como é lógico. E há toda uma tradição oral: o canto dos escravos, por exemplo, os Blues começam por aí. Até há uma tradição muito interessante que é a da literatura oral por parte dos chamados «índios». Há muitas coisas importantes ainda no princípio do século XVI. E curiosamente, uma das primeiras obras importantes é escrita por um português, o chamado Fidalgo de Elvas — uma narrativa sobre a incursão que o Fernando de Souto, um espanhol, fez pelos Estados Unidos. Há uma história que o Fernando Pessoa conta, por causa de uma notícia que leu no jornal, a dizer que numas montanhas no norte do estado de Nova Iorque um indivíduo que andava a passear, e encontrou uma inscrição numa língua que ele não conhecia. Copiou-a e quando chegou à terra dele alguém lhe disse «Olha que isso é português». Fernando Pessoa depois conclui que em qualquer sítio onde formos já lá esteve ou um português ou um inglês. O inglês compreende-se, porque eles são muitos; agora, o português vai lá porque tem de ser, é o destino. E neste caso concreto sabe-se que há um grupo de fidalgos de Elvas (salvo erro, eram três) que foram nessa expedição do Fernando de Souto.
P — Qual deles é que teria escrito este relato?
MA — Não se sabe. Mas existem de facto muitos relatos de viagens muito interessantes, ainda no século XVI. Há diários, há cartas, há todo um universo particularmente interessante em termos culturais, mais até do que literários, a meu ver. O Emerson tem um ensaio que é o The American Scholar (o Erudito Americano, em português) que foi considerado na altura por um dos seus contemporâneos como a «declaração de independência cultural» da América.

A América já tinha a independência política. E 60 anos depois vem a independência cultural: a independência poética com Whitman; a nível da prosa, com Melville e o seu Moby Dick, um romance perfeitamente estranho e alucinado, que começa com uma quantidade de prefácios até que aparece a história, e depois a história divaga entre a poesia, a prosa, o drama, as passagens filosóficas. Por exemplo, há uma quantidade de autores franceses que fazem referência ao Melville. Há até aquele ensaio literário famoso Pour saluer Melville de Jean Giono, o romance Les Femmes de Philippe Sollers… Os franceses sempre tiveram uma perceção muito curiosa relativamente ao que se passava nos Estados Unidos, nomeadamente em relação a um autor que passou muito ao lado na América e durante muito tempo: é graças aos franceses que o Edgar Alan Poe acaba por ser reconhecido na sua verdadeira dimensão, nos Estados Unidos.
P — Além de professor e ensaísta, também já enveredou pela carreira literária, com uma novela publicada em 2011 pela Assírio & Alvim, intitulada A Inveja. Como foi passar de ensaísta a escritor?
MA — Foi muito difícil. Creio que pelo facto de estar sempre a trabalhar com grandes obras e grandes autores.
P — Está a falar do receio da comparação?
MA — Não. É mais o «será que vale a pena»? Era simplesmente isso. O meu primeiro romance não é esse, mas sim um outro chamado Pentâmetros Jâmbicos, publicado em 2008 também pela Assírio & Alvim. Conta a história de um rapaz no último ano da ditadura, que passa pelo período revolucionário do 25 de Abril e acaba na noite do 25 de novembro de 1975.
P — Um romance autobiográfico, Mário Avelar?
MA — É todo ele baseado em coisas que eu vivi, à exceção de um capítulo, que é completamente imaginado. De resto, é tudo baseado em coisas reais, transpostas para uma pessoa que não tem nada a ver com a minha maneira de ser. Sempre fui uma pessoa muito envolvida com questões sociais, políticas — antes e durante o 25 de Abril. Era um miúdo, tinha 17 anos, mas mesmo assim participei. Contrariamente ao protagonista, nunca tive uma atitude de espectador, fui sempre interveniente de uma forma ou de outra.
P — Chegou a sofrer as represálias do sistema?
MA — Não. Antes do 25 de Abril, o que apanhei foi sustos, nada mais que sustos. Coisas mínimas, sem qualquer tipo de relevância face às coisas que aconteciam a outras pessoas.
P — Voltemos ao seu primeiro romance.
MA — Então, no Pentâmetros Jâmbicos o que imaginei foi uma personagem do género «maria-vai-com-as-outras». No 25 de Abril parecia que toda a gente era anti‑fascista, que todos eram democratas. Achei que seria muito engraçado escrever uma história exatamente sobre aquelas pessoas que andam aí e que a história está constantemente a ultrapassar, mas que depois vêm ao de cima como se fossem grandes heróis. E era a história de um rapaz que anda numa fase da vida sem saber muito bem o que andava a fazer e que, sem querer, sem fazer nada por isso, acaba por se ver envolvido no meio da história. Inspirei‑me num episódio do Maio de 68: uma das fotografias icónicas do Maio de 68 é a de uma jovem — muito bonita, por sinal — com uma bandeira vermelha, às cavalitas de um rapaz, no meio de uma manifestação. Ora, qual é que era a história dessa rapariga na verdade? Ela era uma modelo, que tinha tanta consciência política como um peixinho dentro de um aquário, que um dia tinha acabado do fazer umas sessões fotográficas, passou por casa, vestiu um camisolão, e foi ter com o namorado que ia para uma manifestação. Ela pôs-se às cavalitas dele, ele passou-lhe uma bandeira vermelha para a mão, e essa imagem tornou-se um dos símbolos do Maio de 68. Achei esta ideia muito interessante e inspirou‑me para o livro. Como se as coisas que foram acontecendo nessa época fossem acontecendo por acaso; a importância do acaso, a dimensão irónica, um tipo de humor anglo-saxónico, e até na escolha do próprio título, que é muito dececionante: ninguém percebe que Pentâmetros Jâmbicos é um romance sobre o 25 de Abril, e era isso que eu queria. Não queria que as pessoas comprassem o meu livro por ser sobre o 25 de Abril.
P — E porquê Pentâmetros Jâmbicos?
MA — É o tal ritmo inglês que é baseado em duas batidelas. Pentâmetros são conjuntos de cinco sílabas. É como se fosse o ritmo do coração, quase o ritmo da respiração. É também como nós próprios às vezes estamos, ora mais em baixo, ora mais em cima.
Esta foi a minha primeira incursão. E escrevi-o na sequência de uma conferência apresentada por uma grande romancista inglesa de policiais, P. D. James, que contou que a determinada altura, tinha feito 50 anos, e as filhas convenceram-na a começar a escrever. Eu, que tinha 40 e tal naquela altura e escrevi um conto, o único conto que não fala de uma experiência biográfica, que depois acabou por ser um capítulo desse livro. A partir daí, as coisas simplesmente começaram-me a sair com uma velocidade impressionante, e no espaço de um mês escrevi o livro.
E depois usei a ideia do oportunista que usa a política para passar de um lado para o outro; personagens que vivem à nossa volta, e que começam todas por ser muito revolucionárias mas acabam por chegar todas aos mesmos sítios. E usei uma estratégia basicamente cinematográfica: um plano único sem cortes, uma câmara que anda à roda de uma sala e vai apanhando o que cada um está a pensar dos outros. E assim surge A Inveja.
P — A realidade académica é propensa à inveja?
MA — A última palavra da nossa epopeia é «inveja». Com esta palavra terminam Os Lusíadas.
É um dos sete pecados capitais. O que significa que a inveja não é propriedade nossa; pelo menos a nível teológico, é reconhecida como um pecado capital [risos].
O universo académico é profundamente competitivo. A academia é quase como um desporto de alta competição. Não sei como é que é com outras profissões, mas o universo político também é extremamente competitivo. E esse lado competitivo, não necessariamente assumido, pode levar a isso: temos de dar provas daquilo que fazemos, não nos podemos repetir. Apesar de todos conhecermos casos de pessoas que passam a vida a escrever o mesmo livro ou a escrever o mesmo ensaio, apenas mudando o título; assim como sabemos dos casos de indivíduos que pedem a alguém para lhes escrever as coisas.
Ora, se pegarmos nisto tudo, temos a inveja. Não é preciso ir muito longe. Não tendo como inspiração uma pessoa em concreto, podermos reconhecer ali imensa gente.
P — Porquê?
MA — Porque tem a ver com comportamentos que são característicos da Academia.
P — E projetos no campo literário?
MA — Neste momento tenho publicados três livros de poemas que já estão fora no mercado. Tenho uma outra sequência de poemas que já foram parcialmente publicados na revista Suroeste, em Espanha. Apresentei também um projeto à Imprensa Nacional-Casa da Moeda para publicação de um pequeno volume com os poemas que escrevi até hoje, e tive há pouco tempo a feliz informação de que foi aceite.
P — Também sei que está prometido um Essencial sobre Philip Roth…
MA — Neste momento estou a trabalhar num livro sobre Literatura e Artes Visuais para a INCM, que é quase uma súmula desta investigação levada a cabo ao longo de 30 anos e que está a caminhar bem e está a dar-me muito prazer escrever. Tenho O Essencial sobre Philip Roth para sair ainda este ano. Tenho uma tradução de um poeta inglês do século XIX muito interessante que é o Gerard Manley Hopkins; é uma tradução muito difícil mas que está praticamente pronta. Tenho vários romances: A Luxúria, que está praticamente acabada; tenho também A Ira, que está escrito mas que vou reescrever, e tenho mais um outro romance que espero que venha cá para fora no próximo ano. Quero escrever um romance para todos os pecados capitais, e todos ligados à Universidade: ver a Academia através da Gula, da Preguiça, da Ira e muito concretamente da Luxúria. Quem me sugeriu esta ideia dos sete pecados capitais foi uma colega, a Luísa Leal Faria. E quem me deu a ideia para A Luxúria foi um amigo também, o António Feijó, que me disse: «Seria muito interessante escreveres um romance sobre a luxúria em que não houvesse sexo». E vai ser exatamente isso.
P — Para si, qual é a mais-valia de publicar na editora pública?
MA — São várias. É uma capacidade de, através de uma editora de prestígio, chegar aos países de expressão portuguesa, e isso é extraordinariamente importante.
É a possibilidade de publicar numa editora que não se rege por determinado tipo de exigências estritamente de mercado, o que permite um determinado tipo de atitude, e uma margem que é importante para quem está a criar.
E depois há outra coisa que tem a ver com a dimensão quase cívica, num sentido muito lato: escrever um Essencial sobre… é estar e intervir civicamente; e partilhar. É uma das coisas mais bonitas de ser professor. O Essencial…, para mim, tem um tipo de escrita que me apaixona profundamente — a pessoa saber que vai ler milhares de páginas para depois as meter em apenas meia dúzia, e isto em livros que abrem janelas. Quando o Duarte Azinheira me falou nisso pela primeira vez, disse: «Pense nisso e apresente um projeto», e eu pensei nisso e apresentei o projeto. E na altura fiz as contas e, se escrevesse dois por ano, tinha ali o que escrever até aos 80 e tal anos. A coleção «Essencial» é um projeto muito interessante, e é uma coleção que sempre teve um grande impacto sobre as pessoas. E, nos tempos que vão correndo, com os livros digitais também, consegue-se chegar a sítios onde não se chegava antes.
É também uma dimensão mais cosmopolita, que o Duarte Azinheira introduziu nesta coleção: abriu a coleção para o mundo. Como é que nós, portugueses, olhamos para Shakespeare, para Cervantes, para Chaplin ou para Camus? São todos autores universais que já não são propriedade dos franceses, dos ingleses, dos espanhóis. São universais. Eu, por exemplo, devorei O Essencial sobre Camus, de António Mega Ferreira. São livros que nos ajudam a situarmo-nos a nós próprios.
P — «A última vez que os lilases floriram no jardim junto da porta» é uma elegia à morte de Abraham Lincoln. Consegue imaginar um título de um poema de Whitman dedicado a Barack Obama, agora em final de mandato?
MA – [risos] Não consigo. Barack Obama é também aquilo que Whitman construiu e que nós podemos reconhecer às vezes até em pequenos versos. Whitman pegou numa estratégia que é muito utilizada pela oratória religiosa, que é a chamada «catalogação retórica». Ele fala deste, e daquele, e mais daquele, e tenta não deixar ninguém de fora. Eu acho que aquilo que o Obama representou ou pode representar em certa medida está já pronunciado ali, passa por aqueles versos de Whitman. Não poderá ser uma elegia — o homem está vivo e é tão jovem — mas passa muito por ali. Tem a ver com aquela vitalidade dos Estado Unidos, com toda aquela ênfase na crença pessoal, nas capacidades pessoais; aquela abertura para o outro e perceber que o outro, antes de estar lá fora, está dentro de nós. São dimensões que eu vejo em Obama, como vejo em Kennedy, como vejo de uma forma diferente em Reagan, por exemplo. Não tem que ver com uma experiência política, tem que ver com a expêriencia humana. E essa experiência humana que encontramos em homens como Obama passa muito por uma determinada vivência da América. Tem muito a ver com símbolos, com ícones.
Vou-lhe contar outra história. A primeira vez que fui aos Estados Unidos da América foi em 1985. Era um programa Fulbright. Fomos para a Universidade de Minnesota. Quando chegámos a Minneapolis fomos para o campus, decidi que o tempo que estivesse nos Estados Unidos seria para viver o mais possível. Naqueles meses dormia três horas por noite; o que eu queria era absorver o mais possível da América. Absorver tudo. Isto a propósito dos ícones culturais. Certa noite, saí do campus, onde não se podia beber álcool, e procurei um bar onde se pudesse beber cerveja. Nesse bar havia uma cópia de um quadro do Edward Hopper, e à porta do bar estava estacionada uma Harley Davidson. No meu imaginário, aquilo era toda a cultura americana a vir ao meu encontro. Quando entro no bar…
P — Encontra a sósia da Bo Dereck?
MA – [risos] Calma! Já lá vamos… Quando entro no bar, estavam uns fulanos com «ar de Harley Davidson», possantes, fortes que estavam a jogar snooker. O bar não tinha muita gente e do outro lado estava de facto uma senhora com as características da Bo Dereck, mas que não era a Bo Dereck. E depois há estas coincidências: estava uma juke box também e, no preciso momento em que eu entro, há alguém que mete uma moeda na juke box, e o que é que começa a tocar? Bruce Springsteen a cantar o Born in the USA. E aí senti: eu estou na América!
P — Conseguiu sentir-se americano?
MA — A América transformou-me totalmente. Foi uma experiência de vida que me transformou.
P — A América tem vindo a transformar-nos a todos um bocadinho…
MA — A vivência da América é uma coisa que nos transforma.
Fiz uma coisa que ninguém [na Academia] tinha feito antes de mim: lecionava na Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, num departamento que era dos mais respeitados a nível nacional, e onde eu gostava imenso de lecionar; tinha o doutoramento e tinha a nomeação definitiva; e vim para a Universidade Aberta, uma universidade que estava nos primeiros anos de vida, que não tinha de modo algum o impacto que tinha a Universidade de Lisboa. Mas vim. E vim porquê? Necessidade de mudar, do desafio…
Tive um episódio nos EUA que me marcou profundamente e que tenho contado, ao longo dos anos, aos meus alunos. Conheci um casal que vivia num condomínio de luxo, no centro de Minneapolis. Era uma casa de sonho. Eles eram pessoas dos seus 40 anos, e disseram-me: «Estamos a pensar ir para o Sul». E eu, espantado, comecei a fazer as perguntas que um português faria, que um funcionário público que eu era — e continuo a ser — faria: «Mas porquê? É uma questão de trabalho? Têm família lá? Mas porquê?» perguntava eu. Não era por uma questão de trabalho, nem de família. Voltei a perguntar: «Se têm tudo aqui, porque é que querem ir para o Sul?» E eles respondem-me: «Just for a change.»
Há uma dimensão de desafio, de ênfase do presente. Eu sou aquilo que sou, muito a partir daquela experiência. Com noção de ética, de profundo sentido de responsabilidade: saber que sou responsável pelos meus atos e não vale a pena culpar o governo, ou a Troika, ou este, ou aquele. Se não estou contente, há que mudar de vida. Quando deixei a Faculdade de Letras, também muita gente não percebeu. Eu não estava zangado com nada nem com ninguém. Queria ir experimentar, queria novos desafios. E, com toda a sinceridade, acabei de fazer 60 anos e aguardo sempre novos desafios.
P — Historicamente, os norte-americanos são maioritariamente protestantes, nós maioritariamente católicos…
MA — Lá há toda uma cultura de raiz protestante, e a nossa é de raiz católica, sejamos católicos ou não. Isso não interessa absolutamente para nada. Temos o pecado, mas temos sempre o perdão também.
Perguntaram a um escritor inglês, o G. K. Chesterton, porque tinha escolhido a igreja católica e não a anglicana, ao que ele respondeu: «É que os católicos têm o perdão!» [risos]
Texto de Tânia Pinto Ribeiro
Fotografias de Rita Assis Santos
Maio de 2016
Publicações Relacionadas
-

Seixos, um poema de Mário Avelar n’A Poesia Dita.
09 Fevereiro 2022
-

Edição Nacional – Dedicácias, por Jorge Reis-Sá
28 Novembro 2018
-

Novidade editorial | O Essencial sobre o Surrealismo Português
17 Setembro 2024
-
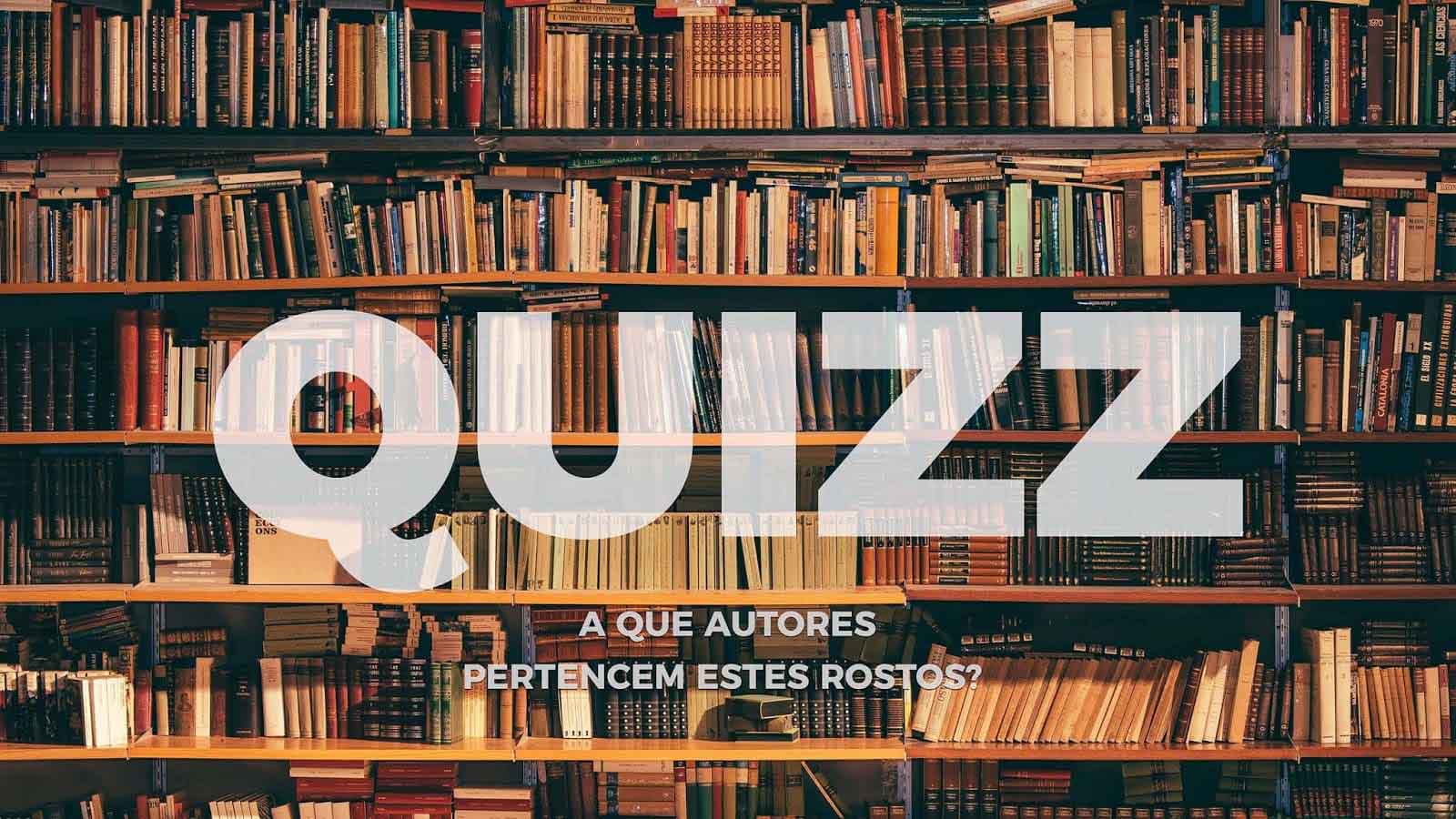
Quizz | Autores da coleção Obras Completas de…
25 Junho 2018
-









