Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
António Mega Ferreira em entrevista # 1/2 — «Toda a opção política deve obedecer a uma visão cultural»
Escritor, estreou-se na Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) com um livro dedicado à pintora Graça Morais, mas tem hoje mais de trinta livros publicados — entre a ficção, o ensaio, a poesia e as biografias. O último saiu em maio deste ano: Hotel Locarno, 13 contos em homenagem ao seu hotel preferido, em Roma. Pelo meio escreveu o Essencial sobre Camus e Proust, ambos com a chancela da editora pública, e vem mais um a caminho, sobre D. Quixote.
Gestor cultural de renome é o atual diretor executivo de uma orquestra e três escolas: a Metropolitana, com a qual estabeleceu uma melodiosa parceria com a INCM. Nasceu em Lisboa, em 1949. Estudou Direito na faculdade, mas aconteceu-lhe o mesmo que lhe tinha acontecido com o Latim no 7.º ano: só mais tarde é que se apercebeu da utilidade do curso que tirou. O que vem confirmar a ideia de que «a cultura é tudo aquilo que fica depois de termos esquecido tudo o que aprendemos». A vida «a sério» iniciou-a quando voltou de Manchester, onde foi estudar jornalismo, e depois começou a trabalhar. Primeiro como tradutor de imprensa estrangeira, depois como jornalista. Era no tempo em que os jornalistas, apesar da pressão da máquina — essa verdade eterna do jornalismo — tinham tempo para ter tempo de refletir, fundamentar, certificar as fontes. Sem a pressão do imediato e do tempo real a acelerar a notícia. O que se seguiu é o que toda a gente já sabe: enquanto padrinho da EXPO’98 pôs Lisboa no centro do mundo. À frente da Parque Expo, entre outras coisas, ajudou a erguer o Oceanário. Como presidente do conselho de administração do Centro Cultural de Belém deixou também a sua forte marca através de diversas iniciativas, como o Dia Mundial da Poesia, as maratonas de leitura e os colóquios dedicados aos escritores.
Mas a juntar a este perfil, ainda assim tão incompleto, têm também sabor alguns dos seus afetos mais arreigados: ama Camilo Castelo Branco, gosta muito de Eça de Queirós, adora Jorge de Sena e alimenta um enorme afeto por Itália e pelo Manchester United. Porque é vermelho. O jornal que lê é espanhol e chama-se El País. Depois da Literatura é a música o que mais lhe dá prazer. De fazer política não quer nem ouvir falar: não é um sapato que o seu pé queira calçar.
Segue-se uma entrevista transversal a um dos mais multifacetados eruditos portugueses: homem do intelecto e homem da cultura. Um pensador livre que consegue imaginar um Sísifo feliz — essa desgraçada figura da mitologia grega condenada a repetir sempre a mesma tarefa de empurrar um rochedo até ao topo da montanha sabendo que este vai voltar a descer. Esse mesmo Sísifo do mito que Camus atualizou. Absurdo? Talvez não, ou não fosse António Mega Ferreira um homem de desafios, compromissos e obras feitas. E seria heresia não acrescentar: Benfiquista de alma e coração.
A ESTREIA LITERÁRIA NA INCM
Prelo (P) — Tem obras publicadas na INCM. Como e quando é que começou a sua relação com a editora pública?
 António Mega Ferreira (AMF) — A minha relação com a INCM começou, naturalmente, com o Vasco Graça Moura, quando ele era administrador da Imprensa Nacional nos anos 80. O Vasco convidou‑me para escrever — para uma série chamada Arte e Artistas — um livro sobre a pintora Graça Morais. Acabou por ser o meu primeiro livro publicado, embora fosse o meu segundo livro escrito. É uma biografia relativamente pequena, porque o livro tinha uma grande parte de ilustração da obra de Graça Morais. Saiu, salvo erro em 1984 ou 1985. E acabou por ser o primeiro. Portanto, a Imprensa Nacional esteve na origem da minha carreira literária e foi a casa onde eu publiquei o meu primeiro livro.
António Mega Ferreira (AMF) — A minha relação com a INCM começou, naturalmente, com o Vasco Graça Moura, quando ele era administrador da Imprensa Nacional nos anos 80. O Vasco convidou‑me para escrever — para uma série chamada Arte e Artistas — um livro sobre a pintora Graça Morais. Acabou por ser o meu primeiro livro publicado, embora fosse o meu segundo livro escrito. É uma biografia relativamente pequena, porque o livro tinha uma grande parte de ilustração da obra de Graça Morais. Saiu, salvo erro em 1984 ou 1985. E acabou por ser o primeiro. Portanto, a Imprensa Nacional esteve na origem da minha carreira literária e foi a casa onde eu publiquei o meu primeiro livro.
P — Carreira que é vastíssima…
AMF — Vastíssima não é. Mas, enfim, é razoável.
P — A obra selecionada para o primeiro título da coleção Observadores é sua. Trata-se de Papéis de Jornal — Crónicas 2003-2010. Caracterizou esta obra como «uma espécie de gazeta literária, pessoal e fragmentária destes anos que assinalam a primeira década do século XXI». Fale-nos um pouco deste trabalho, nomeadamente da seleção…

AMF — Antes de falar do trabalho, deixe-me contar uma história curiosa que tem a ver com o título. O título, «Papéis de Jornal», que eu escolhi, naturalmente, e que depois propus à editora, que o aceitou. Depois do livro já ter saído, apercebi-me com espanto e horror que uns dez anos antes, um amigo meu, chamado Vasco Graça Moura, tinha publicado um livro de crónicas chamado Papéis de Jornal. Mandei-lhe imediatamente um exemplar, dizendo: «Ó Vasco, peço-lhe imensa desculpa! Eu não sabia de todo que tinha escolhido este título.» Ele respondeu muito amavelmente, como era costume, éramos amigos de há muitos anos: «Não tem mal nenhum. Isso só significa que eu escolhi bem o meu título, porque anos depois você escolheu o mesmo.» E ficou assim.
Ora bem, o livro é o quê? Durante muitos anos, talvez 25 anos consecutivamente, publiquei crónicas na imprensa, nos mais diversos meios de comunicação. Em 2000 publiquei em livro uma primeira recolha de textos jornalísticos, de papéis de jornal, chamado A Borboleta Nabokov. Em 2010 achei que era a altura de fazer uma segunda seleção do que tinha publicado. Portanto, fui até 2003 e fiz uma primeira seleção. Esta primeira seleção dava um livro gigantesco. Completamente gigantesco! Embora o editor Imprensa Nacional, o diretor da Unidade Editorial, me tivesse dito que não haveria problema, que ele gostava de publicar livros grandes. E eu respondi-lhe: «Sim. Mas o leitor é que tem uma espécie de limite antropológico. Um livro de crónicas não pode ser um romance como um romance de Tolstoi. Não faz sentido.» Tive então de fazer uma seleção maior. Há crónicas de circunstância: crónicas que se escrevem sobre a atualidade política, por exemplo. Eu nunca tive nenhuma tentação de recolher em livro esse tipo de crónicas. Essas crónicas respondem a um estímulo concreto, imediato, e que se esgota no tempo. Ou seja, para se poder perceber inteiramente o que essas crónicas são, teria de contextualizar as crónicas: «Nesta altura, o primeiro-ministro era fulano tal, o ministro tinha-se demitido,…» Não fazia sentido nenhum. Seria escrever outra crónica. Então, fiz uma segunda seleção, e a seleção baseou-se muito naquilo a que se pode chamar crónicas literárias.
P — E chamou-lhe «o retrato Robot dos seus interesses maiores». Quais são os seus interesses maiores?
AMF — A Literatura em primeiro lugar. Aliás, a maior parte dessas crónicas são crónicas sobre autores, ou sobre livros. Não só sobre livros que eu lia na altura, como sobre coisas que me eram suscitadas por terceiras leituras. Por exemplo, há uma crónica sobre o encontro falhado entre o Proust e o Joyce, em 1922 ou 1923, em Paris. Cheguei a este encontro através da leitura de um livro de Alain de Botton, que estava a ler na altura. E isso suscitou-me essa coisa extraordinária que é: o que é que teria acontecido se Joyce e Proust têm encaixado um no outro? Eles não encaixaram de todo. Não se entenderam. O Proust achava o Joyce estranhíssimo e o Joyce achava o Proust um aristocrata decadente!
P — Tem conhecimento de ter havido atividade epistolar entre eles?
 AMF — Não houve nada. Eles encontraram-se no restaurante do Hotel Majestic de Paris. Foi um encontro proporcionado por um casal que era amigo de ambos, e que achou: «Isto deve ser extraordinário» — isto é típico dos casais literatos — «Deve ser ótimo pôr em conjunto o Proust e o Joyce! Isto vai ser uma coisa extraordinária!» Claro que não foi coisa extraordinária nenhuma: ignoraram-se olimpicamente, não ligaram nenhuma um ao outro, e portanto foi um encontro falhado. O facto de ter sido um encontro falhado tem uma certa grandeza literária. Quando toda a gente está à espera que duas figuras daquelas se encontrem: o que é que dará? que centelha de génio é que haverá? Não houve génio nenhum! Foram duas pessoas que não simpatizaram uma com a outra, dois homens que não simpatizaram um com o outro, pronto! É tão simples como isto: não tinham nada para dizer um ao outro! Embora presumivelmente se pense hoje em dia que o Joyce já tinha lido o Proust, mas o inverso não é verdadeiro. Isto, porque o livro do Joyce, o Ulisses, só foi publicado em 1922. Portanto, o Proust não podia ter lido o Ulisses. Talvez tivesse lido o Dubliners (Gente de Dublin), o primeiro livro de contos do Joyce, publicado em 1914. Mas Proust conhecia bastante menos Joyce do que Joyce poderia conhecer o Proust, visto que o primeiro volume do Proust tinha saído em 1913, e o segundo saiu em 1919 e recebeu o Prémio Goncourt nesse ano.
AMF — Não houve nada. Eles encontraram-se no restaurante do Hotel Majestic de Paris. Foi um encontro proporcionado por um casal que era amigo de ambos, e que achou: «Isto deve ser extraordinário» — isto é típico dos casais literatos — «Deve ser ótimo pôr em conjunto o Proust e o Joyce! Isto vai ser uma coisa extraordinária!» Claro que não foi coisa extraordinária nenhuma: ignoraram-se olimpicamente, não ligaram nenhuma um ao outro, e portanto foi um encontro falhado. O facto de ter sido um encontro falhado tem uma certa grandeza literária. Quando toda a gente está à espera que duas figuras daquelas se encontrem: o que é que dará? que centelha de génio é que haverá? Não houve génio nenhum! Foram duas pessoas que não simpatizaram uma com a outra, dois homens que não simpatizaram um com o outro, pronto! É tão simples como isto: não tinham nada para dizer um ao outro! Embora presumivelmente se pense hoje em dia que o Joyce já tinha lido o Proust, mas o inverso não é verdadeiro. Isto, porque o livro do Joyce, o Ulisses, só foi publicado em 1922. Portanto, o Proust não podia ter lido o Ulisses. Talvez tivesse lido o Dubliners (Gente de Dublin), o primeiro livro de contos do Joyce, publicado em 1914. Mas Proust conhecia bastante menos Joyce do que Joyce poderia conhecer o Proust, visto que o primeiro volume do Proust tinha saído em 1913, e o segundo saiu em 1919 e recebeu o Prémio Goncourt nesse ano.
Mas é um pouco isto. O interesse sobre a literatura, sobre o que está à volta da literatura, sobre as circunstâncias que proporcionam encontros ou desencontros também tem uma dimensão literária, isto é, são suscetíveis de ser aproveitados como matéria literária …
P — Como um fio condutor?
AMF — Exatamente, foi isso que foi um bocado o fio condutor, depois há outras crónicas sobre pintura, há outras sobre música… Mas o grosso do livro é dedicado, de facto, a textos sobre literatura e o que andou à roda da literatura.
P — Gosta muito de literatura, mas estudou direito na Universidade de Lisboa.
AMF — Sim, sim.
P — Chegou a exercer?
AMF — Jamais! Sou um jurista não praticante.
P — Porque deixou o Direito para trás?
 AMF — Porque não me interessou nada. Confesso que não me interessou absolutamente nada. Ou seja, aconteceu-me com o Direito a mesma coisa que tinha acontecido nos anos finais do liceu com o latim.
AMF — Porque não me interessou nada. Confesso que não me interessou absolutamente nada. Ou seja, aconteceu-me com o Direito a mesma coisa que tinha acontecido nos anos finais do liceu com o latim.
P — O que lhe aconteceu no final do Liceu com o latim?
AMF — O latim no 6.º e no 7.º ano não me interessou, só muitíssimo mais tarde é que me vim a aperceber da utilidade que tinha tido, quer estudar latim, quer estudar direito. Mas é uma utilidade que me veio muitíssimo mais tarde. O que parece confirmar aquela velha ideia que a cultura é tudo que fica depois de termos esquecido tudo o que aprendemos. Ou seja, foi depois de ter esquecido o latim que aprendi durante dois anos no Liceu que me apercebi da importância dele. Foi depois de ter esquecido de tudo o tinha aprendido na Faculdade de Direito que vim a verificar, muito mais tarde, que afinal eu tinha uma série de coisas mais presentes e que essas coisas emergiam. Ou seja, que me tinha tocado alguma cultura de latim e alguma cultura jurídica. Agora, sou jurista não praticante. Na altura em que acabei os meus estudos de Direito já era jornalista profissional e o que me interessava era o jornalismo, claramente.
P — Acredito que da sua turma de Direito tenham saído de lá…
AMF — Ah, sim! Uns crânios, uns génios. O Marcelo Rebelo de Sousa, o Jorge Braga de Macedo, a Maria Leonor Beleza… Estes são os mais destacados de que me lembro.
P — E foi então para Manchester?
AMF — Estudei em Manchester em 1972.
P — E que memória guarda?
AMF — Muito boas, do curso.
P — Em Portugal já havia cursos de jornalismo?
AMF — Não. Não havia curso nem em Portugal nem em Inglaterra. O curso foi um curso experimental, promovido pela Universidade de Manchester, em 1972. Chamava-se Mass Comunication, isto é, Comunicação de Massas. Era um curso que tinha a ver com jornalismo, de imprensa escrita, de televisão, de rádio, e de cinema também. Aliás, o meu paper final foi sobre cinema, chamado «New Realism inglês do pós-guerra», o que me possibilitou passar tardes maravilhosas no British Film Institute a ver todos os filmes ingleses do pós-guerra. O curso era um curso experimental, durou um term, digamos assim. Não dava uma licenciatura, não dava um grau. Era um curso experimental que se estava fazer. Poucos anos depois vieram a criar a licenciatura em imprensa e em televisão, separadamente. A imprensa e aquilo a que eles chamavam media. Na altura, a imprensa não se chamava media. Chamavam media aos multimédia: à televisão, à rádio e essas coisas.
P — Com que realidade é que se deparou em Manchester, em 1972?
AMF — Estive em Manchester uma série de meses e encontrei um mundo completamente diferente. É preciso relembrar que em 1972 existia a ditadura em Portugal e, portanto, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de expressão de pensamento, não havia liberdade de constituição de partidos políticos. Tudo isso existia há séculos em Inglaterra. E, portanto, o curso foi interessante, mas tanto ou mais do que o conteúdo do curso foi a vivência desses meses em Inglaterra, que para mim foi extremamente formadora. A minha cabeça foi bastante positivamente afetada por essa permanência em Inglaterra durante os aproximadamente seis meses em que lá vivi. Da própria cidade de Manchester não guardo recordações extraordinárias. É praticamente impossível guardar recordações extraordinárias da cidade de Manchester. É uma cidade feia, dull, triste. Era a altura da recessão, de uma grande recessão económica, da grande crise industrial em Inglaterra. O início da grande crise industrial que anos depois veio provocar a subida ao poder dos conservadores e da Senhora Thatcher. Mas isto para lhe dizer que a cidade em si não era interessante… Havia uma coisa extraordinariamente interessante na cidade: o Manchester United! O meu segundo clube! Fiquei com o Manchester United no coração.
P — Porque é vermelho?
AMF — Porque é vermelho, tem toda a razão! E ganhei um ódio muito saudável ao Manchester City, porque é azul. Detestava — ainda hoje detesto — o Manchester City porque sou do United. Quer dizer, o United é o meu segundo clube. O primeiro é, obviamente, o Benfica, porque é vermelho.
Essa experiência foi muito interessante do ponto de vista da minha visão do mundo, da visão das coisas.
O JORNALISMO E A VIDA «A SÉRIO»
P — E quando voltou a Portugal, como é que era fazer jornalismo ainda em tempos do Estado Novo?
AMF — Em 1972-1973, o jornalismo que eu fazia não era ainda totalmente um jornalismo profissional. Eu só sou jornalista profissional a partir do início de 1975, quando sou contratado para o Jornal Novo. Primeiro, para o Jornal Novo, mais tarde para o Expresso. Nessa altura, eu era uma espécie de semiprofissional do jornalismo. Fazia parte da delegação em Lisboa do Comércio do Funchal, que era um jornal cor-de-rosa, completamente esquerdista que se publicava na Madeira e era dirigido por um grande jornalista — o maior da minha geração — chamado Vicente Jorge Silva. Aquilo era comandado na Madeira, onde estavam o Vicente Jorge Silva, o Luís Miguel Angélica e o José Manuel Barroso, também. Depois, em Lisboa, havia uma pequena redação que incluía o José António Saraiva, que depois foi durante 22 anos diretor do Expresso, e que é atualmente o diretor do semanário Sol. Incluía o José António Saraiva e incluía mais umas quantas pessoas, sendo que eu fazia parte dessa delegação. Digamos que, nessa altura, a minha relação com o jornalismo era uma relação muito intensa. Uma relação intensa, mas numa base semiprofissional. Eu trabalhava noutra coisa desde 1970. Trabalhava como tradutor de imprensa estrangeira na Secretaria de Estado da Informação, onde era — e continua a ser — o Palácio Foz. Trabalhava como tradutor de imprensa estrangeira, designadamente do francês, que sempre foi a minha segunda língua, e também do inglês, que obviamente melhorei um bocadinho. Já tinha aprendido cá, mas melhorei durante a minha permanência em Inglaterra. Essa é que era a minha ocupação profissional, que também ajudou a descurar completamente a conclusão do curso de Direito. Porque, obviamente, ganhava dinheiro, tinha conta na Livraria Clássica, que era uma livraria que havia na Praça dos Restauradores, ao pé do Eden. Fazia a minha vida cultural intensíssima, lanchava no Gambrinus, e tinha 23 anos! Ah! E gostava do que fazia! E, sobretudo, isso permitiu-me entrar naquilo que se chama «a vida a sério», que é a vida profissional.
P — E como foi entrar na vida «a sério»?
AMF — Bom, a vida profissional chamada «a vida a sério» é, de facto, um bocadinho incompatível ou dificilmente compatível com a «semivida», que é a vida de estudante, que não é bem a vida a sério. É muito sério, mas não é propriamente «a sério». A vida é outra coisa! Para lá de se ser estudante, tem outras dimensões que a vida de estudante não tem, naturalmente. Até porque tem a ver com a idade das pessoas e com a experiência.
E, portanto, o que aconteceu aí foi isso. Realmente, entrei profissionalmente no jornalismo em 1975, e depois fui jornalista profissional de 1975 até 1986. Em 1986, fui convidado para diretor editorial do Círculo de Leitores, onde estive 3 anos. Fui, posteriormente, para a Comissão dos Descobrimentos, convidado pelo Vasco Graça Moura. Estamos nesta casa [INCM] e, de 5 em 5 minutos, tem de se falar do Vasco Graça Moura [risos].
P — Camus escreveu: «É importante pensarmos no que é o jornalismo de opinião. A conceção que a imprensa francesa tem de informação podia ser melhor. Queremos informar depressa em vez de querer informar bem. A verdade não fica a ganhar. […] Como vemos, tal equivaleria a perguntar se os artigos de fundo têm algum fundamento, e que se evitasse publicar como verdadeiro o que é falso ou duvidoso. É a esse procedimento que eu chamo ‘jornalismo crítico’. Uma vez mais, nada disto se faz sem inflexão e sem o sacrifício de muitas outras coisas. Mas talvez bastasse começar a pensar nisto.»
Uma vez que faz jornalismo de opinião, acha que passados mais de 60 anos os jornalistas já começaram a pensar a sério nisto?
 |
| Albert Camus fotografado por Henri Cartier-Bresson (1947) |
AMF — Não, não, não! É igual, mas mais acelerado. Ainda é pior. É isso, o diagnóstico é esse…
P — Como critica o jornalismo que se faz hoje em dia?
AMF — Antes de responder diretamente à sua pergunta, vale a pena contextualizar isto. Antes de irmos ao jornalismo de hoje em dia, convém dizer que há verdades eternas no jornalismo: o jornalismo será sempre, mas sempre, regido pela pressão da máquina — seja a máquina convencional, seja a máquina de hoje, seja a urgência de chegar, seja a urgência de concorrer ou ganhar ao concorrente.
 Há dois textos fantásticos sobre o jornalismo. Um é um livro de um escritor inglês do século passado, chamado Evelyn Waugh, o livro chama-se Scoop — scoop é aquilo a que se chama em jornalismo a «caixa». É um livro absolutamente extraordinário! Trata-se da história de um jornalista de gardening — de jardins — no jornal, e que, por causa do seu apelido, cria uma confusão na cabeça do editor que o destaca para cobrir uma revolução num país distante. O livro é genial porque é, obviamente, uma sátira ao jornalismo que se fazia — tudo é apressado, até a escolha de quem deve ir fazer a reportagem. É, de facto, um texto fantástico! E há um aforismo muito bom do G. K. Chesterton — outro escritor inglês também da primeira metade do século XX — que é este: «Jornalista é aquele profissional que nos conta tudo acerca da morte de Lord X, de cujo nascimento nem sequer tínhamos conhecimento.» Isto é perfeito, porque o jornalismo é, de facto, isso: o jornalismo tem que encapsular em determinadas fórmulas a transmissão da informação. Isto é uma verdade eterna do jornalismo.
Há dois textos fantásticos sobre o jornalismo. Um é um livro de um escritor inglês do século passado, chamado Evelyn Waugh, o livro chama-se Scoop — scoop é aquilo a que se chama em jornalismo a «caixa». É um livro absolutamente extraordinário! Trata-se da história de um jornalista de gardening — de jardins — no jornal, e que, por causa do seu apelido, cria uma confusão na cabeça do editor que o destaca para cobrir uma revolução num país distante. O livro é genial porque é, obviamente, uma sátira ao jornalismo que se fazia — tudo é apressado, até a escolha de quem deve ir fazer a reportagem. É, de facto, um texto fantástico! E há um aforismo muito bom do G. K. Chesterton — outro escritor inglês também da primeira metade do século XX — que é este: «Jornalista é aquele profissional que nos conta tudo acerca da morte de Lord X, de cujo nascimento nem sequer tínhamos conhecimento.» Isto é perfeito, porque o jornalismo é, de facto, isso: o jornalismo tem que encapsular em determinadas fórmulas a transmissão da informação. Isto é uma verdade eterna do jornalismo.
O que Camus dizia em 1950 está muito marcado pela sua experiência num jornal extraordinário chamado Combat, que ele dirigiu depois da II Guerra Mundial. Isto é verdade, mas é uma verdade eterna do jornalismo. O jornalismo está sempre perante essa pressão. E não pode ser de maneira diferente. Porque, se for de maneira diferente, se for essa coisa reflexiva, é a revista Les Temps Modernes, que saía de tantos em tantos meses. O jornalismo tem uma pressão temporal, um constrangimento temporal, que faz parte da sua «ontologia». O jornalismo é assim mesmo. E por isso é que é jornalismo. Porque, se não, era outra coisa qualquer: era ensaísmo, era ensaio em livro…
Mas é verdade que estas características — que são características, digamos assim, essenciais do jornalismo, e as tais eternas do jornalismo, sofreram uma aceleração. E essa aceleração tem a ver com a aceleração do tempo histórico também. Nós vivemos, efetivamente, nos últimos 50 ou 60 anos — depois do 2.º pós-guerra — uma aceleração brutal do tempo, que levou, por exemplo, a que um grande historiador como Hobsbawm dissesse que o século XX tinha terminado em 1989, quando caiu o muro de Berlim. Ou seja, o século XX acabou antes do final do século XX. A imagem é forte! É, obviamente, metafórico, mas é uma boa metáfora. Aliás, Hobsbawm dizia outra coisa extraordinária: o século XX, efetivamente, começou em 1914, com a I Guerra, e acabou em 1989. Ou seja, ele dizia: na realidade, 100 anos ficaram comprimidos — do ponto de vista do que é relevante, do que é significativo, do que é característico de uma época — ficaram comprimidos em 75 anos. E isto é muito interessante, porque esta aceleração do tempo histórico levou a encurtar tudo.
Depois, o desenvolvimento das novas tecnologias de informação — nos últimos 20, 25, 30 anos — levou a uma outra coisa que é: se o jornalismo já tinha a pressão do tempo, passou a ter a pressão do tempo real. Tudo tem que ser feito no tempo real.
P — Fala-se de um jornalismo «apressado»…
AMF — É verdade, e é mau! Tentando ver do ponto de vista dos profissionais, se calhar não podem fazer de outra maneira. Porque não é possível responder ao editor de um jornal online, que é o nosso editor: «Então o paper sobre a prisão do não-sei-quantos?», «Amanhã dou.» O amanhã já não existe! Amanhã aquilo já não existe, já desapareceu.
P — Estamos perante o jornalismo do imediato.
AMF — É, efetivamente, o jornalismo do imediato. E é um jornalismo que, por causa do imediato, sacrifica a reflexão, a opinião, a fundamentação, a certificação das fontes, a qualificação das fontes. Porque há fontes que são credíveis e outras que o não são. Nada disso é possível. No fundo, eu vejo sempre os jornalistas de hoje em dia a fazerem uma coisa que é: têm uma fogueira enorme, e eles têm de estar constantemente a deitar lenha, mesmo quando não há lenha. A deitar lenha para manterem o fogo vivo. Porque, de facto, a informação tornou-se uma espécie de lareira, de fogueira. Uma fogueira permanente. Não se pode deixar apagar a fogueira. E, portanto, está-se sempre a deitar coisas lá para dentro. Por fim, já se deita papéis de jornal, partituras de música, livros antigos, deita-se tudo! O que é preciso é que o fogo esteja sempre a funcionar. Nesse sentido, o que Camus dizia em 1950 corresponde um bocado à condenação do jornalismo. O jornalismo tem essas pressões todas que ele dizia, mas a coisa tornou-se muito pior. Não é porque os jornalistas são maus… Não! É porque as circunstâncias do tempo histórico obrigam‑nos a dar uma outra resposta.
P — Como diria Ortega y Gasset, «o homem é sempre o homem e as suas circunstâncias…»
AMF — É claro! É evidente. As circunstâncias não podem ser de outra maneira. Agora — sobretudo para quem viveu num outro tempo como eu, e assistiu a outro tipo de jornalismo que se fez — não é bom. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes irrita um bocadinho as pessoas, mas é o que eu acho. Eu digo: eu não leio os jornais portugueses. O jornal que circula em Portugal que eu leio todos os dias é espanhol, é o El País. Esse é que é o jornal!
P – Como francófono que é, não lê o Libération?
AMF — Não. O Libération não. O Libération já teve o seu tempo. O Libération é uma coisa muito como Le Monde, que era anterior ao Libération. É um jornal hoje em dia, acho eu, datado. Quer dizer, até para mim é uma coisa já datada. Evidentemente, se estou em Paris compro o Libération. É o jornal que eu compro, não compro outro. Mas sento-me na esplanada a beber um café péssimo, como se bebe em Paris — que é péssimo, o café! — e passo as folhas do Libération, e há uma história ou duas que têm graça, o resto já não me diz grande coisa. Não! De facto, o jornal que eu leio todos os dias é o El País, um jornal extraordinário, absolutamente extraordinário! É claro que tem os seus erros, que tem as suas fraquezas, mas tem também uma coisa que é extraordinária: value for money! Leva-se duas horas ou duas horas e meia a ler, bem lido, o El País. Tem montes de coisas para ler, tem conteúdo, tem texto. Não é esta coisa completamente frenética de textos curtinhos, textos curtinhos, mil carateres… Não é isso! A leitura do El País deve ser feita despacio. Porque o próprio jornal, o próprio suporte convida a dedicar tempo a ler. Não é um jornal que se leia, como esses jornais grátis que são distribuídos no Metro, em que a gente lê assim os títulos e deita-se fora.
P — Lemos «as gordas».
AMF — Pois, lê-se «as gordas» porque não tem mais nada. Não! El País é um jornal. Há outros jornais extraordinários, como The New York Times, por exemplo, que é um jornal extraordinário. Em Itália há um grande jornal que é o La Repubblica, que é jornal que eu leio às vezes, quando estou em Itália.
P — Também lê em italiano?
AMF — Leio em italiano, mas não leio italiano como leio o francês ou o espanhol. Nunca aprendi italiano. Quer dizer, o que eu aprendi de italiano tem a ver com ler em italiano. E com o fenómeno mimético que se relaciona com o meu enorme, enorme afeto por Itália e pela cultura italiana. Eu chego a Itália e no dia seguinte estou a falar italiano. Um italiano cheio de erros, com imensos pontapés na gramática, mas estou a falar em italiano. Estou a falar com pronúncia italiana e os tipos respondem-me em italiano. Não me respondem, como em Paris acontece — embora fale francês relativamente bem — em inglês. Isto deixa-me completamente fora de mim: eu dirigir-me em francês, num francês corrente — ok, eles devem notar que eu sou estrangeiro, — e responderem em inglês. Por alma de quem?! Mas isto está a acontecer em França; em Itália, não acontece. É óbvio, em Itália fala-se em italiano, como é natural. E, portanto, há esse fenómeno de imersão no som da língua. Pode ter a ver com a musicalidade da própria língua italiana, que é, de facto, uma língua poderosamente musical…
P — Também os italianos são muito vaidosos da sua língua…
AMF — Exatamente. Os italianos têm uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária, que eu vi aqui há uns anos. É uma coisa comovente. Eu guardo esses DVD, porque é, de facto, uma coisa extraordinária. A certa altura, aquele louco genial que se chama Roberto Benigni um dia aterrou numa aula, na sala de sessões da Universidade de Bolonha — que é, como sabe, a mais antiga Universidade da Europa e uma das mais prestigiosas — e, na presença do reitor, dos professores, disse de cor A Divina Comédia, de Dante. O que é extraordinário é a loucura…
P — Recitou os três livros de cor?
AMF — Exatamente! De cor! Isso está registado. O homem transfigurou-se completamente. A certa altura, salta para cima da mesa da Sala dos Atos da Universidade de Bolonha e, de cima da mesa, diz a coisa. Há passagens que ele diz que são ditas em coro pela sala inteira. E depois, a coisa foi de tal forma grandiosa, que a RAI — a televisão estatal italiana — convidou-o a fazer aquilo nas praças de Itália, durante o verão. E há uma filmagem absolutamente extraordinária, passa-se em Florença, numa praça. Estão 3 mil italianos na praça, e de vez em quando ele dá a deixa e os 3 mil italianos dizem em coro A Divina Comédia. Isto revela uma identidade nacional e cultural fortíssima! Porque, efetivamente, o que os liga a todos é A Divina Comédia; o que os liga a todos é Dante, e não os particularismos regionais. Eles são, de facto, um conjunto de uma manta de retalhos de uma série de coisas, mas o que os liga é a língua. Digamos que o «papa» eterno da língua italiana que é Dante. E o grande poema nacional é A Divina Comédia. E isso é uma coisa muito extraordinária que eu devo-lhe dizer que nunca encontrei, até hoje, em mais sítio nenhum. É comum em Itália encontrarmos pessoas vulgaríssimas — não é preciso serem intelectuais extraordinários — que sabem passagens inteiras de A Divina Comédia de cor e dizem estrofes sucessivas. Quando um povo interioriza de tal forma um poema, um chamado poema nacional, há uma consciência de identidade. E essa consciência, essa identidade — apesar dos regionalismos das divisões — eles têm-na.
P — É um povo instruído…
AMF — É um povo instruído e é um povo orgulhoso.
P — Estou a recordar-me de que, por cá, há figuras da nossa política que não sabiam quantos cantos têm os Lusíadas…
AMF — Pois! E isso faz-me impressão. Porque isso é impossível encontrar em Itália.
Estou a exagerar. Com certeza que há pessoas em Itália também — os deserdados de Pietralata, por exemplo — que não sabem nada sobre A Divina Comédia. Até porque o poema é ensinado nas escolas; o poema é praticado, é memorizado; ou seja, a memorização do poema faz parte da aprendizagem do poema; e, portanto, eles têm essa capacidade de reproduzir largas passagens de A Divina Comédia. E eu acho isto uma coisa verdadeiramente admirável, e acho que torna os italianos às vezes insuportáveis, de uma arrogância cultural, intelectual extraordinárias. Mas isso vem do facto de que eles sabem muito bem, como D. Quixote: «Eu sei muito bem quem sou». Os Italianos sabem muito bem quem são. E quando têm dúvidas, dizem A Divina Comédia. Pronto! E nós todos ficamos a saber que eles são os daquele poema.
O TEMPO DO CÍRCULO DE LEITORES E A IMPORTÂNCIA DO EDITOR
P — Já referiu anteriormente que foi diretor do Círculo de Leitores. Para si, o que caracteriza um bom editor?

AMF — Bom, um bom editor deve ter sentido do risco, uma visão cultural, e muito bom senso. Às vezes não é fácil ligar isto tudo.
P — Dessa sua experiência no Círculo de Leitores, recorda alguma obra com especial orgulho?
AMF — Ah! Recordo-me de uma obra absolutamente extraordinária, uma edição extraordinária que se fez, por volta de 1986. O pintor Jorge Martins apareceu-me um dia no Círculo e levava uma caixa de madeira muito bonita. Pôs a caixa em cima da mesa e disse: «Ó António, vou-te mostrar uma coisa» e abriu essa caixa. Dentro da caixa estava uma coisa que um editor lhe tinha encomendado. Encomendou-lhe, ele fez. E depois, quando a foi apresentar, o editor disse-lhe: «Desgraçadamente não tenho condições financeiras para poder fazer esta edição, é muito cara.» Ele, naquele dia, apresentou-me aquilo. Eram 44 desenhos que tinha feito para a Mensagem de Fernando Pessoa. Eu disse-lhe: «Olha, eu não sei… Ainda por cima no Círculo de Leitores… Não sei muito bem como é que vou publicar isto.» O primeiro assalto que tive foi o do bom senso. O segundo foi o do risco. Disse-lhe: «Deixa ficar… Ainda não sei como, mas vou publicar!» E publicou‑se! Um álbum gigantesco do qual, infelizmente, nem sequer tenho um único exemplar. Foi um álbum bastante grande, caríssimo, que vendeu 5000 exemplares. O que é alucinante! Um livro de arte vender 5000 exemplares em Portugal nos anos 80, é extraordinário! Essa, para mim, é uma edição inesquecível.
Há outras. A Obra Completa de Eugénio de Andrade, por exemplo, que tem uma história extraordinária.
P – Conte-nos!
AMF — Falei ao Eugénio de Andrade, que conhecia há já alguns anos — já o tinha entrevistado para o Expresso — e disse-lhe: «Eugénio, estou-lhe a falar daqui do Círculo de Leitores, e nós gostávamos muito de editar uma antologia da sua obra poética…» E ele respondeu-me: «Ah… Estou muito dececionado consigo… Julguei que me vinha propor editar a obra completa…» E eu disse: «Ó Eugénio, eu não me atrevia a tanto!» Mas claro que editámos a obra completa, em três volumes mais um volume de biografia; de fotobiografia. Foi uma coisa, também, que deu enormíssimo gozo.
Mas há imensas coisas…
Ah, outra coisa extraordinária! Esta também é fantástica. O escritor João de Melo tinha feito uma antologia de textos de escritores portugueses sobre a Guerra Colonial, e apareceu-me com aquilo no Círculo de Leitores. Olhei para aquilo, e ele disse: «Olha, venho aqui em desespero de causa, António. Seis editores já me recusaram esta obra.» Via a obra. E, à medida que eu ia folheando a obra, ele ia contando a história, e eu pensava cá para mim: «Percebo perfeitamente! A que propósito é que se vai publicar agora uma antologia com excertos de obras de autores portugueses sobre a Guerra Colonial? Porque é que se vai fazer isto?» E, à medida que ia vendo, disse-lhe: «Oh João, eu só vejo uma hipótese de editarmos isto. É fazermos um álbum ricamente ilustrado.» Comecei logo a imaginar umas histórias. Mas havia ali um problema: como é que se ilustrava aquilo? Havia muito poucas fotografias da Guerra Colonial, porque os fotógrafos autorizados a cobrir a guerra eram pouquíssimos, dois ou três — havia a Beatriz Ferreira que tinha sido fotógrafa d’O Século, e havia dois ou três que eram autorizados pela PIDE, pelo governo — anos antes do 25 de Abril, evidentemente — a ir a África fotografar. E sobretudo não eram autorizados a fotografar cenários de guerra, corpos mutilados, decepados… «Como é que haveríamos de ilustrar aquilo?» Andava nesta coisa, e um dia estava em casa, de repente, tive uma iluminação. Só me aconteceu uma vez na vida, que foi essa vez. Tive uma iluminação. No dia seguinte, pedi ao João de Melo para ir ter comigo e disse-lhe: «Ó João, tu não és professor do Ensino Secundário?» E ele disse: «Sou, sou. Sou professor do ano tal…» Disse-lhe: «Então, pergunta lá aos teus alunos se os pais deles não fizeram a Guerra, e se não têm fotografias da Guerra.»
Apareceram-me cinco mil fotografias! Pois claro. Todos eles tinham passado pela Guerra, todos tinham tirado fotografias. Portanto, havia. E aquilo foi ilustrado estritamente com fotografias de militares portugueses que tinham feito a Guerra. Isso era, aliás, explicado.
P — Fotografias em primeira mão!
AMF — Em primeira mão, completamente. Fotografias extraordinárias! E vendemos 104 mil exemplares desse livro. Foi um ano muito feliz para o Círculo de Leitores. Correu muito bem. Portanto, isso também é uma coisa de que eu gosto muito, uma coisa criada pelo trabalho do editor em conjunto com o autor. E inventar… Lembro-me perfeitamente disso — o João aparecia-me: «António! Estás aí no Círculo?» E eu dizia: «Estou, estou cá de manhã até à noite.» «Então, eu vou aparecer aí!», dizia-me ele. E chegava-me com caixas de sapatos cheias de fotografias! Abria a caixa de sapatos e dizia: «E esta? E esta?!» Umas fotografias extraordinárias. Algumas impublicáveis, até.
P — Não as conseguiu publicar todas?
AMF — Não. E algumas não deviam mesmo ser publicadas. Não podiam ser publicadas. Fotografias, por exemplo, íntimas dos militares, que se fotografavam uns aos outros. Como é óbvio. Estavam na guerra, no meio do mato, era para a loucura. Aquilo era o maior dos disparates. Não se podia estar a publicar uma coisa daquelas, até porque não tinha nada a ver com nenhum texto.
P — Acha que o trabalho do editor pode aumentar a vida útil da obra?
 AMF — Claro. Acabei de lhe dar o exemplo com a antologia da Guerra Colonial. O olhar do editor pode ser a tal iluminação/cintilação. No caso do livro do Jorge Martins, da Mensagem, não. Ele tinha ali os desenhos, era só imaginar como é que comercialmente se viabilizava aquilo. Mas no caso desta antologia da Guerra Colonial, é claramente um produto que é criado com a participação do olhar do editor, que começa a pensar: mas como é que eu comercializo isto? Como é que eu faço disto um livro, que não seja uma chatice de textos? A maior parte dos textos, aliás, nem sequer eram inéditos. Eram excertos de livros de prosa, e de poesia também. Estavam lá poemas do Manuel Alegre, do Fernando Assis Pacheco… Portanto, como é que eu torno uma coisa que nem sequer é inédita numa coisa interessante e significativa para as pessoas? Sobretudo, para aquele milhão de portugueses, homens, que fez a Guerra e que são o mercado potencial desta obra? Pois! Vendeu cento e tal mil, claro.
AMF — Claro. Acabei de lhe dar o exemplo com a antologia da Guerra Colonial. O olhar do editor pode ser a tal iluminação/cintilação. No caso do livro do Jorge Martins, da Mensagem, não. Ele tinha ali os desenhos, era só imaginar como é que comercialmente se viabilizava aquilo. Mas no caso desta antologia da Guerra Colonial, é claramente um produto que é criado com a participação do olhar do editor, que começa a pensar: mas como é que eu comercializo isto? Como é que eu faço disto um livro, que não seja uma chatice de textos? A maior parte dos textos, aliás, nem sequer eram inéditos. Eram excertos de livros de prosa, e de poesia também. Estavam lá poemas do Manuel Alegre, do Fernando Assis Pacheco… Portanto, como é que eu torno uma coisa que nem sequer é inédita numa coisa interessante e significativa para as pessoas? Sobretudo, para aquele milhão de portugueses, homens, que fez a Guerra e que são o mercado potencial desta obra? Pois! Vendeu cento e tal mil, claro.
(continua)
TPR
Publicações Relacionadas
-

-
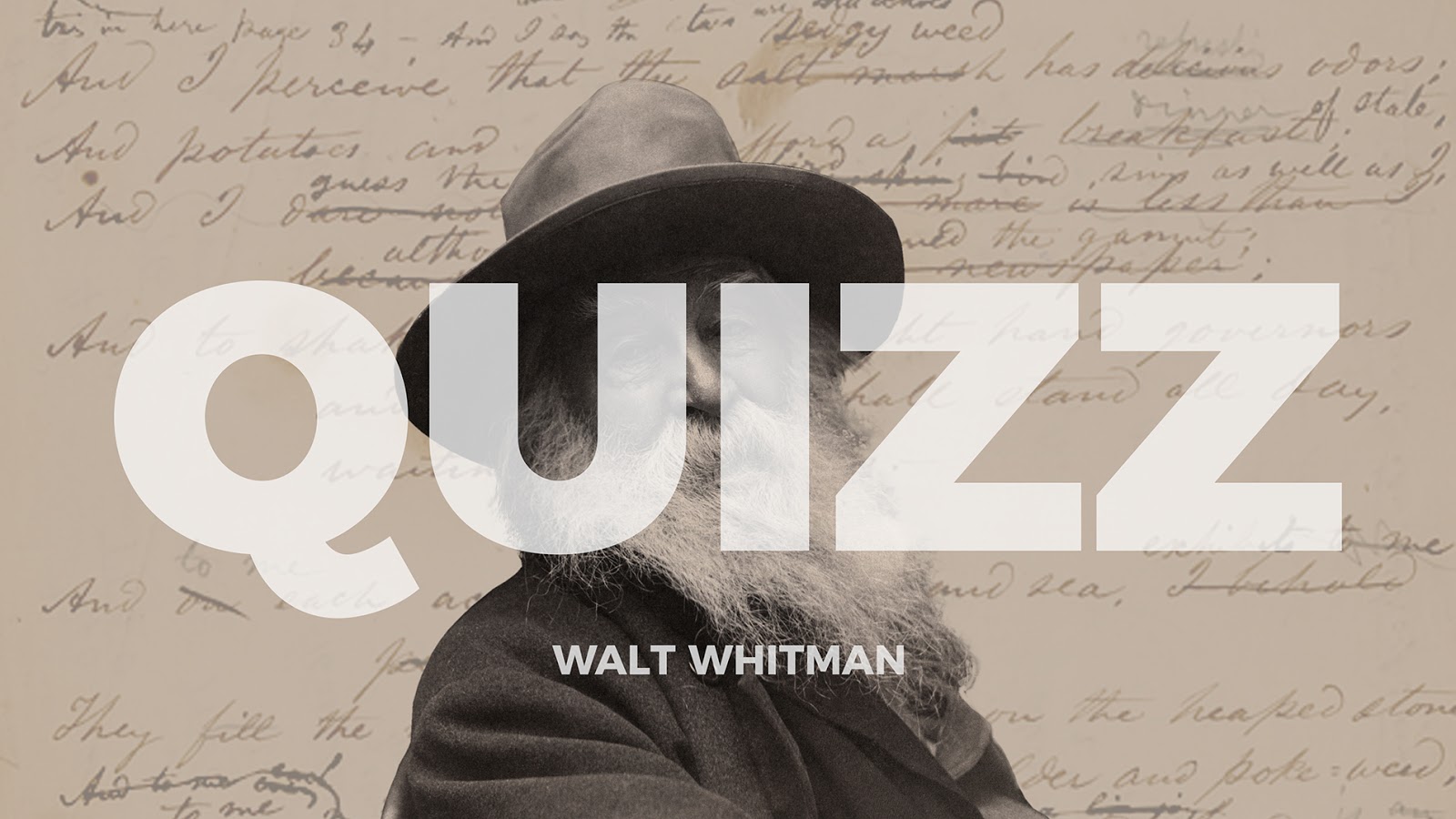
QUIZZ | O Essencial sobre Walt Whitman
31 Julho 2018
-

-

-

Fernando Pessoa
30 Março 2021
Publicações Relacionadas
-
QUIZZ | O Essencial sobre Walt Whitman
Há 2 dias
-
Fernando Pessoa
Há 2 dias







