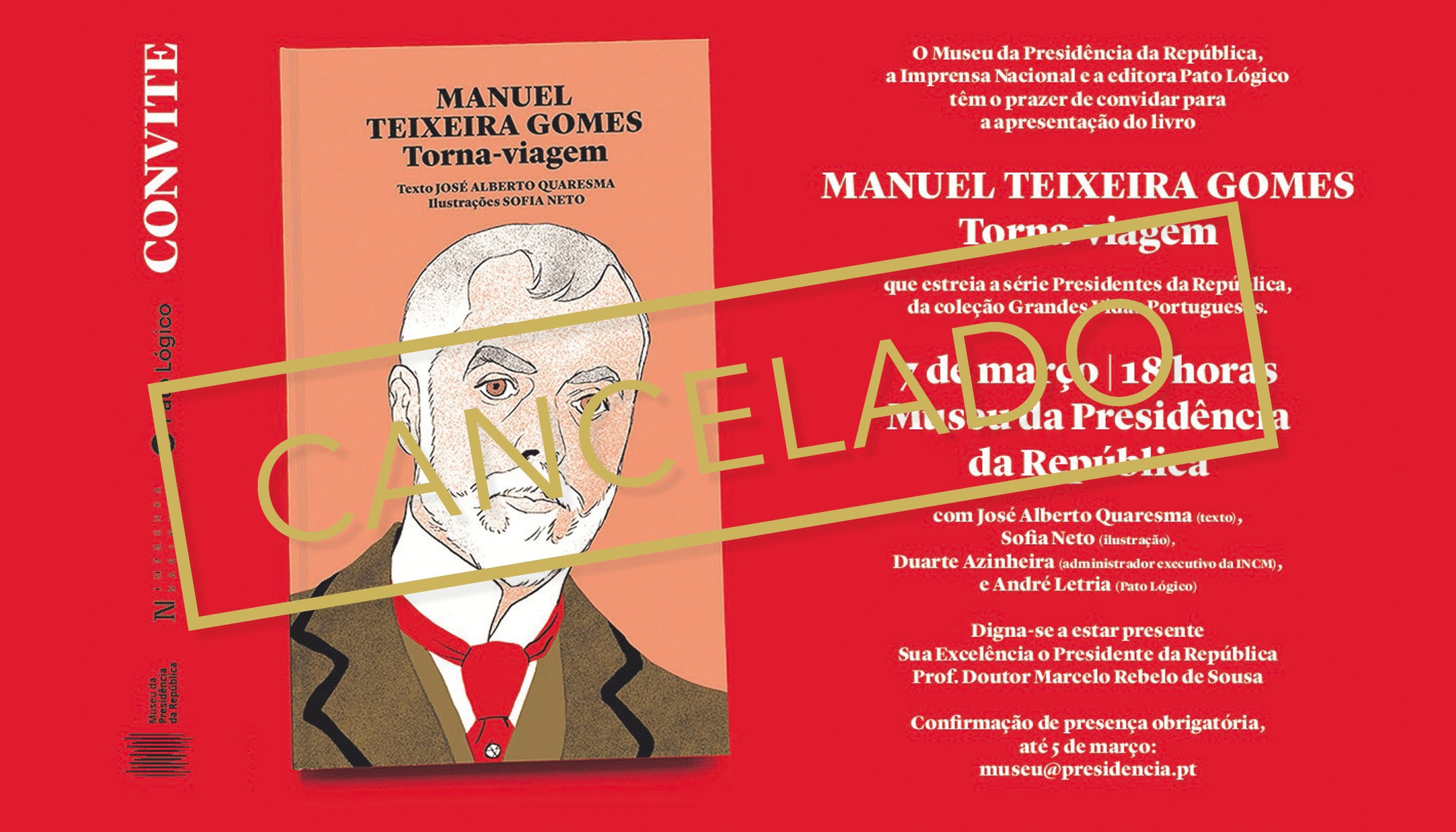Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
- Cultura
- Entrevistas
«Numa lufa-lufa entre o coração e a cabeça» — Entrevista a Frederico Pedreira
Texto e fotografias: Tânia Pinto Ribeiro
Foi a «perplexidade» perante algumas coisas, «na arte e na vida de todos os dias», que «empurraram» Frederico Pedreira para a noção de estranheza. Uma noção que é assim uma «espécie de convite às possibilidades da interpretação» conta-nos o vencedor do Prémio INCM/VGM 2016, na categoria Ensaio. Foi, precisamente, com Uma Aproximação à Estranheza que Frederico Pedreira conquistou, com a unanimidade do júri, o galardão da editora pública. O júri, já repetente (recorde-se que na edição anterior havia premiado História do século vinte, de José Gardeazabal), foi composto por Jorge Reis-Sá, Pedro Mexia e José Tolentino Mendonça, e evidenciou na obra de Pedreira a «robustez teórica e a amplidão de olhar no tratamento de um tema transversal à experiência de receção do mundo e das suas múltiplas linguagens: a noção de estranheza (…)».
Licenciado em Comunicação e doutor em Teoria da Literatura, pela Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, Frederico Pedreira já tinha publicado Presa Comum (2015), Fazer de Morto (2016), Um Bárbaro em Casa (2014) e, antes disso, três volumes de poesia ou de prosa poética: Breve Passagem pelo Fogo (2011), O Artista Está Sozinho (2013) e Doze Passos Atrás (2013). Mas o percurso de Pedreira, no campo das letras, começou muito antes disto. Nascido, em Lisboa, em 1983, afirma que a escrita lhe vem «desde sempre». A prosa, a poesia, o ensaio, o conto — as áreas que tem privilegiado e onde se tem destacado — foram, depois, surgindo «em plena conformidade com as arritmias naturais do gesto criativo». Diz Pedreira que «sem biografia não existe literatura», até porque o escritor procura «pôr no papel aquilo que, de uma maneira ou de outra, nos faz falta na vida lá fora».
Também a tradução tem um peso precioso na vida de Pedreira. G. K. Chesterton, Robert L. Stevenson, Oscar Wilde e H. G. Wells foram alguns dos consagrados que já traduziu. Decidimos provocar este jovem escritor (e tradutor) com o velhinho adágio italiano que diz que «traduttore, traditore» (tradutor, traidor). Pedreira negou prontamente a veracidade do provérbio, argumentando que o tradutor é muitas vezes a «besta de carga da linguagem», aquele que faz «o possível» com o que tem à mão, e muitas vezes com o que não tem: «é quase um milagre que consiga certas coisas só com a sua intuição e algum domínio da língua de chegada», diz-nos.
Da sua geração dá destaque à poesia do Vasco Gato, Paulo Tavares e Daniel Jonas que é, diz, «simplesmente grande». Surpreendido ficou com o livro de estreia de Miguel Alexandre Marquez, Coda. Dos «grandes» realce para o António Lobo Antunes do início («sensivelmente de Memória de Elefante até A Morte de Carlos Gardel») e José Cardoso Pires («sempre irrequieto no seu modo de dizer»). Com certos autores diz mesmo manter uma «relação de eterno retorno». Com o Pessoa do Desasocego a ganhar o podium. No que ao ensaio em português diz respeito, Pedreira admira nomes como António M. Feijó, Miguel Tamen e Frederico Loureço. Já quanto à ideia deste país ser ou não ser para escritores, Pedreira explica-nos que «a escrita é uma realidade íntima» e, quando se fala num país que é bom para os seus escritores, «fala-se em expectativas e colmatação dessas expectativas». Frederico Pedreira considera que «o escritor, por definição, não precisa de nada disso».
Diz ainda que não estava à espera de ser o vencedor da 2.ª edição do Prémio INCM/VGM. Aliás, chegou mesmo a sentir «estranheza». Até porque a notícia «não veio em tempo real», veio no «tempo diferido de uma mensagem de voz». Além do valor pecuniário do Prémio, o galardão da editora pública significa para Pedreira «a sorte de alguns olhos atentos e um interesse que não esperava fora das salas de aula». E será sempre uma «recordação risonha» mas que não deve interferir com o seu trabalho. Frederico Pedreira só celebra «esse pobre festim da escrita» quando todos os outros assuntos «já dormem» e já não o «atormentam».
Uma Aproximação à Estranheza teve a sua génese na tese de doutoramento de Pedreira, tratando-se de um conjunto de quatro ensaios que partiram de «um impulso inicial para entender algumas ansiedades expressivas manifestas nas obras de alguns escritores». Entre esses autores estão aqueles que «martelaram» Pedreira «até à surdez». Nuno Bragança, Beckett, Joyce, Céline, Robert Walser, John Cassavetes, João César Monteiro, Kierkegaard, Wittgenstein e Cavell, para mencionar alguns.
Uma Aproximação à Estranheza está agora publicada na coleção «Olhares», da chancela da casa que o premiou. Diz o próprio autor que se trata de «um livro peculiar», sobretudo pela forma como foi feito «numa lufa-lufa entre o coração e a cabeça». E só por aqui se sente que o livro promete!
PRELO [P] — O seu nome soa já entre os nomes da nova na literatura portuguesa. Pode em algumas linhas resumir-nos o seu percurso até aqui?
FREDERICO PEDREIRA [FP] — A escrita vem desde sempre que me lembro de ter consciência de ser pessoa com coisas a dizer de mim para mim, a minha maneira de estar só. O dito percurso, na sua lógica cumulativa de livros, é uma consequência absolutamente acidental dessa consciência. Voltado para o público, veio em primeiro lugar Breve Passagem pelo Fogo, livrinho que me é muito caro, não exactamente pelo que vem nele, mas pelas circunstâncias, o entusiasmo e as expectativas, muito verdes, ingénuas, que lhe deram forma. É um livro pobre, e há beleza discreta nisso. Há um ou outro livro dos que vieram a seguir que ainda gosto enquanto livro: Doze Passos Atrás, por exemplo. O resto, prosa, poesia, ensaio, conto, foi surgindo em plena conformidade com as arritmias naturais do gesto criativo. A melhor forma que encontro para resumir o meu percurso é achá-lo uma espécie de anotação à margem dos dias, um diário de bordo de utilidade nula e ainda assim indispensável.
P — Há algum tempo, José Tolentino Mendonça, que presidiu ao prémio INCM/VGM, escrevia numa das suas crónicas para o semanário Expresso que «este país não é para escritores». Concorda?
FP — Depende do que se quer dizer com isso. Se falamos a um nível estritamente financeiro ou lucrativo, o melhor é o escritor português saber muito bem outra língua e mudar de país, procurar a sua Faber & Faber, seja lá onde for, pois aqui, se não andar de festival em festival a promover os seus livros ou a estender os seus esforços criativos num regime semanal em forma de prosa consumível, não terá muito que amealhar ao fim do mês. A meu ver, todos os países são para escritores, pois a noção de país não interfere em nada com o trabalho de escrita e de pensar. A ideia de país, nação ou pátria são acidentes de percurso numa mente que se quer livre de constrangimentos exteriores, seja na cela do quotidiano ou na falível paz de alma de uma quinta com vista para as maravilhas do mundo. A escrita é uma realidade íntima. Quando se fala num país que é bom para os seus escritores, fala-se em expectativas e colmatação dessas expectativas. O escritor, por definição, não precisa de nada disso.
P — É possível, para um jovem escritor, como é o seu caso, viver-se inteiramente da escrita em Portugal? Isto é, ser um escritor profissional?
FP — A ideia de escritor profissional dá-me arrepios. A escrita é o que se faz nos intervalos das profissões. A ideia de profissão é indissociável de obrigações. Ora, o trabalho do escritor é um constante espantar dessas obrigações. Escrever corresponde a umas férias da mente ativa, como se por momentos deixássemos o mundo em ponto morto. Ter essas férias da mente é, sem dúvida, e hoje mais do que nunca, um verdadeiro luxo, isto por causa das tais profissões. É um luxo porque tudo o que se passa lá fora é uma seta disparada para um determinado alvo, e gosto de ver as minhas palavras no papel como setas despedidas ao acaso, como quem se entretém na interminável excitação de um novo brinquedo.
P — Ser escritor era um sonho de adolescente ou foi uma coisa que lhe «aconteceu»?
FP — Quando era miúdo, olhava para os retratos de certos escritores antigos e via neles uma circunspeção que adivinhava nos começos da minha. Tudo isto levou entretanto muitas voltas. O sossego da escrita, que significa declarar falência ao mundo lá fora e instaurar uma república doida onde por breves instantes somos donos e senhores de tudo, tornou-se um tique da minha consciência que não mais quis abandonar. O meu sonho de adolescente era ter uma banda, tocar guitarra ou piano num palco. Isso sim, é que me enchia o olho. Tentei, mas é tão complicado por vezes partilhar um estúdio com outros músicos… Experimentei fazer música a sós, mas toda a logística de instrumentos, do equipamento de gravação, é tão vasta e complexa comparada com a pobreza do papel e do lápis afiado. Percebi que também na escrita podia habitar o alto de certas fantasias. Assim, por falta de paciência para a música, transferi-me em toda a minha impaciência para as horas de escrita.
P — A seu ver, qual é a importância da leitura no métier de um escritor?
FP — A leitura chegou-me tarde e por mãos alheias. Um livro de aventuras, a perplexidade perante o colosso de uma enciclopédia, até uma tentativa de transcrição integral, sei lá eu porquê, de um dicionário para um ficheiro no computador. Entretanto, começo a ler fora de horas o que me ensinavam no secundário. Começo a entender que a leitura integral é diferente da leitura-amostra. Apercebo-me de gente que dedicou vidas inteiras às palavras. O ofício doente e obsessivo dos poetas: como não ficar seduzido pela simultânea inutilidade e grandiosidade imposta em tais esforços? Nisto, dou conta de que há um relógio sempre atrasado no mundo, que bate devagar nos livros. Sem essa noção que outros escritores me deram de atrasar o tempo, teria sido difícil escrever o que quer que fosse. Lá fora, as pessoas não falam como nos livros, e nem isso seria bom. Perderia toda a graça, alguém pedir um café em verso ou falar ao almoço sobre personagens de romances como se estes morassem na rua abaixo. A leitura é uma afinação do isolamento que nos esvazia de vida e nos convence loucamente de que até sabe bem conversar com um papel.
P — E a inspiração? Onde a vai sorver?
FP — A inspiração é uma coisa dos demónios. É uma palavra perigosa, isto porque nos faz de facto acreditar que ela significa realmente alguma coisa. Mas vou-me dar ao luxo de usar o termo esvaziado e dizer assim que inspiração é quando nos achamos subitamente rodeados de uma parte importante dos objetos do nosso afeto. Estes podem ser rostos, memórias ou fragmentos da linguagem que ora nos fazem caretas, ora sorriem ou fazem birra até que começamos finalmente a prestar-lhes atenção. Quando escrevo, não estou muito à-vontade, como se me obrigasse a tapar boca e nariz debaixo de água. Às vezes é uma aflição, porque temos de dar atenção a muita gente ao mesmo tempo: há rostos e imagens que nos pedem atenção há anos, e ainda não tratámos deles no papel. Há comichões intelectuais que procuram os paliativos da razão, do tempo e da ponderação. Há uma fila de fantasmas que esperam a sua vez de entrar, e então a pessoa que escreve pergunta-se «porquê?» sem ter tempo de responder porque entretanto já está ocupada a depenar das sombras de um.
P — Todos desenvolvemos uma relação pessoal com a escrita. Qual é o seu processo de escrita?
FP — Só celebro esse pobre festim da escrita quando todos os outros assuntos já dormem e não me atormentam. Gosto quando, pressionadas por outras, algumas pessoas levantam o dedo, meio aflitas, e dizem «Momento», reduzindo ao máximo a expressão, essa bandeira branca que pede tréguas às vozes dos outros. Continuo a achar que as pessoas, na generalidade dos casos, falam muito. No fundo, acho que deviam falar menos. Mas nada posso quanto a isso. Assim, a altura em que também eu, diariamente, levanto o meu dedo e digo «Momento», é quando atraso o desacerto das vozes lá fora e tento fazer alguma coisa com ele. A escrita é a minha intimidade às avessas, meio contrariada, zangada até, de costas voltadas para os barulhos que as pessoas fazem durante o dia.
P — Já publicou poesia, estreou-se em prosa com Um Bárbaro em Casa (2014) e agora enveredou pelo ensaio. Tem algum género preferido? Isto é, sente que um determinado terreno é mais fértil do que outro?
FP — A fertilidade do terreno interessar-me-ia se procurasse meios de me estabelecer publicamente. Não tenho como averiguar a qualidade desses terrenos. O que vou escrevendo tem que ver unicamente com apetites, com uma voracidade por vezes cega de dizer. Às vezes, a voz sai-me esganiçada, o que já aconteceu nesse primeiro livro em prosa e em alguma poesia, outras escuto-me como indivíduo dotado de certa ponderação, como no ensaio, mas isso sou eu a enganar-me com as roupas novas da linguagem. Em Uma Aproximação à Estranheza, vou todo engalanado para um baile cheio de gente inteligente, elegante, interessante, alguns mortos também. Chego lá e ouço todos esses autores, pouco ou nada digo, mas escuto tudo com muita atenção. Tiro apontamentos. Faço um livro com as impressões que essa festa me provocou. É um livro de ensaios porque se tratava de gente inteligente e cheia de argumentos plausíveis.
P — Em Um Bárbaro em Casa há sinais claros da influência de Lobo Antunes. Este escritor é uma referência para si?
FP — Admiro muito os seus primeiros livros, sensivelmente de Memória de Elefante até A Morte de Carlos Gardel. Guardo reservas, em termos estritamente intelectuais e criativos, ante um autor que escreve tanto e que adormece tantas vezes sobre os papéis que vai enchendo. Há muito tempo que não há surpresa nesse nome, e é um desconsolo quando um autor ganha gosto ao atirar sucessivas rosas aos próprios pés. Parece-me que o Cardoso Pires, por exemplo, andou sempre irrequieto no seu modo de dizer, e isso distingue de facto cada um dos seus livros.
P — E o que o seduziu na escrita de António Lobo Antunes?
FP — Em livros muito bons, como os que referi atrás e onde falta, talvez, um posterior, Manual dos Inquisidores, o que gosto realmente é de uma noção muito curiosa de liberdade comezinha, a procura de esse poucochinho de paz que é esgaravatada com mãos de gigante. As mãos do escritor desses livros eram gigantes, muito sujas e comoventes na sua falta de jeito. Não podiam pegar no mais mínimo bibelô que estilhaçavam logo tudo. No fundo, em todas aquelas personagens, contava-se a história de um homem à procura da forma mais respirável de ser homem, isto quando a canção da vida parecia morrer de inanição. Esses seus livros fazem-me lembrar um homem que declara falência ao banco numa manhã e à tarde adormece a cheirar flores num parque suburbano.

P — Um autor referência para um jovem escritor pode também ser uma dor de cabeça? Isto na medida em que pode condicionar a nossa própria escrita?
FP — Sem dúvida. Ainda assim, não percamos a esperança. Há truques. Infelizmente, tenho a intuição de que não me livrarei das sombras dos meus dias de leitura e portanto de certos timbres que me acompanharam, ainda que hoje em dia os ouça como conversa alheia no andar do lado. Por decoro, tento não ouvir mais do que me é impossível deixar de ouvir. Ganhei o hábito, bastante negligenciável só por si, de escrever poesia quando leio prosa e vice-versa. Se me ponho a escrever poesia e a ler poetas ao mesmo tempo, começo a cantar alto e a convencer-me de que a melodia é realmente minha.
P — Existe material autobiográfico nos seus livros?
FP — Sem biografia não existe literatura. O autor de memórias sabe isso da mesma maneira que, no íntimo, o autor de ficção científica também o sabe. Procuramos pôr no papel aquilo que, de uma maneira ou de outra, nos faz falta na vida lá fora. A escrita é uma obsessão com consequências não muito nefastas, e, ainda assim, é mais uma obsessão entre muitas que temos, como voltar ao carro duas ou mais vezes para ver se as portas estão trancadas. A diferença entre as duas não é de espécie, mas de grau. A ideia que atravessa toda a escrita é esta: «Sou eu, estou aqui, aconteceram coisas, o que é que eu faço?» E então passa-se para a palavra, que, essa sim, é largamente maleável, dada a desvarios, felizmente para nós. Seria aborrecido se a escrita não passasse de um duplicado do que aconteceu ontem.
P — Já alguma vez sentiu a necessidade de se afastar de algumas leituras? De alguns autores?
FP — Acontece-me várias vezes ter de deixar leituras de parte para conseguir escrever. Mas isto não se deve a nada de esotérico ou a uma angustiante troca de influências: deve-se apenas ao facto, muito mais pobre e menos apelativo, de, nas circunstâncias em que me encontro, ter de gerir o meu tempo com alguma inteligência: se, mesmo assim, procuro o resgate instantâneo de um poema ou de uns parágrafos ensaísticos antes de começar a escrever nesse pouco tempo que me resta, ler um romance soa-me quase, nestes dias, a um reclame de férias para as quais não tenho dinheiro.
P — Quais?
FP — No sentido da resposta anterior, afasto-me de todos os livros, bons e maus, que façam um orçamento de tempo que excede claramente o que lhes posso dar.
P — E existe algum autor a quem tenha sempre de voltar?
FP — Mantenho com vários autores uma relação de eterno retorno. O Pessoa do Desasocego em primeiríssimo lugar, a poesia de Pessoa em trajo simples e disfarçado de Alberto Caeiro, os maravilhosos ensaios e poesia de Joaquim Manuel Magalhães, João Miguel Fernandes Jorge, António Franco Alexandre, Jorge Roque, o Séneca de Cartas a Lucílio, os Quatro Quartetos de T. S. Eliot, os ensaios de Stanley Cavell, Wittgenstein, Robert Walser, algum Hamsun. Assim todos ao molho, são os meus portos de abrigo, ou, afinando a metáfora, os meus regressos a casa.

P — Da sua geração quais são os autores portugueses que mais admira? E porquê?
FP — A poesia do Vasco Gato marca-me, sinto falta da poesia do Paulo Tavares (Minimal Existencial e Linhas de Hartmann são leituras fortes), e o Daniel Jonas é simplesmente grande. Fiquei muito surpreendido com o livro de estreia de Miguel Alexandre Marquez, Coda. Estranha e enviesadamente inovador. Não são da minha geração, mas acredito serem os melhores ensaístas que escrevem hoje: Miguel Tamen (Erro Extremo) e António M. Feijó (Uma Admiração Pastoril pelo Diabo). E acrescento, claro, Frederico Lourenço e o excelente O Lugar Supraceleste.
A poesia do Vasco Gato foi recentemente publicada pela Imprensa Nacional com o título Contra Mim Falo.
P — Também é tradutor. Já traduziu, entre outros, de G. K. Chesterton, Robert L. Stevenson, Oscar Wilde e H. G. Wells. O que se traduz primeiro: as palavras ou as intenções?
FP — Traduzir é mais difícil do que parece. A pessoa tem de manter uma conversa a dois durante semanas, meses, com uma determinada voz, e nunca se percebe bem se se trata de um monólogo vindo de um estrangeiro qualquer, não tendo nós escolha senão aceitar e dar-lhe ouvidos, ou se nos é de facto permitido entrar na conversa sem ofender muito o pudor alheio. Para mim, não há palavra sem intenção, como não há gesto consciente sem direção. A palavra não nos aparece como uma peça pronta a ser encaixada num molde diferente. Às vezes, temos de perceber se ela não se aborrece muito na convivência de outras, perceber se nos sorri, se está ali meio contrariada ou envergonhada por saber que está a ocupar o lugar de outra. Não há, é verdade, uma única intenção do autor, e mesmo se houvesse, o tradutor nunca iria encontrar esse tesouro. O que o tradutor tenta fazer é experimentar uma dicção diferente numa boca que é sua e aprender os truques e tiques de linguagem alheios até que, por momentos, se tornem seus. O tradutor intui uma intenção e a partir dessa julga descobrir, melhor ou pior, outras tantas do autor.

P — Existe um provérbio em italiano que diz que «Traduttore, traditore.» Provoco-o, perguntando-lhe se um tradutor é sempre um traidor?
FP — Nada. Mas o tradutor não é traidor porque não traiu coisa nenhuma. Ele está simplesmente a tentar deixar em linguagem legível o que um estrangeiro expressou com barulhos que soam estranhos aos ouvidos dos que não são da cultura dele. O tradutor é um facilitador e, ao mesmo tempo, um escavador de culturas. O autor ou o leitor que se acharem traídos, experiência particularmente penosa, devem procurar dicionários e uma escola de línguas que os leve a escrever ou a ler noutro idioma. O tradutor, muitas vezes besta de carga da linguagem, faz o possível com o que tem à mão, e muitas vezes com o que não tem. Às vezes, é quase um milagre que consiga certas coisas só com a sua intuição e algum domínio da língua de chegada.
P — Uma Aproximação à Estranheza é a edição distinguida com o Prémio INCM/Vasco Graça Moura 2016, na categoria de Ensaio. O que é que os leitores podem esperar desta obra?
FP — Julgo que podem esperar um piscar de olhos e algum pensamento com trejeitos filosóficos ou literários a um tema (a estranheza) que, digo-o sinceramente, me ultrapassa e ainda hoje não sei bem como falar acertadamente dele. É bom sinal, continua a deixar‑me perplexo. Até porque foi a perplexidade perante algumas coisas, na arte e na vida de todos os dias, que me empurrou para a noção de estranheza. É um livro peculiar, acredito, sobretudo pela forma como foi feito: sempre numa lufa-lufa entre coração e cabeça.
P — Como teve conhecimento das candidaturas ao Prémio INCM/VGM?

FP — Através de um website, quando andava de olho em empregos: Plataforma 9.
P — Porque decidiu concorrer?
FP — O livro nasce de uma tese de doutoramento com breves adaptações. Ao longo do tempo em que fui escrevendo a minha tese, não larguei a ideia, ainda que remota, de um dia vê-la publicada em livro. Depois, precisava realmente do dinheiro.
P — Sentiu algum tipo de estranheza quando soube que era o vencedor? Como reagiu quando soube que era o vencedor?
FP — A estranheza que senti foi esta: não esperava, a verdade é essa. E a notícia não veio em tempo real, porque não atendi o telefone (na altura não sabia quem era). Veio no tempo diferido de uma mensagem de voz. E ao ouvi-la, ia pensando que não era comigo. Não é preciso ganhar um prémio para termos por vezes a sensação de que não é a nós que se dirigem as pessoas que nos dizem coisas.
P — Além do valor pecuniário o que é que este prémio significa para si?
FP — Significa a sorte de alguns olhos atentos e um interesse que não esperava fora das salas de aula; será sempre uma recordação risonha, mas que não deve interferir com o trabalho, esse sempre em curso, com uma boa dose de pudor e distanciamento.
P — Teve oportunidade de privar com Vasco Graça Moura? Conhece a sua obra?
FP — Nunca tal aconteceu. Acho que teria sido difícil. Conheço e gosto de muitos dos seus poemas. Parece-me que foi um poeta essencialmente livre e responsável, na aceção da palavra que gosto de lhe dar.
P — Explica neste seu livro que a escrita destes 4 ensaios — que o compõem — partiu de um impulso inicial para entender algumas ansiedades expressivas manifestas nas obras de alguns escritores. Que ansiedades e que escritores são esses?

FP — Os autores são os que martelaram até à surdez e ao longo de anos de leitura a minha ideia de linguagem: Nuno Bragança, Beckett, Joyce, Céline, Robert Walser, John Cassavetes, João César Monteiro, Kierkegaard, Wittgenstein, Cavell. Não falo de poetas porque seria uma lista bem mais longa. As ansiedades de que falo remetem para uma arritmia expressiva, um querer dizer por linhas tortas, o falar de costas voltadas para quem ouve. Isto não é bem assim: qualquer pessoa que faça arte com alguma seriedade pensa na possibilidade de público. Ainda assim, certos autores expõem, como que à luz do dia, o avesso da relação conturbada entre o que se quer dizer e o que se diz. Isso sempre me interessou. Dá-me vontade de perguntar ao autor: «Mas o que está a tentar fazer, afinal?», como perguntamos a um estranho que se porta mal. A pergunta pode soar irritada ou simplesmente curiosa. A verdade é que, naturalmente, não é por encostarmos o mais possível o livro aos olhos que conseguimos ver o que está para além da tinta no papel. Temos de nos contentar com o que lá foi posto. É aí, então, que a estranheza e a minha versão dela neste meu livro começam.
P — Como explica o seu «certo fascínio» pela noção do «inexprimível»?
FP — Esse fascínio nasce, como sugeri na resposta anterior, da perplexidade diante de escolhas vocabulares de autores que dão voltas e voltas para dizerem o que acreditam, de uma maneira ou de outra, que ficará muito aquém do que podia ter sido dito noutras circunstâncias, ou do que podia ter ficado só em pensamento.
P — Assim de repente, o que lhe é inexprimível por palavras?
FP — É engraçado e, acredito, algo contraditório, mas acho que não existe nada que seja verdadeiramente inexprimível, se isto realmente significar aquilo que não é passível de ser dito em voz alta ou no papel. Acredito que tudo o que pode ser pensado pode ser dito, mal ou bem, com muito ou pouco esforço. Até a ideia de Deus. Ainda assim, uma tentativa pode não ser suficiente. Se calhar, pode ser necessário que se tente mais duas ou três vezes, quiçá uma vida inteira de tentativas. Os teólogos, os poetas e os filósofos nada mais fazem, no fundo, do que isso. Os académicos e os críticos literários sérios fazem isso. Os escritores resolvidos a mesma coisa. Por isso é que às vezes os seus livros só fazem sentido quando consideramos o todo de que são parte constituinte, com as suas falhas e incompletudes, mas na condição de gesto total cuja direção só a noção de obra pode esclarecer minimamente.
P — «Estranheza:
1. Característica daquilo que é estranho;
2. Designação de admiração, assombro, espanto ou estupefação;
3. Desconforto, incómodo, desconfiança ou apreensão;
4. Esquivança, desconsideração, desdém ou desprezo.»
Que definição imediata acrescentaria a estas definições de estranheza que ocorrem nos dicionários de língua portuguesa?
FP — Interpretação.
P — «Acontece que os cenários desabam. Os gestos de levantar-se, o carro-eléctrico, quatro horas de escritório ou de fábrica, refeição, carro-eléctrico, quatro horas de trabalho, refeição, sono e segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo, esta estrada segue-se com facilidade a maior parte do tempo. Só um dia o ‘porquê’ se levanta e tudo recomeça nessa lassidão tingida de espanto. ‘Começa’, isto é importante. A lassidão está no fim dos atos de uma vida maquinal, mas inaugura, ao mesmo tempo, o movimento da consciência.»
Este é um excerto de O Mito de Sísifo, de Albert Camus. É neste «porquê» que a estranheza começa?
FP — Sem dúvida. Alguém disse que a verdadeira cultura era o simples ato de parar para pensar. Falo num reconhecimento das nossas condições de existência, numa ponderação dos meios em que subsiste a consciência do eu. Este pedaço de Camus faz-me lembrar uma banda rock norte-americana que ia gravar para o estúdio com zero horas de sono em cima. Na descarga do som, por definição já agressivo e gutural, pressentia-se uma exaustão propícia a um abandono das vestes da sociabilidade e da tal «vida maquinal». Se calhar, também eles pensavam que assim se amplificava melhor, como Camus diz, «o movimento da consciência». O «porquê» que o texto citado levanta é a inauguração da perplexidade, cuja relação com momentos de estranheza, voltada para o eu e para os outros, é absolutamente contígua. É o começo de todo o pensamento. Um certo aturdimento nunca fez mal a ninguém.
P — Continuemos n’O Mito de Sísifo e em Camus. Em Situações I, vemos um Jean Paul‑Sartre a compreender, à luz do Mito de Sísifo, a inocência de Meursault, o protagonista d’ O Estrangeiro, opus magnum de Camus. Diz Sartre a propósito de Meursault:
«Um inocente em todos os sentidos da palavra, um ‘idiota’ também, se assim quiserdes. E desta vez compreendemos plenamente o título do romance de Camus. O estrangeiro que quer descrever é justamente um desses terríveis inocentes que constituem o escândalo de uma sociedade porque não aceitam as regras do seu jogo. Vive entre os estrangeiros, mas para eles é também um estranho. Por isso alguns o amarão, como Marie, sua amante, que lhe tem afeto ‘porque é bizarro’: e por isso, também, outros o detestarão, como essa multidão de sedentários cujo ódio ele sente imediatamente. E nós mesmos, que, ao abrir o livro, ainda não estamos familiarizados com o sentimento do absurdo, em vão tentaríamos julgá-lo segundo as normas habituais; achamos também que é um estranho.»
É mesmo assim os seres estranhos são sempre «inocentes» e «idiotas», passiveis de ser amados e odiados?
FP — Meursault é uma personagem literária e, de uma maneira ou de outra, resultado de uma obsessão do autor face a um determinado tema. Nós, as pessoas, somos familiares e estranhas umas para as outras, mudamos muitas vezes de uniforme consoante as expectativas da ocasião. Tudo depende dos olhos que espreitam e das circunstâncias em que o fazem. Não existem pessoas intrinsecamente estranhas, do mesmo modo que não há linguagem ou autores intrinsecamente estranhos. As propriedades que participam da nossa constituição, bem como da linguagem, são, de um modo geral, neutras; é a nossa forma de prestar atenção que lhes confere nomes precisos e tão variáveis como os ventos: estranho, comum, vulgar, excecional, inocente, idiota, etc.

P — A estranheza também pode ser «absurdo»? E o «absurdo» pode ser a estranheza do mundo?
FP — O que há de absurdo na estranheza é, como agora se ouve dizer nas ruas de Portugal, o seu timing. Nunca se sabe muito bem quando somos surpreendidos por momentos de estranheza. Sem dúvida que o mundo às vezes se nos revela estranho, e isso dá ares de absurdo. A meu ver, o melhor da estranheza, ainda assim, não é isso: é o que podemos fazer a partir dela, em forma de interpretação e de novas descrições do que nos marcou. O absurdo provoca muitas vezes um entorpecimento da mente e é um bom lugar para se estar quando nos achamos intelectualmente preguiçosos e na verdade não nos apetece juntar nada às conversas em que todos falam de peito cheio. É importante que haja a noção do absurdo do que se fez comum, e é mais importante ainda espantar a atrofia do absurdo para pensarmos na vida, na arte, nas pessoas, como se tudo isto se nos aparecesse diante dos nossos olhos com uma certa frescura inaugural.
P — Devemos entender a estranheza como sinónimo de incomunicabilidade ou, pelo contrário, como circunstância propicia à comunicação?
FP — A estranheza, como eu a entendo, é uma espécie de convite às possibilidades da interpretação. Funciona, nesse sentido, como um movimento que tanto alerta para a possibilidade da incomunicabilidade como nos garante, ultrapassado o arrepio intelectual ou a confusão sensorial, que duas interpretações são sempre melhores do que uma. Com isto quero dizer que a estranheza é inevitável em certos casos, e que, ao invés de nos determos no seu lado sedutor, silenciado, quase místico, devemos vê-la como um momento propício à recriação das expectativas voltadas para o que somos e para as outras mentes. O mérito da estranheza é servir como reação criativa à possibilidade sempre intermitente de não compreendermos os outros e de não sermos compreendidos.
P — E de que maneira é que a estranheza nos causa uma «cegueira particular»?
FP — Quando, no livro, me refiro a uma «cegueira particular», estou a falar sobretudo de convicção. Acreditamos, a certa altura, que a nossa convicção, aquilo que a constitui, tem ou pode merecer um lugar no mundo, e assim acreditamos que essa convicção não tem motivos para corar no meio de outras que não são as nossas. Esta cegueira não diz respeito à doença da obsessão mas ao ponto de vista particular da convicção. A estranheza leva-nos a aprofundar os motivos das nossas convicções e a tentar descrevê‑las, seja em forma de arte ou num gesto que se estende a outra pessoa no sentido de compreendê-la e darmo-nos também a compreender.
P — De que forma pode a estranheza contribuir para o nosso «bem-estar»?
FP — O momento de estranheza torna-nos mais clara a verdade de que importamos, para nós e para os outros, e que as nossas intuições aguardam que lhes atribuamos a forma de convicções, passíveis de serem descritas. O bem-estar relaciona-se com o facto de não pensarmos que a nossa vida é, como o filósofo Galen Strawson diz, «uma maldita coisa a seguir à outra.» Isto relaciona-se com a ideia de cultura que atrás descrevi como o momento em que se para para pensar, para reavaliar as nossas convicções, as nossas expectativas e o reconhecimento das condições de manutenção da nossa consciência.
P — O filósofo italiano Mario Perniola a partir da leitura de Das Unheimliche, de Freud, diz‑nos que «a experiência mais afastada da identidade não é a absoluta estranheza, mas uma estranheza familiar, que mergulha as suas próprias raízes no nosso passado, que ao mesmo tempo é e não é ela própria». Isto significa que mesmo havendo familiaridade pode haver estranheza? Também estranhamos o «eu»?
FP — Sugiro no meu livro, por outras palavras, que não há nada passível de maior estranheza do que aquilo que nos constitui como pessoas. Espantarmo-nos ou acharmo‑nos perplexos com aquilo que somos num determinado momento é o movimento primordial da estranheza. Todos os momentos de estranheza confluem nessa espécie de regresso a casa. Como não ficarmos perplexos ou estranharmos as sucessivas mortes que nos foram compondo e descompondo ao longo da vida? O espanto que direcionamos a um nosso retrato envelhecido é da mesma família da estranheza que sentimos quando não nos conseguimos movimentar, a nível percetual ou intelectual, na pessoa que fomos noutros tempos. A estranheza do absolutamente desconhecido ou do inédito nas nossas vidas empalidece incrivelmente quando confrontada com a estranheza, essa muito mais interessante, do confronto súbito entre as memórias e expectativas do que fomos, e que deixámos pelo caminho ou substituímos entretanto por outras. Proust foi o autor que, a meu ver, mais e melhor escreveu sobre isso, nos volumes da Recherche.

P — Em Uma Aproximação à Estranheza aproxima a alteridade ao rumor. Quer explicar-nos melhor esta aproximação?
FP — No livro, falo do rumor do mundo, das vozes dos outros, precisamente em termos de rumor, isto é, uma sequência de barulhos não imediatamente identificável, anónima. Quando falo em alteridade, falo sobretudo na noção de outras mentes e no receio, muito bem explicitado por Stanley Cavell, de não nos conseguirmos dar a compreender e de não compreendermos os outros na mesma medida. A alteridade, que é uma questão inevitável na nossa existência, serve também como aviso para esses dois géneros de impossibilidade expressiva. A natureza reativa da estranheza, que suscita a apetência para a descrição e para a interpretação, é um modo salutar, a meu ver, de combatermos esse receio, que acaba por transformar o mero rumor do mundo em vozes audíveis e comunicativas.
P — E qual é a importância da estranheza na forma como olhamos os outros? Ou mesmo na forma com que atentamos a uma obra de arte?
FP — Muitas vezes, passamos a prestar atenção a pessoas e a obras de arte motivados por uma tentativa de resolver o que uma certa estranheza inicial, fruto de um primeiro encontro, nos provocou. Outras, é no contacto sucessivo e aturado com pessoas, com obras de arte ou com determinadas situações que a estranheza se revela de forma gradual, precisamente pelo atraso implícito na sua condição de interrupção momentânea da ordem natural das coisas.
P — Se a estranheza nos chega sempre em forma de pergunta, como explica no seu livro, a aproximação chega-nos sempre em forma de resposta?
FP — Sim, se tivermos jeito e alguma sorte; mas essa não será nunca a resposta, é só uma entre muitas possíveis. A pergunta é a perplexidade, a resposta é a tentativa de aquietar essa perplexidade, embora por vezes só faça por acicatá-la ainda mais: é o que se passa, por exemplo, com os ornitólogos e com os académicos.
P — Nos nossos dias, na nossa atualidade, que mais lhe tem causado estranheza? Porquê?
FP — Fazem-me espécie os horrores encobertos no nosso país, a literalidade mesquinha de um quotidiano voltado unicamente para a cegueira do ganha-pão e do «bola para a frente», o gesto empreendedor, a embrutecida utilidade que se sobrepõe a tudo. Quanto à estranheza, associo-a a coisas bem mais refrescantes, nobremente inúteis, e que se podiam passar em quaisquer latitudes e tempos dispersos da história: a estranheza salutar do comum, do quotidiano, das perplexidades no reconhecimento da individualidade, que é um trabalho para a vida. Como o são a poesia e a filosofia.
P — Recorreu a uma vasta bibliografia para escrever este livro. Há alguma obra ou autor que queira destacar?

FP — Stanley Cavell. É um grande autor e filósofo que muito merecia ser traduzido e editado por cá.
P — Pode-nos justificar a escolha de Stanley Cavell?
FP — Falo da abertura percetual implícita no seu modo de compreender a filosofia, a literatura e o cinema, que não faz alarde de uma multidisciplinaridade bacoca, sendo antes marcada pela mais genuína e descomprometida forma de curiosidade que me foi dada a conhecer nos últimos anos.
P — Nietzsche dizia que nos sentimos tão bem na natureza porque ela não nos julga e não nos obriga a artificializar comportamentos. Sentimos menos estranheza (do mundo, de nós, dos outros) quando nos aproximamos da natureza?
FP — O momento de estranheza resulta de um confronto entre memória e expectativas, de uma interferência súbita, por vezes inusitada e momentânea entre a consciência do que fomos no passado, do que achamos que somos no presente e do que esperamos do futuro, por muito microscópicas que sejam estas expectativas. Esta é a linguagem da intimidade, e a mesma não se prende a cenários, sejam urbanos ou bucólicos. Ainda assim, julgo que é difícil pensar bem quando se tem o coração aos saltos pelas piores razões. Lisboa faz-nos isto, nos tempos que correm, precisamente por essas piores razões. Falo de influências externas, e falo também no ínfimo círculo de literatos que ainda assim parecem povoar em peso a cidade. Acho que só faz bem andar afastado de todos os géneros de trânsito, isto porque o trânsito é uma força cega desprovida de nome e vontade própria, por muito que os que vão à frente digam que sabem o caminho.
P — Além de poeta, romancista, tradutor e ensaísta, sente também que é um filósofo?
FP — Nunca me passaria pela cabeça considerar-me filósofo no sentido profissional do termo. Gosto verdadeiramente de pensar em alguns assuntos do meu afeto. Aliás, nem é uma questão de gosto. É porque, de mim para mim, acho que é assim que deve ser. Mas se há algum gesto de natureza filosófica que possa revelar, prefiro pensar nele livre e dado aos caminhos batidos do quotidiano e da poesia que lhe vai servindo de atalho.

P — Dizia Diderot que a paixão destrói mais preconceitos do que a própria filosofia. O que acha da ideia?
FP — Se substituir a palavra «paixão» por «amor» estou absolutamente de acordo. A paixão é a imaturidade do amor em estado de euforia. O amor, aturado e atento como deve ser, é capaz de concentrar em si muitas versões interessantes do que tenho vindo a designar como estranheza. Também a filosofia dos poucos filósofos que ainda leio é uma forma de amor e de assídua estranheza. Stanley Cavell deixa-o implícito repetidas vezes na sua autobiografia, Little Did I Know.
P — Que projetos gostaria de concretizar num futuro próximo?
FP — Sobretudo viver com algum desafogo e tranquilidade, o que implica também levar a bom porto assuntos que ainda são apenas desavenças temporárias do pensamento e que aguardam a sua vez de serem passados a limpo no papel. De resto, esses assuntos piscam o olho à poesia, à filosofia e ao romance, mas a verdade é que por enquanto não se querem deter muito tempo em nenhuma destas companhias.
Junho 2017
Publicações Relacionadas
-

Pedro Marques Gomes
27 Outubro 2021
-

-

Patrick Gautrat
13 Fevereiro 2026
-

-

Publicações Relacionadas
-
Pedro Marques Gomes
Há 2 dias
-
Patrick Gautrat
Há 2 dias