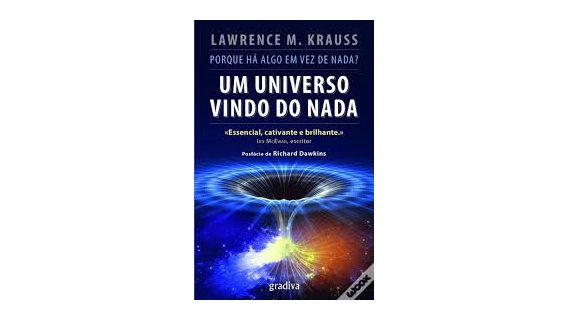Tenho muita sorte. Com o fecho das Quasi, chegou Lisboa. E, com ela, o Tejo.
Estar sentado no escritório e poder olhar o Mar da Palha é quase perfeito. E só tem o quase (a palavra que me tem perseguido a vida inteira), porque, tão a montante, os cargueiros e os cacilheiros não navegam. Há dias em que pego no carro e faço a Cintura do Porto de Lisboa só para poder ver os cargueiros no Tejo. Não conheço imagem mais bela.
Os cacilheiros, esses, já são outros. Posso tentar a sorte, mais junto a Algés, mas no Terreiro do Paço ou no Cais do Sodré já se não veem os velhos barcos laranja. Eu sei que, agora, o que desapareceu de estética apareceu em conforto. Mas escrever «catamarã no Tejo» é uma expressão que me torce. Não consigo. São cacilheiros para o século XXI, como já ouvi dizer. Mas eu tenho uma alma conservadora, quero lá saber do século XXI.
Por isso, na secretária está colocado, junto com meia dúzia de livros que escrevi e editei, com o do meu pai e com o Mortality do Hitchens, só mais um livro: O Rio Triste de Fernando Namora. A edição é a primeira – o que não quer dizer que seja rara, foram 5500 exemplares de tiragem em 1982. É da Bertrand, no layout com que se encontram nos alfarrábios a maior parte dos livros de Namora. Era do meu pai, que a guardava no meio da sua biblioteca muito Círculo de Leitores, como tantos professores na província há 40 anos – mas, tão importante como isto, tem um cacilheiro na capa.
 Li uma vez o livro nesta edição. Quando o quis reler, não o querendo estragar, comprei a nova edição da Caminho, cuja coleção o José Manuel Mendes tem promovido como pode e como não pode. Falta o cacilheiro mas tem o desenho do Rui Garrido e um papel equilibrado com a capa em plástico mate. É um livro que apetece ler, de tão bem feito. No entanto, surpreendem-me sempre as palavras de Mourão-Ferreira, no prefácio: se era para ter reservas facilmente confessáveis, mais valia não as ter confessado. Não percebo porque terá o editor da Europa-América decidido incluí-las na edição de 1992. Não que o romance seja um primor – Namora nunca foi primoroso, como sabemos – mas porque me custa a reserva quando um prefácio deve ser sem reservas.
Li uma vez o livro nesta edição. Quando o quis reler, não o querendo estragar, comprei a nova edição da Caminho, cuja coleção o José Manuel Mendes tem promovido como pode e como não pode. Falta o cacilheiro mas tem o desenho do Rui Garrido e um papel equilibrado com a capa em plástico mate. É um livro que apetece ler, de tão bem feito. No entanto, surpreendem-me sempre as palavras de Mourão-Ferreira, no prefácio: se era para ter reservas facilmente confessáveis, mais valia não as ter confessado. Não percebo porque terá o editor da Europa-América decidido incluí-las na edição de 1992. Não que o romance seja um primor – Namora nunca foi primoroso, como sabemos – mas porque me custa a reserva quando um prefácio deve ser sem reservas.
Namora foi, antes de tudo o que se tornou, um poeta. Primeiro livro do Novo Cancioneiro, muito celebrado sarcasticamente por Mário Cesariny pela sua «Cassilda». Diz-se que foi um escritor sobrevalorizado no seu tempo para aquilo que o tempo fez dele agora. Talvez. Não sei. Não vivi o tempo dele, pelo que me é difícil comparar. Sei que agora é com dificuldade que se edita – 500 exemplares, em vez dos 5500 da primeira edição (e mais umas quatro ou cinco entretanto) – e não o acho merecedor desse ostracismo. Então como poeta menos ainda. Não o acho o creme do creme (sem estrangeirismo, por favor, que aqui fala-se de cacilheiros e não catamarãs), mas acho-o um poeta interessante, que tem o seu lugar no neo-realismo português. Borges dizia (ou assim me lembro de ler ou que mo tenham dito) que todo o poeta medíocre tem um poema bom. Eu acho que só os poetas bons conseguem um verso que se salva. E o «Fazer das coisas fracas um poema» é um grande verso, escrito que foi em 1939. E quanto a Cassilda, que venha olhar o Tejo e o cacilheiro antigo do rio mais triste. E que, com isso, possa olhar também a gaivota que o acompanha.
O Rio Triste de Fernando Namora
A primeira edição, com uma tiragem de 5500 exemplares, foi publicada em outubro de 1982, com capa de José Cândido, nas oficinas gráficas da Livraria Bertrand, que o editou. A última (a décima primeira, depois de sete na Bertrand, duas no Círculo de Leitores e uma na Europa-América), com uma tiragem de 500 exemplares, foi impressa na Multitipo para a Caminho, com prefácio de David Mourão-Ferreira e posfácio de Fernando Batista e sobre a direção de José Manuel Mendes, em dezembro de 2016.