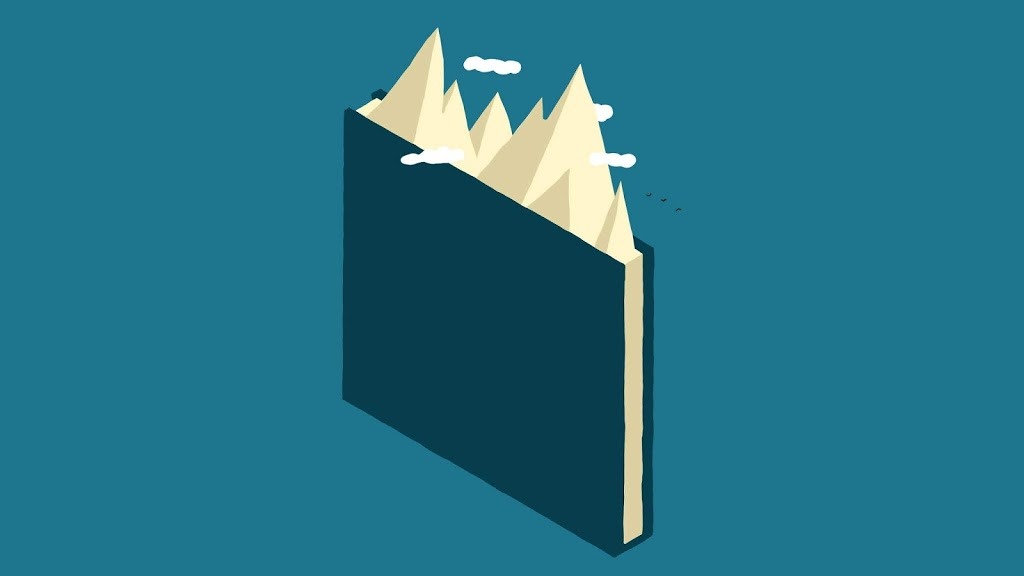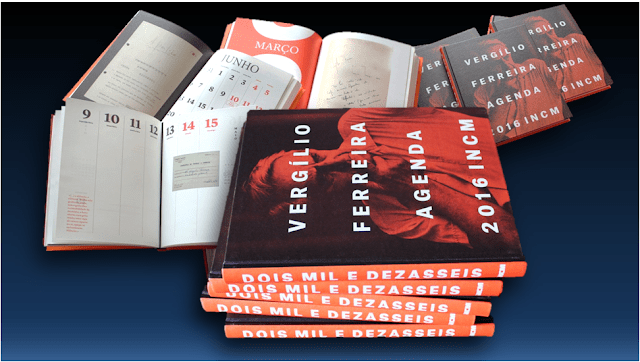Calendário
Eventos
01 Seg
01 Seg
Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”
Seg, Jun 30 -
13 Sex
«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências
Sex, Mai 13 -
Agenda
21 de março – Dia Mundial da Poesia
Publicado a 21 Mar, 2017 - 10:18